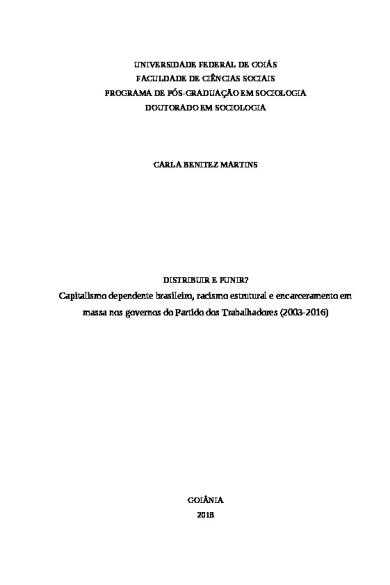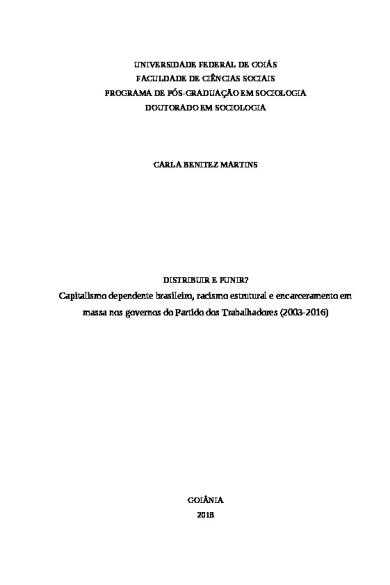* The preview only shows a few pages of manuals at random. You can get the complete content by filling out the form below.
Description
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA DOUTORADO EM SOCIOLOGIA
CARLA BENITEZ MARTINS
DISTRIBUIR E PUNIR?
Capitalismo dependente brasileiro, racismo estrutural e encarceramento em massa nos governos do Partido dos Trabalhadores (2003-2016)
GOIÂNIA 2018
CARLA BENITEZ MARTINS
DISTRIBUIR E PUNIR?
Capitalismo dependente brasileiro, racismo estrutural e encarceramento em massa nos governos do Partido dos Trabalhadores (2003-2016)
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia
da
Faculdade
de
Ciências
Sociais
da
Universidade Federal de Goiás, como exigência parcial para a obtenção do título de doutora em Sociologia. Orientador: Prof. Dr. Dijaci David de Oliveira
GOIÂNIA 2018
Dedico o trabalho a todas as Mães de Maio...as de Junho, as de Julho... A todas as mulheres que criam forças de suas entranhas de dor para seguirem a vida e lutarem por dias melhores aos seus.
6 AGRADECIMENTOS Em tempos de desesperança, cultivar a construção de um projeto de mundo mais gostoso de se viver, por meio de uma luta coletiva, bem como sentindo a nossa humanidade, no que ela tem de extraordinário e de frágil, no calor e no toque, nos conflitos e aprendizados, passa a ser vital. Ainda que tendencialmente solitário o processo da escrita de uma tese, pude costurá-lo envolto a muita movimentação e troca. E eu tenho tanto a agradecer! A tantas pessoas e a tantos projetos compartilhados! Às minhas amigas e amigos espalhados Brasil afora. Nomeio aqui Milena, Paula, Natalia, Ana Luiza, Mariana, Pilar, Ricardo, Marina, Daniela, representando as pessoas bonitas que cruzaram meu caminho nas passagens por Franca, Córdoba, Florianópolis e Caraguatatuba. Ainda dentre estes a se guardar no lado esquerdo... À Liliam, minha irmã de alma, parceira de todos os ciclos da vida, quem tanto me ensina sobre lutos e renascimentos, sobre intensidade com integridade no viver. À minha eterna República: Amanda, Ana Paula, Bárbara, Fernanda e Rita. Nos agradecimentos de meu TCC pude afirmar que eram exemplos de mulheres para mim. Lindamente posso repetir isso dez anos depois. Um agradecimento especial ao “núcleo São Paulo”, por ter florido a selva de pedras nestes dois anos por lá. Em especial à Bárbara, por ser símbolo de lealdade para mim e por, literal e simbolicamente, temperar minha vida com sabedorias e delícias. Ao André, pelo carinho e respeito cultivados nestes tantos anos que nos conhecemos e por ter sido um dos maiores incentivadores que tive na vida. Estendo a toda sua família, que tanto quero bem! Aos amigos que foram lar desde que Goiás se tornou território de morada: Carolina – com seus florais e todo cuidado amoroso –, Helga, André, Daniel, Ariel, Mariane, Larissa, Jacqueline. À Isabela, por ser, para mim, um sopro de esperança e ternura! Muito obrigada também pelo apoio imprescindível para que este trabalho pudesse ser lido como formalmente “acadêmico”. À Nathalia e Thais, cada uma, em diferentes fases, compartilharam, lindamente, o lar e a vida comigo – e com as minhas bagunças.
7 Agradeço a cada aluna e aluno que cruzou meu caminho nesta trajetória de ensinar e (muito mais) aprender na docência. Posso dizer que nossas trocas são fontes de prazer e inspiração para mim. Ao significativo aprendizado na construção do movimento docente com a Adcaj e o Andes/SN. Participar de um instrumento que, na contramão da história, aponta a ainda centralidade da mobilização e da luta para conquistas coletivas, parece-me um elemento imprescindível na disputa por uma universidade pulsante e dotada de sentido referenciado socialmente. Ao Coletivo Libertárias, pela boniteza e força da construção de um feminismo nascido nas contradições do conservadorismo local e fortalecido a partir da dor coletivizada pela despedida de sua inesquecível integrante Josiane Evangelista Pinto (presente, sempre!). À Universidade Federal de Jataí, pelas oportunidades de crescimento profissional e humano. Ao PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), instrumento necessário em tempos de barbárie permanente. À Organização política Insurgência. Em nome de Maiara Moreira, Evelin Fomin, Tássia Almeida, Isadora Penna, Luciana Araújo e Vanessa Koetz – com as quais pude cultivar bonitos vínculos de camaradagem e fraternidade e porque está comprovado que a revolução será feminina e feminista, ou não será! –, agradeço a todas e todos, em Goiás e São Paulo, pelo compartilhar de lutas e sonhos de um mundo outro, sem grilhões. Ao Wellington, pelo exemplo humano e militante e pela gentileza em ceder suas fotos a este trabalho. Soando-me como esperança de que este trabalho possa ganhar algum sentido de partilha e contribuição coletiva. Ao IPDMS (Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais), por todos estes anos de busca por concretizar o desafio de articular pesquisadores-militantes e fortalecer o campo crítico e de resistência no Direito Em especial ao GT de Criminologia Crítica, em nome de Marília, Homero, Diogo e Marco e à Secretaria Nacional: Ana Lia, Luiz Otávio, Mara e Moisés, pela construção diária de solidariedade militante e abertura política ao diálogo e à diferença. À Turma “Frei Henry”, turma de direito da Terra na UNIFESSPA/Marabá. Um marco no encerramento desta jornada de escrita da tese. Eles já tremem o direito e chacoalham o meu coração junto!
8 Ainda que só possam compreender meus olhares e tom de voz, não poderia deixar de fora a lembrança de Pequi e Cora, meus companheiros felinos desde os primeiros dias em Goiás. À Marileide e Nilsa, por todo apoio a mim e a toda família e pelo compartilhamento do cotidiano no último período. À Sueli, pelo apoio profissional marcante e fundamental. Ao meu orientador Dijaci David de Oliveira, pelas boas trocas, pela confiança nos meus passos e pela garantia de autonomia intelectual. Aos colegas do Programa de Pós-Graduação em Sociologia pelas trocas nas disciplinas, em especial ao querido, gentil e paciente amigo Óscar. À Universidade Federal de Goiás e ao Programa de Pós-Graduação, por todo o apoio institucional. Ao Gustavo, por ser a pessoa capaz de mais me fazer rir e mais me emocionar em todo o mundo! Por todos os cafés e travesseiros, reuniões e bibliotecas e tantas estradas juntos. Pela
química
que
criamos
de
transformar
duas
vidas-a-mil
em
um
profundo
compartilhamento. Pelo apoio direto na conclusão desta tese. E pela inspiração que me gera, diariamente. Mercí! Estendo o agradecimento à sua linda e tão acolhedora família e a seus amigos, que já são tão meus (turma de Lavras & região, especialmente). À minha família, aos mais maduros e aos novos, tão novos que nasceram enquanto estas linhas eram escritas. Pelo amor incondicional, pelo exemplo de humanidade, pela paciência histórica e a disposição de compreensão das nossas diferenças. Em especial ao meu pai Luiz Carlos e minha mãe Margareth, por serem ninho e referências para mim.
9
Não, Nós nos negamos a acreditar que um corpo tombe vazio E se desfaça no espaço Feito poeira ou fumaça Adentrando-se no nada dos nadas, nadificando-se. Por isso, na solidão desse banzo antigo, Rememorador de todas e de todos, Os que de nós já se foram, é no espaço de nossa dor, que desenhamos a sua luz-mulher-Marielle Francoe as pontas de sua estrela enfeitarão os dias que ainda nos aguardam e cruzarão com as pontas das pontas de outras estrelas, habitantes que nos guiam, iluminando-nos e nos fortalecendo na constelação de nossas saudades De Conceição Evaristo, para Marielle Franco Conceição Evaristo
10 RESUMO Partindo de uma leitura histórico-estrutural da função do controle penal nas diferentes etapas de acumulação no capitalismo e de reflexões já consolidadas acerca da economia política da pena, a presente tese busca apontar as insuficiências generalizantes das explicações teóricas formuladas desde o ponto de vista dos países centrais da ordem capitalista. Voltando-se às definições das distintas atribuições e formas do sistema penal em cada momento de seu desenvolvimento – classificadas como do período da “sociedade disciplinar” ao da “sociedade do controle” –, intenta-se debruçar sobre a realidade brasileira atentando-se às suas particularidades periférica e dependente, visando formular análise calcada nas especificidades tecidas nas perenizações coloniais a forjarem uma “nação fraturada”, que transpõe o escravismo através da conjunção do arcaico/moderno em um capitalismo patriarcal e racista sui generis: o capitalismo dependente brasileiro. Estas permanências serão focalizadas no período contemporâneo, especificamente entre os anos de 2003 e 2016, período no qual a gestão executiva federal foi protagonizada pelo Partido dos Trabalhadores, em que se verificou a implementação de um projeto político-econômico de matiz social-liberal. A intenção desta análise é, assim, reunir condições de compreender a onda punitiva contemporânea brasileira, a partir do incomparável fenômeno de seu encarceramento em massa coincidente com este período histórico. Palavras-chaves: Economia política da pena; racismo estrutural; capitalismo dependente brasileiro; encarceramento em massa; Partido dos Trabalhadores.
11 RESUMEN Desde una lectura histórico-estructural de la función del control penal en las distintas etapas de acumulación en el capitalismo y de reflexiones ya consolidadas acerca de la economía política de la pena, la presente tesis busca apuntar las insuficiencias generalizantes de las explicaciones teóricas formuladas desde el punto de vista de los países centrales del orden capitalista. Volviendo a las definiciones de las distintas atribuciones y formas del sistema penal en cada momento de su desarrollo - clasificadas como del período de la "sociedad disciplinaria" al de la "sociedad del control" -, se intenta abordar la realidad brasileña atentándose sus particularidades periféricas y dependientes, con el objetivo de formular análisis calcados en las especificidades tejidas en las perennizaciones coloniales a forjar una "nación fracturada", que transpone el esclavismo a través de la conjunción del arcaico / moderno en un capitalismo patriarcal y racista con especificidad: el capitalismo dependiente brasileño. Estas permanencias se centrarán en el período contemporáneo, específicamente entre los años 2003 y 2016, período en el que la gestión ejecutiva federal fue protagonizada por el Partido de los Trabajadores, en la que se verificó la implementación de un proyecto político-económico de matiz social-liberal. La intención de este análisis es, así, reunir condiciones de comprender la ola punitiva contemporánea brasileña, a partir del incomparable fenómeno de su encarcelamiento masivo coincidente con este período histórico. Palabras claves: Economía política de la pena; racismo estructural; el capitalismo dependiente brasileño; encarcelamiento en masa; Partido de los Trabajadores.
12 ABSTRACT Starting from a historical-structural reading of the function of criminal control in the different stages of capitalist accumulation and from the consolidated reflections about the political economy of punishment, the present thesis seeks to point out the inadequacies of the explanations formulated from the point of view of the central countries of the capitalist order. Analyzing the definitions of the different attributions and forms of the criminal system at each moment of its development - classified as from the period of the "disciplinary society" to that of the "control society" -, we try to look at the Brazilian reality by its peripheral and dependent particularities, aiming to formulate an analysis based on the specificities of colonial remnants to forge a "fractured nation", which transposes slavery through the conjunction of the archaic / modern in a patriarchal and racist sui generis capitalism: the Brazilian dependent capitalism. These remnants will be focused from the contemporary period, specifically between the years 2003 and 2016, during which the federal executive management was led by the Partido dos Trabalhadores, in which the implementation of a social-liberal politicaleconomic project was verified. The intention of this analysis, so, is to gather conditions to understand the contemporary Brazilian punitive wave, from the incomparable phenomenon of its mass incarceration coinciding with this historical period. Key-words: Political economy of the punishment; structural racism; Brazilian dependent capitalism; mass incarceration; Partido dos Trabalhadores.
13 LISTA DE ILUSTRAÇÕES Foto 1 - Ensaio de Wellington Amorim. Fotos de Janssen Cardoso para o Projeto Other Colors, 2018 - p. 182 Foto 2 - Ensaio de Wellington Amorim. Fotos de Janssen Cardoso para o Projeto Other Colors, 2018 - p. 183 Foto 3 - Ensaio de Wellington Amorim. Fotos de Janssen Cardoso para o Projeto Other Colors, 2018 - p. 184 Foto 4 - Ensaio de Wellington Amorim. Fotos de Janssen Cardoso para o Projeto Other Colors, 2018 - p. 185 Foto 5 - Ensaio de Wellington Amorim. Fotos de Janssen Cardoso para o Projeto Other Colors, 2018 - p. 186
14 SUMÁRIO INTRODUÇÃO........................................................................................................................17 1 COSTURAS DE UMA ANÁLISE HISTÓRICO-ESTRUTURAL DO CONTROLE PENAL NO CAPITALISMO...................................................................................................25 1.1
É possível uma análise histórico estrutural do controle penal no capitalismo?.........25 1.1.1 Indagações sobre o nosso objeto........................................................................28 1.1.2 A ordem sociometabólica do capital, suas mediações de segunda ordem e o controle penal..............................................................................................................34 1.1.3 A consolidação do capitalismo e o surgimento da prisão: as primeiras ideias de uma economia política da pena...................................................................................36
1.2 Debates sobre as mutações do capitalismo contemporâneo e as novas características do controle penal...............................................................................................43 1.2.1 A consolidação da grande indústria e o controle penal ampliado das prisões para a cidade………. ……………………………………………………………………..43 1.2.2. O que muda e o que permanece nessa nova etapa de acumulação do capitalismo, especialmente no que tange ao controle sócio-penal?…………………49 1.2.3. Sociedade do controle ou (des)controle social do capital? Algumas reflexões sobre a nova etapa de acumulação e seu novos mecanismos de controle...................54 1.2.4 O Estado Centauro de Wacquant, a situação de insegurança social e as suas e as nossas divergências teóricas.......................................................................................63 1.2.5 Nossa síntese (em construção): o controle penal como carro-chefe do estado de barbárie do capitalismo contemporâneo.....................................................................73 1.3 O controle penal e as suas especificidades históricas desde a quarta parte do mundo…...................................................................................................................................78 2 A HISTÓRIA BRASILEIRA DESDE OLHARES À CONSTITUIÇÃO RACISTA DO SEU SISTEMA PENAL...........................................................................................................83 2.1 Contextualizações iniciais..............................................................................................84 2.2 É sobre um estupro civilizatório. Caracterizações sobre as marcas dos primeiros tempos de colonização......................................................................................................................88 2.3 Brasil: celeiro escravista do mundo! Sobre o apogeu deste modelo econômico e social.. ....................................................................................................................................98 2.4 Sistema penal com vocação de extermínio: ato 1..........................................................99 2.5 A independência brasileira como marco neocolonizador............................................100 2.6 Sistema penal com vocação de extermínio – ato 2......................................................103 2.7 Fundamentos econômicos e políticos da política de branqueamento no país – a crise do escravismo..........................................................................................................................105 2.8 As resistências, as falsas bandeiras e os desafios da negritude....................................106
15 2.9 Café, assalariamento branco e exclusão negra.............................................................108 2.10 O sistema penal com vocação de extermínio: ato 3...................................................110 2.11 Do escravismo tardio à modernização dependente: das ausências de rupturas e aprofundamento do caráter genocida do Estado................................................................113 2.12 Capitalismo dependente e questão racial no Brasil....................................................132 2.13 Raça determina classe, classe determina raça............................................................139 2.14 “Era uma vez um país com destino autônomo...”: o acachapante impacto das mudanças globais da década de 1970 no Brasil.................................................................141 2.15 Austeridade e conquistas de direitos: os desafios das lutas por reconhecimento em tempos de crise estrutural do capital..................................................................................146 2.16 Principais impactos da política social-liberal dos governos petistas entre 2003-2016.... ..................................................................................................................................156 2.17 Introdução ao ato 5 – considerações metodológicas e iniciais sobre a caracterização do sistema penal brasileiro no período histórico analisado.....................................................169 3 O TSUNAMI ENCARCERADOR: ANÁLISE DOS ELEMENTOS DETERMINANTES DA ONDA PUNITIVA BRASILEIRA (2003-2016).............................................................187 3.1 A marola progressista latino-americana e sua relação com o encarceramento............191 3.2 Elementos para captação das tendências da política criminal brasileira no período estudado..............................................................................................................................192 3.3 Política de segurança pública: qual a parte que cabe ao executivo federal neste latifúndio?..........................................................................................................................195 3.3.1 O impacto do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) inserido em uma dúbia construção da política de segurança pública199 3.3.2 Quando o inconciliável desponta: elementos explicativos do definhamento do PRONASCI...............................................................................................................212 3.3.3 Quando a balança pesa mais ao lado dos interesses do capital: os governos Dilma Roussef e as tendências da política de segurança pública.............................219 3.4 Em alto mar não se percebia, mas era um tsunami: análise dos elementos determinantes do contexto criminalizador do período estudado.............................................227 3.4.1 Primeira digressão: o impacto político-criminal da Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/90)...........................................................................................................230 3.4.2 Segunda digressão: o impacto político-criminal da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95)..........................................................................................236 3.4.3 Breves apontamentos sobre o impacto do Estatuto do Desrmamento (Lei 10.826/2003) e as reações sociais ao mesmo: desafios de uma pauta de segurança contra-tendencial.......................................................................................................244 3.4.4 A Lei Maria da Penha enquanto reação feminista à banalização da Justiça no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher e seus impactos na política criminal.....................................................................................................................246 3.4.5 A Lei de Drogas (11.343/2006) em sua contextualização histórica e conjuntural ..……………………………………………………………………….264
16 3.4.6 Reflexões criminológicas críticas e feministas do aumento do encarceramento de mulheres, especialmente por tráfico de drogas, no Brasil...................................281 3.4.7 A Nova Lei de Medidas Cautelares no Processo Penal (Lei 12403/2011): singelos avanços legais e nenhum material/real: como explicar?.............................301 3.4.8 Lei de Organizações criminosas (12.850/2013)..............................................304 3.4.9 As mudanças legais e a sofisticação do processo de criminalização dos movimentos sociais...................................................................................................309 3.4.10 A última gota desta enxurrada: a Lei AntiTerrorismo (13.260/2016) e interpretações sobre seus possíveis impactos na realidade político-criminal brasileira. ..................................................................................................................................313 3.4.11 A Operação Lava Jato enquanto expressão da tendência expansionista penal ..................................................................................................................................317 3.4.12 A grande onda já nos encharcou. E agora?....................................................324 DO RIO QUE TUDO ARRASTA E DAS MARGENS QUE O COMPRIMEM: CONSIDERAÇÕES FINAIS DO TRABALHO....................................................................326 REFERÊNCIAS......................................................................................................................330 ANEXO 1................................................................................................................................344
17 INTRODUÇÃO
Da história instrumental dos que são feridos por alguma injustiça remota, qualquer que seja a retórica, os inocentes serão julgados pelo marco de um parágrafo escrito em tinta preta sobre um papel perverso que destila o ódio em suaves prestações. À espera de um grito que cure o ressentimento do mundo ou mesmo ressalte o caráter transitório da ideologia: Pátria partida e nenhum elo que a una novamente. Uma mulher é silenciada no país da escravidão. Fernanda Fatureto
“Uma mulher foi silenciada no país da escravidão”. A memória de Marielle Franco se tornou baluarte deste trabalho. Ela se torna sentido. Sua execução é mais uma grossa gota do sangue histórico que escorre por nossas terras e deve nos servir como nítida demonstração de que vivemos sob um Estado estruturalmente genocida de sua população originária e negra. Pensamos que sua execução significou a fratura exposta do nível barbarizante de nossa realidade. Um país de maioria negra administrada, legislada e julgada, majoritariamente, por uma minoria branca. Esta é uma fotografia do que significa um estado constitutivamente autocrático. O país que dizimou por dor física, por morte matada ou por tristeza sua população originária. O país que mais sequestrou pessoas africanas em todo o mundo e que por mais tempo as escravizou. E, para justificar as relações sociais escravistas, apenas retirando a humanidade dos hiperexplorados/apropriados, especialmente a da mulher, explorada no corpo e apropriada nas entranhas do seu mais íntimo. Não conseguiram, houve quilombagem. A resistência se deu pelo subterrâneo. Apesar dela, de golpe em golpe, foi contada a nossa história – fraturada e preservadamente colonial. Transicionamos da escravidão ao capitalismo dependente. Como? Por uma política deliberada de branqueamento populacional, forma sutil de denominar a prática genocida do estado brasileiro.
18 E foi deste modo a estreia do país na dita modernização, desde um pacto entre setores mais arcaicos e mais modernos. Uma deliberada combinação de privilégios e opressão que se manteve praticamente intacta com o passar dos ciclos históricos. Marielle Franco era sim um corpo destoante na Câmara Municipal. O corpo daquela maioria que foi alijada dos espaços de poder. Mais do que isso, seu posicionamento no mundo e a voz daquelas e daqueles que evocava era uma afronta à autocracia. Por aqui, qualquer possibilidade mínima de democratização é capaz de gerar hecatombes por parte daqueles que sempre tiveram o doce inteiro para seu exclusivo desfrute. Marielle era filha da favela da Maré e tinha, dentre suas tantas defesas, a missão de combater a militarização das vidas das Marielles e dos seus. A vereadora denunciava os impactos da política criminal “com derramamento de sangue” na realidade do Rio de Janeiro, mexendo em um perigoso vespeiro. Sua execução, ainda em processo de investigação, foi o recado mais perturbador de que não se pode ousar questionar a tríade exploração-opressãodominação em terras brasileiras. Invocamos a sua memória e o significado de seu assassinato como primeiras palavras desta tese por entender que simboliza o dia seguinte do período histórico analisado. Ainda que soe como uma introdução-manifesto, optamos por iniciar tratando da atual ainda mais perceptível aceleração da reversão neocolonial brasileira. Ao elaborar o projeto de pesquisa que embasou esta tese, nos idos de 2014, a hipótese ainda era um tanto controvertida, mas depois de pouco tempo se tornou quase uma obviedade. Mais do que isso, o cenário se recrudesceu em um ritmo inimaginável. A busca pela compreensão da ausência de rupturas de sentido histórico no período estudado (2003-2016) se tornou mais necessária ainda quando dali fomos arremessados ao abismo. O nosso trabalho contextualiza as especificidades do controle penal na realidade do capitalismo dependente brasileiro, buscando entender seu histórico constitutivo para, desde a linha analítica diretriz de que os pilares da dependência não sofreram instabilidades mesmo no decorrer dos governos petistas, analisar os elementos explicativos desta afirmação desde o campo da política criminal, por meio da interpretação do que nos parece constituir os elementos de fundo a explicar o encarceramento massivo no decorrer do período estudado, entre 2003 e 2016. Durante a tese desenvolvemos os elementos que nos guiavam à percepção de que, apesar da ausência de rupturas, havia modulação de velocidades. O golpe jurídico-midiáticoparlamentar de 2016, que derrubou a presidenta legitimamente eleita Dilma Rousseff, acelerou a barbárie em ritmo recorde. De modo que se retrocedeu em direitos em proporções
19 como havíamos experimentado por último apenas em 1964, com os ataques mais frontais à classe trabalhadora – sendo a Emenda Constitucional n.º 95, de 2016, que alterou a Constituição
brasileira
de
1988,
instituindo
o
Novo
Regime
Fiscal
ou
o “Teto dos Gastos Públicos” e a (contra) reforma trabalhista os principais exemplos –, com as tentativas articuladas de controle violento da autonomia do corpo das mulheres, com o desmonte das políticas de cultura e de promoção de igualdade racial, diversidade sexual e gênero, todas coroadas com a decisão pela intervenção federal militarizada no Rio de Janeiro, antecedida pela decisão de transferir o julgamento de homicídios cometidos por militares durante ações de segurança para a Justiça Militar. Com tudo isso queremos apontar que o que definimos como “direito penal de emergência” na tese, desenhado em território de constituição genuinamente de extermínio de seu sistema penal, ganha contornos cada vez mais indisfarçáveis. E, por isso, buscar desvendar cientificamente os motivos da sua perpetuação e aprofundamento diante de uma aparente chance histórica de alteração deste padrão é da máxima importância. Prendemos muito em quantidade absoluta de pessoas e prendemos mais que todos os países em velocidade. Em 2014, matamos mais que em zonas de guerras declaradas, como Iraque, Afeganistão e Sudão (PELLEGRINI, 2014). O pavio de nosso sistema penitenciário é curto e este entrou em combustão nos primeiros dias do ano de 2017, com mais mortos contabilizados do que a Chacina do Carandiru, em unidades em diferentes localidades do país. O problema desta pesquisa, não no sentido metodológico do termo, mas concreto, está mais do que dado. Nu, cru, saltitante e devastador diante de nós. Apreender o fenômeno do gigantismo penal nesta última temporada exige de nós um exercício intelectivo. Isso significa, metodologicamente falando, que nos esforçamos por realizar uma reprodução ideal do movimento do objeto real, imprimindo um olhar materialista, histórico e dialético. A tentativa ao longo do trabalho é de se apropriar de um método científico para apreender o movimento do objeto, indo além de sua aparência. O conhecimento científico parte do fato, da empiria, do sensível. O empírico é fundamental, porém não revela em si sua complexidade e, por isso, é preciso negá-lo, ou seja, “reproduzi-lo mentalmente como coisa concreta” (MARX, 2008, p. 259). Negar o fato empírico significa reproduzi-lo intelectivamente, investigando suas múltiplas determinações, pois a realidade social é um complexo de complexos. A pesquisa tem que se apoderar da matéria, em seus pormenores, analisar suas formas de desenvolvimento e perquirir a conexão íntima que há entre elas. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode descrever, adequadamente, o movimento real (MARX, 2008, p.
20 28). Seria somente por esse exercício de abstração no ato de conhecimento do real que se abandona a aparência, pois “não existe construção ou reconstrução factual, mas um encadeamento de resultados da pesquisa e da análise, de modo a reconstituir em seu conjunto o movimento (a história) da coisa” (LEFEBVRE, 2009, p. 34). Este é o exercício intelectual que pretendemos realizar em nossa vida acadêmica e que tem neste trabalho uma sua parte, importante por óbvio, mas ciente de ser ainda um exercício aprendiz de idas e vindas ao concreto. O hiperencarceramento não é uma realidade exclusivamente brasileira e se mostra ser um fenômeno com tendências globais, ainda que o país seja exemplar na questão. Assim, como captar as várias camadas que compõem este fenômeno? O nosso movimento ao longo deste trabalho será de análise de diferentes âmbitos – determinações que fomos compreendendo como fundamentais para a compreensão do fenômeno – que se retroalimentam. Podemos dizer que a amálgama de nossa reflexão é a tentativa de analisar o encarceramento no século XXI e sua realidade brasileira a partir de um olhar históricoestrutural do papel do controle penal em cada etapa de acumulação do capital. Este é o árduo exercício que pretendemos realizar no primeiro capítulo deste trabalho. Para tanto, sustentamos nossas reflexões desde um resgate dos primeiros autores que trataram da “economia política da pena”, questionando o que, até onde e se este método de compreensão do fenômeno se aplica diante da função político-econômica do sistema penal hoje. Isso significou dialogar com importantes intelectuais contemporâneos que interpretam, de diferentes maneiras, a transição no processo de produção e, consequentemente, na forma de subsunção do trabalho ao capital; a transição nas funções desempenhadas pelo Estado e seu papel de controle; e, por fim, a função e a operacionalidade do controle penal nesta etapa do capitalismo. Este estudo foi permeado por duas importantes balizas: a fuga de uma leitura economicista e, portanto, mecanicista da realidade social, que afaste as complexas mediações da ordem sociometabólica do capital; e a firme necessidade de compreender estas mudanças desde a “quarta parte do mundo”1, desde o olhar e a realidade do “colonizado”, do periférico. Isso significa retomarmos a reflexão acima acerca de como buscamos captar o movimento do real. De antemão afirmamos que não compartilhamos de análises de 1 Dussel (1993) apresenta, com ironia, qual foi o espanto dos europeus ao descobrirem, na chegada à América, que não era a Índia, que existia uma quarta parte do mundo, não prevista, calculada ou desenhada por eles até então.
21 particularidades individuais, mas sim da tentativa de desvendar os complexos a compor o complexo. Do mesmo modo, resistimos, logo ao início do seu desenvolvimento, a uma análise mecanicista e eurocêntrica de uma ideia de totalidade, que conceba homogeneamente as relações sociais (desconsiderando a dualidade capitalismo global-colonial) ou que atribua ênfase apenas à dimensão do trabalho, sem que se perceba sua imbricação necessária com o patriarcado e a desigualdade racial ou, como desenvolvemos no primeiro capítulo, que ignore a codeterminação das relações sociais de gênero, classe, raça e sexualidade na sustentação do sociometabolismo do capital. Compartilhando da perspectiva de Aníbal Quijano (2000, p. 354), se não é de particularidades atomizadas que o real se sustenta, também não é de uma suposta totalidade homogênea. Caberia a nós um entendimento semelhante ao que o autor denomina como totalidade heterogênea, combinadamente desigual, dinâmica e ambivalente: Una totalidad histórico-social es un campo de relaciones sociales estructurado por la articulación heterogénea y discontinua de diversos ámbitos de existencia social, cada uno de ellos a su vez estructurados con elementos históricamente heterogéneos discontinuo en el tiempo, conflictivos. Eso quiere decir que las partes en un campo de relaciones del poder societal no són sólo partes. Lo son respecto del conjunto del campo, de la totalidad que éste constituye. En consecuencia, se mueven en general dentro de la orientación general del conjunto. Pero no lo son en su relación separada con cada una de las otras. Y sobre todo cada una de ellas es una unidad total en su propia configuración, porque igualmente tiene una constitución históricamente heterogénea. Cada elemento de una totalidad histórica es una particularidad, incluso, eventualmente, una singularidad. Todos ellos se mueven dentro de la tendencia general del conjunto, pero tienen o pueden tener una autonomía relativa y que puede ser, o llegar a ser, eventualmente, conflictiva con la del conjunto.
Enrique Dussel (1993) desconstrói a ideia da modernidade como um fenômeno europeu, demonstrando como ela só se constrói em relação dialética com o não-europeu. Para o autor, a Europa só se constitui como centro ao encontrar uma periferia. Esse encontro da periferia se faz por meio da violência, desde a primeira, do encontro biológico (trazendo doenças da “civilização”), até um domínio tecnológico (por meio de instrumentos de guerras capazes de provocar etnocídios) e uma dominação erótica, pedagógica, cultural, política e econômica. Em outras palavras, o autor demonstra como a Modernidade só se constitui pela formação de seu ego ou da sua subjetividade moderna, que se realiza justamente na negação violenta da subjetividade distinta. A perspectiva eurocêntrica tende a a-historicizar as estruturas, a partir do momento em que não se reconhece que há, necessariamente, uma articulação estrutural entre elementos específicos e variados historicamente, em regiões e momentos históricos distintos. Deste modo, não seria possível pensar o capitalismo global sem que se enxergue seu aspecto periférico, dependente, em sua conformação constantemente desigual e combinada.
22 Por tudo isso, no primeiro capítulo buscaremos resgatar elementos da economia política da pena, porém os atualizando desde um debate que escape da relação literal de cárcere-fábrica e se paute na análise do papel do controle penal em tempos de crise de dominação do capital e alcance de seus limites absolutos. Lançamos dúvidas sobre algumas explicações mais do que cristalizadas no campo criminológico crítico. Primeiro acerca da superação paradigmática de uma função disciplinar para uma de controle e gestão dos riscos nas instituições “totais”, em nosso caso especialmente tratando do sistema penal. Depois, daquilo que nos soa uma extensão acrítica para realidades como a brasileira, de um esgotamento do welfarismo penal a partir da década de setenta e a transição brusca para a consolidação de um Estado Penal neoliberal. Como atenta Vera Malaguti Batista (2003, p.53), “em nossa região, o sistema penal adquire características genocidas de contenção, diferentes das características ‘disciplinadoras’ dos países centrais”, desde sempre. Não há rupturas paradigmáticas de modelos de controle penal desde a margem, o hibridismo entre autoritarismo, disciplina e pura neutralização compõe o sistema penal latino-americano desde sua gênese. O que, nem de perto, significaria para nós a negação do esforço de entendimento de um fenômeno com porte global. A constituição da função disciplinar e sua transição paradigmática na realidade europeia e estadunidense impactou e impacta a realidade daqui. Apenas se trata de perceber as nossas especificidades. Este exercício da assunção heterogênea da reprodução e expansão do capital e os papeis exercidos pelo controle penal será desenvolvido com mais vigor a partir do segundo capítulo. A hipótese central do nosso trabalho se constitui na decifração do aparente paradoxo de que teríamos presenciado os mais altos índices de encarceramento, acompanhados de uma política criminal recrudescedora, justamente durante os anos que o país teria sido governado por uma gestão progressista. Interrogamos o caráter de um desenvolvimento que aparenta conciliar distribuição de renda com repressão/punição penal – Distribuir e punir? - e desenvolvemos a noção de que se tratou de um desenvolvimento conservador, uma governança social-liberal, com toques de neodesenvolvimentismo, que conduziu a máquina neoliberal no país e que foi acompanhado, assim, de uma agudização do processo de criminalização da pobreza, sendo o grande encarceramento um importante sustentáculo desse processo criminalizante. Para isso, no segundo capítulo resgatamos os elementos estruturais e estruturantes da formação social, política e econômica brasileira, com o olhar mais atento à história das
23 instituições penais e as ideias que as legitimam no Brasil, para responder à indagação acerca das funções políticas e econômicas e as características do controle penal brasileiro contemporaneamente. Sem pretender generalizar, mas compartilhando uma impressão, o processo de escrita de tese no período contemporâneo, de aceleração do tempo e instantaneísmos, pode significar uma abertura de perspectivas, mais do que de consolidações, ao menos no campo do estudo das relações sociais. Para nós, o desenvolvimento do segundo capítulo foi o desvelar concreto da necessária racialização de nossos estudos. Pudemos nos perceber como aqueles que tratavam do racismo como qualitativo do sistema penal apenas como consequência perceptível de sua seletividade (há predominância de pessoas negras no cárcere, em maior proporção do que sua presença na sociedade como um todo) e não como estruturante do sistema penal, racionalidade de extermínio, instrumento-chave de controle social na ordem capitalista dependente. Consideramos como uma guinada reveladora de nossas elaborações teóricas desde então, refletidas em nossa intervenção na realidade. Torna-se elemento fulcral de compreensão da realidade brasileira e, mais detidamente, da estruturação de seu sistema penal. Mesmo com a constatação da obrigatoriedade científica e ética de qualquer intelectual sério racializar e interseccionar o seu olhar, nunca deixou de ser objeto de muito cuidado de nossa parte, buscando encontrar o sentido do lugar de fala desde a branquitude a ser desconstruída. E assumimos, humildemente, de antemão, qualquer deslize ou destempero. O derradeiro capítulo analisa, pormenorizadamente, após fincadas as estacas de nosso constructo teórico de interpretação da realidade, os elementos que podem ser entendidos como os principais para a caracterização do tsunami punitivo brasileiro atual, divididos em dois grandes eixos de análise: o primeiro acerca das ações mais diretamente vinculadas ao protagonismo do executivo federal na condução da política criminal, mais ainda no que tange às mudanças de centralização para condução da política de segurança pública no país; o segundo mais relacionado aos efeitos materiais dos processos inchados de criminalização primária no período em análise. Isso tudo para, ao final, poder realizar um balanço da política criminal de um governo social-liberal com aspectos neodesenvolvimentistas em uma realidade dependente como a brasileira. Desvendando os limites de uma política criminal inicialmente dualista em suas propostas e progressivamente sustentadora de uma perspectiva emergencial e eficientista.
24 Por derradeiro, rompendo novamente com o protocolar – e correndo mais um risco – tomo, brevemente, o primeiro do singular para afirmar que introduzo, nas poucas linhas abaixo, um desabafo, uma contextualização ou uma simples escusa. A escrita desta tese foi predominantemente linear, no sentido de ter seguido o caminho cronológico destes três grandes blocos. A cada etapa, janelas escancaradas para observar horizontes a serem conhecidos mais daqui em diante. Na última, algumas dolorosas percepções. Desde quando era apenas um projeto, desde o primeiro ano de feitura de disciplinas e aperfeiçoamento da proposta apresentada no momento da seleção, muito me foi alertado a respeito da instiga do tema, porém de sua nítida amplitude. Incluo tais palavras nos últimos dias de escrita, ainda plenamente convencida da importância de pesquisas de longo alcance, de grandes fluxos ou de balanços históricos, como quisermos denominar. Penso serem exercícios fundamentais, mesmo em tempos de aceleração da vida, como é o nosso vivido. Porém, hoje, a caminho de encerrar as derradeiras linhas no último bloco, reconheço o desgaste emocional que pode significar ter a pretensão de analisar – buscando sempre a sua realização distanciada da superficialidade – os principais elementos determinantes da onda punitiva brasileira em um período complexo como este por mim definido. A onda se tornou um tsunami e por pouco as pernas não fraquejaram para correr a me salvar. A onda era sim grandiosa, mas também, um tanto, por não conseguir admitir a mim mesma que o trabalho se propõe a realizar um balanço criminológico crítico de um período histórico brasileiro e, por consequência, apresenta-se enquanto panorama. Pois eis aqui uma mulher moderna, doente de modernidade – ainda que subjetivamente comprometida com a construção do novo. Sofri com cada forçada aceitação da própria moldura do quadro que me propus a desenvolver e, seguindo bons conselhos, optei por dizer à leitora ou ao leitor que eram estas as intenções que pulsavam nas linhas que seguem, ainda que esteja ciente de que agora o trabalho se tornou peixe neste grande mar. “Uma mulher foi silenciada no país da escravidão”. Que, através desta memória, possamos construir a reflexão que segue como contribuição ao desvendamento desta complexa teia social.
25 1 COSTURAS DE UMA ANÁLISE HISTÓRICO-ESTRUTURAL DO CONTROLE PENAL NO CAPITALISMO
Neste trabalho, há uma preocupação em entender o desenvolvimento do capital e suas saídas auto-expansivas ao longo do século XX, que deslocaram suas contradições, forjando uma nova racionalidade ainda mais complexa. Assim, é importante compreender essa nova racionalidade, reconhecendo sua eficácia e identificando seus inerentes limites. Para que se possa apreender as mudanças qualitativas nas relações sociais na ordem do capital, busca-se o diálogo entre autores que, de diferentes maneiras, procuram evidenciar as transformações estruturais dos “anos dourados” da primeira metade do século XX para os tempos instáveis que se instauram na década de setenta, tratando de identificar as transformações na natureza do trabalho e nas dinâmicas de produção e a concomitância de novas configurações de subjetividades na etapa de acumulação capitalista que alguns irão denominar de Pós-fordismo, Pós-modernidade, Modernidade recente, Império e que nós defendemos, na esteira de importantes figuras como Eleutério Prado (2005), como PósGrande Indústria, na sua relação com o neoliberalismo. Com este diálogo, pretende-se captar os elementos estruturantes explicativos da transição de uma sociedade disciplinar ao que, já tradicionalmente, o pensamento criminológico
crítico
denomina
como
“sociedade
de
controle”,
ponderando-se,
concomitantemente, o grau de descontrole deste controle alienado do capital que, de acordo com Meszárós, passa a atingir seus limites absolutos neste novo período de racionalidade. Como veremos adiante, essa compreensão do papel do controle penal neste período de nova racionalidade tem gerado muitas controvérsias entre os pensadores críticos, não no sentido da percepção do diagnóstico, mas sim nas explicações estruturais do fenômeno. Sem qualquer pretensão de ineditismo, buscaremos compreender os principais debates entre os autores e traçar nossas diferenças conceituais.
1.1 É possível uma análise histórico estrutural do controle penal no capitalismo?
26 Este trabalho não parte dos pressupostos do paradigma da defesa social, mas sim da reação social, ou seja, desejamos colaborar com o aprimoramento dos mecanismos de análise dos processos de criminalização neste tempo histórico da ordem social capitalista. Esta afirmação categórica faz-se importante para que, desde logo, assumamos nosso lugar de fala dentro dos tantos campos de estudos da criminologia (ou sociologia da violência)2. Como já é amplamente sabido, os estudos criminológicos surgem como apêndice legitimador do direito penal moderno. O que denominamos como criminologia tradicional era um estudo que forçosamente se dizia científico e que partia do dado incontestado de que estudaria o “criminoso”, ou seja, aquele que teria cometido um crime, uma vez que realizada uma conduta tipificada e que tenha sido detido por isso. Este campo tradicional de estudos vai buscar explicações justificadoras, legitimadoras da tipificação e da pena, pautadas em uma razão causal-explicativa e destinadas unicamente ao indivíduo. É comum, ao nos referirmos a este paradigma, tratarmos de Lombroso (2007) e sua teoria ontologizante e inspirada no discurso médico para tratar do dito “sujeito delinquente”. Porém, as explicações foram se complexificando com o passar do tempo e indo além dos elementos fisiológicos, incorporando análises desde a psicologia ou mesmo da sociologia, ainda que sempre pautadas no mesmo referencial individual-causal-explicativo do fenômeno da “delinquência”, sem questionarem a própria definição delituosa e a atuação possivelmente parcial ou seletiva dos órgãos que compõem o sistema de justiça criminal. A virada se dá com os primeiros estudos dispostos a perceber não o crime em si como algo dado, mas os processos sociais de rotulação do desvio, do crime, assim como do desviante, do delinquente. A conhecida teoria do etiquetamento (labelling approach) inaugura o que alguns autores denominam como paradigma da reação social, dando um giro epistemológico e iniciando a possibilidade de estudos dos processos de criminalização. Neste trabalho compartilhamos dos pressupostos teóricos da criminologia crítica, passo seguinte ao do etiquetamento, que incorpora, em suma, o debate da violência estrutural no capitalismo. Da década de setenta para cá a criminologia crítica produziu ampla gama de estudos críticos de fundamental importância mundo afora, porém precisa ser tratada no plural,
2 Nossa formação na graduação e no mestrado é no Direito e este estudo que aqui pretendemos realizar se localizaria, na ciência jurídica, dentro do campo criminológico, mais especificamente no campo criminológico crítico que, até onde podemos apreender, aproxima-se integralmente do campo da sociologia da violência. Apesar das ainda existentes dificuldades de interlocução das e dos pesquisadores(as) dessas duas áreas do conhecimento – e nos colocamos aqui como uma possível ponte para isso – encaramos neste trabalho como sinônimos.
27 diante das variadas diretrizes teóricas de análise, como poderemos exemplificar, em pequena medida, neste primeiro capítulo3. Antes de tratarmos mais diretamente do nosso foco de análise neste trabalho, caberia aqui uma pincelada nos principais pilares fundacionais desse amplo campo criminológico crítico. O primeiro é sobre a pessoa incriminada. A criminologia crítica supera a visão biopsicopatológica e mesmo o entendimento de que se trata de uma defeituosa socialização. Também não parte de uma noção determinista, tal como a do etiquetamento, de que o sujeito criminalizado acaba por assumir o rótulo que o impregna, assim como não adere à ideia de ser resultado da transmissão de determinados códigos comportamentais pura e simplesmente. No mesmo sentido, igualmente mecanicista, ao contrário de uma percepção do senso comum criminológico, rejeita-se a consideração do crime como resultado de dificuldades econômicas e materiais. Em resumo, a constituição dos sujeitos e de suas ações, de todos, inclusive dos incriminados em um determinado contexto, não são passíveis de explicações ontológicas ou de causa-efeito. Segundo, os criminólogos críticos destacam a importância de se dialetizar o conceito de crime. É preciso que se entenda a definição vigente imbricada a uma ordem social hegemônica e a interesses e privilégios de classe a ela relacionados. O olhar é para a busca de compreensão dos processos de incriminação, indagando “não só à maneira por que o delinquente chegou à conduta formalmente punível, mas, com ênfase peculiar, a outra questão, em geral obscurecida ou abandonada: essa incriminação deve ser mantida?” (LYRA FILHO, 1972, p. 24). A consequência dessa primeira pergunta é a análise, objeto talvez mais bem trabalhado ao longo desses anos de pesquisas criminológicas, dos processos de criminalização primária e de criminalização secundária. Ou seja, começando com a análise dos elementos de poder de quem define qual atitude será sancionada civil, administrativa ou penalmente, por exemplo, até a discrepância entre as ilicitudes previstas e aquelas filtradas pelos órgãos de controle 3 É correto afirmar que o surgimento da criminologia crítica foi muito influenciado pelo marxismo, o que permitiu o seu salto em comparação aos interacionistas simbólicos. Entretanto, este campo de crítica frontal ao reforço, ampliação de um sistema penal cada vez mais violento foi se tornando cada vez mais plural e hoje abarca diferentes matrizes teóricas, de marxistas a anarquistas e pós-modernos. Conforme Vera Andrade afirma em seguida: “Por último, os desenvolvimentos posteriores do criticismo, em sua dimensão penal e políticocriminal em busca de garantias ‘contra’ e de alternativas ‘ao’ controle penal deslegitimado, também foram muito diferentes. Enquanto setores da Criminologia ‘radical’ e da ‘nova’ Criminologia deram origem ao revisionismo chamado ‘neorrealismo de esquerda’, setores majoritários da Criminologia crítica estabeleceram um marcado diálogo com as perspectivas abolicionistas, elas próprias, Criminologias críticas (Louk Hulsman, Thomas Mathiesen, Nils Christie, Sebástian Scherer, John Braithwaite) e também com perspectivas garantistasminimalistas, feministas, culturalistas, étnicas etc., que originaram as Criminologias de mesmos nomes, algumas desde o interior do próprio criticismo” (ANDRADE, 2012, p. 94).
28 social formal (polícia, juizado e prisão), chegando à comparação do volume total de atos desrespeitosos da lei penal e daqueles realmente apreendidos. Isso significa afirmar que uma das principais bases para os estudos criminológicos críticos é a análise da seletividade do sistema penal e as funções simbólicas e reais de suas formas e instituições de controle social. Os estudos sobre seletividade penal mergulham na percepção da função política cumprida pelos sistemas penais, especialmente na realidade latino-americana. Sociedades estas de constituição autoritária, que sempre tiveram o sistema penal como uma máquina de controle dos insatisfeitos, dos rebeldes e dos que conscientemente ou não poderiam significar ameaças à ordem. A principal demonstração do caráter político do sistema penal foi por meio dos estudos sobre os crimes de “colarinho branco” – cometidos por pessoas socialmente privilegiadas, muitos ou com uma resistência pela não tipificação (as tantas violações ambientais, por exemplos), ou, quando tipificados, distantes dos filtros penais – e do que se costumou denominar como “cifras douradas”, que tratam dos crimes de Estado, de genocídio. Assim, pois, embora a perda para a sociedade, em um só crime do “colarinho branco”, possa ser igual à quantidade total de milhares de furtos ou roubos, o delinquente de “colarinho branco” é uma pessoa não estigmatizada pela coletividade, que não o considera delinquente, não o segrega, não o deprecia nem o desvaloriza (CASTRO, 1983, p. 79).
Portanto, o estudo crítico do sistema penal busca descortinar e, portanto, desmentir, a função jurídica declarada, desde a lente do entrecruzamento das violências estruturalinstitucional-individual. Com tais elementos, podemos iniciar nossa específica reflexão deste trabalho, já tendo demonstrado nossas principais balizas analíticas. 1.1.1 Indagações sobre o nosso objeto Em uma fase histórica de incontestáveis mudanças profundas nas formas de produção, de metamorfoses no mundo do trabalho, de alterações abruptas nas formas de sentir e amar, este trabalho estará fora de moda, pois não se renderá às narrativas fragmentadas e, muito longe de ignorar essas reais transformações, pautar-se-á pela “antiquada” disposição de compreender os fenômenos criminológicos contemporâneos desde uma leitura da totalidade social. Beberemos em fonte longínqua, nos primeiros escritos a pautar a conhecida “economia política da pena”, compartilhando a preocupação de “checar a veracidade empírica da
29 hipótese de uma relação entre variáveis estruturais fundamentais, especialmente as de natureza socioeconômicas e a evolução das instituições penais” (MELOSSI, 2006, p. 10). De Giorgi, autor com quem dialogaremos bastante neste primeiro capítulo, traz uma definição do que seria a economia política da penalidade: (…) trata-se de uma orientação da criminologia crítica, de derivação principalmente marxista e foucaultiana, que investigou, sobretudo a partir dos anos 1970, a relação entre economia e controle social, reconstruindo as coordenadas da relação que parece manter juntas determinadas formas de produzir e determinadas modalidades de punir (DE GIORGI, 2006, p. 31).
São “estudos que descrevem o papel exercido pelos sistemas punitivos na afirmação histórica das relações de produção capitalista” (DE GIORGI, 2006, p. 34) e o primeiro deles, muito antes da consolidação da criminologia crítica no campo intelectual (que se deu apenas na década de 70), foi o de George Rusche e Otto Kirchheimer, com sua primeira versão em 1933, que se propõe a analisar o surgimento da pena de prisão como pena por excelência e a consolidação do capitalismo, a fim de perceber a relação codeterminada entre ambas. No item seguinte detalharemos melhor essa primeira etapa da história da pena, mas desde já afirmamos que este estudo, acompanhado de Pachukanis e depois Foucault tiveram importante função na inauguração do debate sobre a violência estrutural e a função não declarada da pena de prisão, imbuída de objetivos políticos, peça importante no controle social do capital. Muitas questões necessariamente se complexificaram do final do século XIX, início do século XX para cá e existe uma discussão se essa forma de análise estaria ultrapassada. Para nós, a grande questão para que se possa pensar a pertinência e atualidade deste tipo de enfoque de pesquisa criminológica é delinear o que se entende por economia, por controle social e por controle penal. Estamos a tratar de uma relação mecanicista entre cárcere e fábrica? Entre encarceramento e desemprego? Entre economia e pena? Trata-se da relação entre modelos de produção (e as intrínsecas metamorfoses no mundo do trabalho e, evidentemente, nas subjetividades das e dos trabalhadores) e controle penal? Neste trabalho apostamos na importância de uma leitura histórico-estrutural do sistema penal no capitalismo, o que de longe significa um economicismo ou automatismo de análise. Dessa maneira, negamos uma análise que se constitua: (…) como uma relação mecânica mediante a qual a superestrutura ideológica da pena possa ser deduzida, de modo linear, da estrutura material das relações de produção. Ainda que ocupe uma posição de proeminência em relação a outros
30 fatores sociais, o universo da economia simplesmente contribui para definir a fisionomia histórica dos diversos sistemas punitivos (DE GIORGI, 2006, p. 37).
Inquestionável às teorias de todas as matrizes é o impacto de mudanças nas relações sociais ao final do século XX e, assim como haveria uma metamorfose no mundo do trabalho e nos processos de trabalho, haveria também uma suposta crise da relação entre cárcere e fábrica, pois “assim como a fábrica tornava-se cada vez mais social e se difundia para fora de muros bem marcados – o início da transição ao pós-fordismo – o cárcere teria seguido esse mesmo percurso” (MELOSSI, 2006, p. 14). Para que fique mais nítida qual a divergência em questão, os estudos que rotulamos realizar uma “economia política da pena” procuraram detectar no início da história da pena de prisão sua relação, na Europa, com a domesticação e docilização da nova classe trabalhadora. Em um segundo momento, com o desenvolvimento mais orgânico das correntes críticas do pensamento criminológico e com as oscilações nas taxas de encarceramento nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, a depender do momento econômico, houve estudos 4 que buscavam “medir” a relação entre desemprego e encarceramento e alcançavam conclusões como as que o desemprego aumentava o encarceramento, mas o aumento do encarceramento não necessariamente tinha capacidade de alterar os níveis de emprego (não era a determinante mais primordial para este índice). Com a passagem para o período de maior domínio tecnológico, financeirização da economia e flexibilização e precarização das relações de trabalho, alguns afirmarão que a relação entre essas principais instituições de controle social com a “fábrica” está de algum modo perdida ou se teria tornado obsoleta. Para De Giorgi (2006, p. 56), a análise não deve ser pautada na relação entre desemprego e encarceramento, mas sim entre economia e dispositivos de controle, pois “as suas análises (do debate mais tradicional da economia política da pena, C.B) não levam em conta os processos de transformação do trabalho, limitando-se à observação do tratamento penal do desemprego, do não-trabalho” . Tal leitura se aproxima, com especificidades, do que pretendemos definir aqui como leitura histórico-estrutural do sistema penal no capitalismo, uma continuidade atualizada e aperfeiçoada dos intentos de George Rusche e Otto Kirchheimer. Longe de uma leitura
4 Conforme De Giorgi (2006) descreve, seria o caso de Richard Quinney, por exemplo, e principalmente de Ivan Jankovic que, em 1977, “será o primeiro a tentar aplicar o paradigma de Rusche e Kirchheimer à situação americana”, complementando o raciocínio afirmando que nas décadas de 70 e 80 outros trabalhos fizeram este mesmo exercício de severidade e utilidade da relação encarceramento e desemprego, confirmando apenas a primeira. Ele destaca que era pesquisas predominantemente realizadas nos Estados Unidos.
31 mecânica e engessada, mas ciente das tendências e continuidades de etapas de acumulação do capital e comportamentos do controle sócio-penal. O objeto da análise é constituído pela relação entre estrutura social e formas de controle, respectivamente nas suas macro-trajetórias históricas e nas suas microtrajetórias cíclicas. Em outras palavras, se a análise da história social pré-capitalista e capitalista nos permite afirmar que cada sistema de produção tende a descobrir formas de punir que correspondem às próprias relações de produção, a investigação sobre o contexto capitalista nos permite detectar as linhas ao longo das quais esta correspondência se modula de quando em quando, em consonância com a mudança de determinados fatores econômicos e sociais (DE GIORGI, 2006, p. 57).
Para De Giorgi, isso significaria uma necessária sofisticação da percepção da importância dos elementos ideológicos e culturais na justificação do recrudescimento das instituições penais neste último período, até porque politicamente seria o que garantiria o consentimento da coerção, o que demanda uma ampliação do que se convém chamar de economicismo: (...) convém tomar distância das hipóteses ‘conspiracionistas’ que pintam o sistema punitivo como uma estrutura monolítica, perfeitamente integrada e em condições de responder às necessidades do capital e estender a observação ao conjunto dos fatores ideológicos e culturais que incidem sobre a relação entre economia e pena. O sistema punitivo não guarda autonomia das dinâmicas ideológicas da sociedade (...) a relação entre desemprego e encarceramento é mediada, por conseguinte, por uma percepção da marginalidade social como ameaça à ordem constituída, que se torna hegemônica nos períodos de crise econômica” (...) Sobre isso ainda, “durante os períodos de recessão econômica, de aumento do desemprego e deterioração das condições de trabalho, entra em cena uma nova ‘moralidade’ (DE GIORGI, 2006, p. 54-55 e 59).
O que faz com que o autor afirme que, em tempos de crise política e econômica, forjase uma nova moralidade, algo semelhante com a ideia do “autoritarismo cool” de Zaffaroni (2007), discursos públicos e políticos de alarde à violência de rua e estigmatizações de sujeitos que nada almejam de projeto ou política pública para além do ganho de votos e movimentação econômica com construções de presídios, programas de televisão, sistemas de segurança privada, entre tantos outros elementos da indústria do controle do crime. A teatralização da penalidade migrou do estado para a mídia comercial e para o campo político in toto, estendendo-se da cerimônia final de sanção para abarcar toda a cadeia punitiva, outorgando um lugar privilegiado às operações policiais em áreas habitadas por populações de baixa renda e às confrontações nas salas de audiência em torno dos réus célebres (WACQUANT, 2012, p. 23).
Assim, como abordaremos ao longo de todo este capítulo, dentre aquelas e aqueles que, com suas lentes críticas, estão buscando encontrar os fundamentos do embrutecimento, enrijecimento e força avassaladora do sistema penal nas últimas cinco décadas em diversas
32 partes do mundo, há ainda muitas interrogações do que significaria e quais seriam as bases dessa mudança paradigmática do controle socio-penal capitalista. No tópico seguinte compreenderemos como a fixação das casas de trabalho no período mercantilista, núcleo impulsor da consolidação das prisões tempos depois, foi baseada no princípio do less eligibility, que define que “é a situação do estrato proletário mais carente que constitui o limite externo a qualquer reforma do regime penal”. E, atualmente, muito se discute de sua permanência, em modelo muito mais complexo, pois, para além da mecânica relação entre desemprego-encarceramento, “na definição das fronteiras nas quais a less eligibility opera, outros fatores sociais intervém para delinear a condição do proletariado e a sua relação com o regime penal” (DE GIORGI, 2006, p. 57). Na mesma medida, indaga-se qual seria a verdadeira extensão da superação da lógica disciplinar e definição de uma “sociedade do controle” e o que isso diz sobre a adequação ou não de uma leitura a partir da “economia política da pena” no tempo presente. Até onde podemos dizer que nos deslocamos de uma tendência “autoritárioressocializante” a uma “detentivo-neutralizante”? E mais, estamos a tratar de mudança substancial e essencial das formas de controle da classe trabalhadora ou sua adaptação a novos tempos, porém com o mesmo princípio reitor, qual seja a extração de mais valor a partir da exploração da força de trabalho? Tomamos como nosso o importante questionamento de Dario Melossi (2006, p. 20): Se, em suma, é o mesmo ‘processo de vida real’ que constitui a base da reprodução capitalista, como podemos afirmar que o emprego ‘pós fordista’ é aquele emprego que não necessita mais de um aparato ‘subalterno’ a uma ‘fábrica social’ em vias de desaparecimento, e que, por conseguinte, não requereria mais estratégias de disciplinamento?
Parece-nos que, assim como na pós-grande indústria – como defenderemos adiante –, na qual não há substituição, mas sim acumulação com o padrão de produção da grande indústria, o mesmo ocorre com o controle sócio-penal, concordando com o palpite de Melossi (2006, p. 21) de que “o cárcere parece perdurar obstinadamente como uma espécie de grande portão de ingresso ao contrato social ou mesmo como introdução à forma de trabalho subordinado”, complementando que “é como se nas margens do desenvolvimento, o processo de ‘acumulação primitiva’ continuasse incessantemente no seu percurso de ‘colonização’ de ‘mundos’ ‘outros’”. Deste modo, de todas as polêmicas, discordâncias e releituras acima apresentadas, firmamos agora o nosso posicionamento sobre este ponto neste trabalho. O diálogo respeitoso que travaremos em seguida com algumas leituras mais conceituadas na atualidade no campo
33 criminológico crítico partirá de uma definição – não oposta, porém diferenciada destas acerca do impacto das mudanças do padrão acumulativo do capital e o papel do controle penal no controle social do capital contemporâneo. Isso significa que, mais do que nunca, é preciso que se estabeleça um olhar teórico de longa duração sobre os padrões estruturais do controle penal, pois, a título de exemplo, em um período histórico no qual o hiperencarceramento se apresenta como um fenômeno mundial, independentemente de um aumento real dos índices de criminalidade e, além disso, gerido por governos desde os de extrema direita aos ditos progressistas5-6,há, de fato, algo de tendencial e estrutural neste processo que, em nossa opinião, não se explica em uma relação de causaefeito entre economia e sistema penal, mas sim na compreensão dos limites absolutos alcançados pela ordem sociometabólica do capital. Cremos que só seja possível analisar coerentemente as funções do sistema penal em determinada sociedade, em determinado tempo histórico, ao relacioná-lo com a ordem sociometabólica como um conjunto, pois, como afirma Lola de Castro (2005, p. 106) “não tem sentido analisar o controle jurídico-penal se não somos capazes de entender sua função frente ao controle social geral, através das várias interações que se produzem”. Longe de desejar criar falsas polêmicas, mas a reflexão sobre as características do controle social do capital, desde um olhar mais detido de seus pilares, faz-nos, inclusive, questionar o uso do termo “sociedade do controle” para caracterizar o momento vivido, indagando se, essencialmente, nós não estaríamos presenciando o início de um processo de descontrole social do capital, de aprofundamento do estado permanente de barbárie, como afirmará Marildo Menegat adiante. Com isso, não buscamos minimizar a importância da denúncia de um sistema penal que se sofistica e alia de forma perspicaz mecanismos de controle disperso/difuso junto a uma onda de encarceramento em massa. Ocorre que, imbricado a isso, acreditamos que as e os criminólogas(os) críticos devem construir seu horizonte analítico desde uma concepção global do controle social do capital (é necessário qualificar o controle social vigente), para assim compreender os diferentes contornos do controle penal. Por isso, estamos de pleno acordo com Juarez Cirino dos Santos 5 De Giorgi (2006, p. 96) comenta em seguida sobre a tendência de aumento do encarceramento em países europeus: “Nos últimos dez anos as taxas de aprisionamento aumentaram em cerca de 40% na Itália, Inglaterra e França, 140% em Portugal, 200% na Espanha e nos Países Baixos. Os únicos países onde foi registrada uma ligeira contra-tendência foram a Alemanha, a Áustria e a Finlândia”. 6 Tema central de nossa tese, desenvolvido com vigor no segundo capítulo desta tese, ao tratarmos especificamente do Brasil e das gestões do Estado cuja frente política era protagonizada pelo Partido dos Trabalhadores.
34 (1981, p. 6) quando ele defende que “a ligação da teoria criminológica com a teoria do Estado, através da ciência da história, permite identificar o desenvolvimento das instituições de controle social com a história superestrutural da dominação do capital (...)”.
1.1.2 A ordem sociometabólica do capital, suas mediações de segunda ordem e o controle penal
Partimos, então, da percepção de que o capital é um modo sociometabólico de controle social específico e histórico. O capital se sobrepôs aos demais modos de produção por sua capacidade de produzir o excedente, devido a mecanismos cada vez mais aperfeiçoados de submissão do trabalho. Assim, essa “relação-capital”, fundada na alienação do trabalho, a fim de se consolidar, engloba todas as instâncias de reprodução social, de maneira dominadora, em seu círculo autoexpansivo. O sistema do capital consolida seu controle social por meio do desenvolvimento das “mediações de segunda ordem”, que buscam naturalizar as relações e instituições, bem como torná-las a-históricas, mas que, na verdade, são formas de mediações alienadas que se impõem nas relações dos homens entre si e deles com a natureza, “da família às estruturas de controle do processo de trabalho, e variadas instituições de troca discriminadora até o quadro político de dominação de tipos muito diferentes de sociedade” (MÉSZÁROS, 2002, p. 207). Tais mediações, articuladas estruturalmente, controlam toda a reprodução social. Isso significa que, no capitalismo, o controle social precisa ser retirado do corpo social e que, portanto, trata-se de se constatar que as mediações são inerentes às relações sociais, mas o subtrair-se alienante é característico da relação-capital. Como afirma Mészáros (2006, p. 85), referindo-se ao salto do materialismo de Marx: (...) só no materialismo monista de Marx podemos encontrar uma compreensão coerente da ‘totalidade objetiva’ como ‘realidade sensível’, e uma diferenciação correspondentemente válida entre sujeito e objeto, graças ao seu conceito de mediação como atividade produtiva ontologicamente fundamental, e graças à sua compreensão das mediações de segunda ordem, historicamente específicas, por intermédio das quais o fundamento ontológico da existência humana é alienado do homem na ordem capitalista da sociedade.
Entendemos que o Estado não está subordinado aos imperativos econômicos, mas são interdependentes. O Estado capitalista, em suas diferentes modalidades, atua também como mediador, garantindo o funcionamento dessa ordem sociometabólica como um todo. Portanto,
35 o Estado atua de diversas maneiras, seja com formas de consenso, seja com paliativos que disfarcem disparidades, seja como braço direito das instabilidades econômico-financeiras do sistema, seja como o agente repressor por excelência. Por isso que se deve ter cautela ao qualificá-lo como superestrutura, pois se trata de uma das bases sustentadoras desse sociometabolismo. O sistema do capital tem três pilares interligados: capital, trabalho e Estado. Nenhum deles pode ser eliminado por conta própria. Tampouco podem ser simplesmente abolidos ou derrubados. (...) A materialidade do Estado está profundamente enraizada na base sociometabólica antagônica sobre a qual todas as formações de Estado do capital são erguidas. Ela é inseparável da materialidade substantiva tanto do capital quanto do trabalho. Só uma visão combinada da sua inter-relação tríplice torna inteligíveis as funções legitimadoras do Estado do sistema do capital (MÉSZÁROS, 2015, p. 26).
Portanto, quando não afirmamos diretamente a relação economia e controle penal, mas sim a ordem sociometabólica do capital, suas mediações de segunda ordem e o controle penal, estamos aqui apenas sendo cuidadosos com o necessário distanciamento de possíveis leituras deterministas e de hierarquização entre infra e superestrutura. Assim, para além de compartilharmos da noção do tripé fundante capital-trabalhoEstado na constituição da relação-capital, também ressaltamos que o melhor entendimento do funcionamento das mediações alienantes da ordem sociometabólica do capital deve partir também da compreensão da consubstancialidade das relações sociais de gênero, classe, raça e sexualidade. Tratar da codeterminação das relações de gênero, classe, raça e sexualidade enquanto estruturantes da ordem social do capital é um desafio seja no campo dos estudos feministas, seja no campo marxista. Helena Hirata (1989) destaca a importância de, nessa constância mutável, imbricada e contraditória, definir-se o invariável, aquilo que sob novas roupagens permanece reinante, trazendo como exemplo, no caso das relações sociais de gênero, como as invariantes da divisão sexual do trabalho seriam a separação (trabalho de homem e trabalho de mulher) e a hierarquia (trabalho de homem mais valorizado do que o trabalho de mulher), ou seja, características que, de diferente modos, são perenes. As relações sociais são duais e conflituosas. As relações sociais de gênero, por exemplo, geram mecanismos de dominação-exploração-opressão do homem sobre a mulher, fundamentadas na divisão sexual do trabalho e no controle do corpo feminino. As relações sociais se codeterminam e se reproduzem de maneira não homogênea e muito menos hierárquica.
36 Essa permanência estrutural, apesar das mudanças históricas mais ou menos rápidas ou mais ou menos significativas, só se explica, para tais autoras, a partir de uma diferenciação entre relações sociais e relações intersubjetivas. Para elas, as relações sociais “continuam a operar e a se manifestar sob suas três formas canônicas: exploração, dominação e opressão” (KERGOAT, 2010, p. 75), ainda que tenham a dinamicidade como característica. Neste sentido, tais relações sociais de codeterminam e reproduzem, como se formando um nó , pois “nenhuma relação social é primordial ou tem prioridade sobre outra. Ou seja, não há contradições principais e contradições secundárias” (KERGOAT, 2010, p. 99). Para as autoras da consubstancialidade, as relações sociais consideradas fundamentais, estruturantes seriam as de gênero, classe e raça (e, para nós, a relação social de sexualidade, pautada na heterossexualidade compulsória, também compartilha da mesma base patriarcal e é fundante das dinâmicas de produção e reprodução do capital). Dessa maneira, diante de toda essa conceituação, o que essas autoras estão propondo é que, com relação a essas três (e nós dissemos, quatro) dimensões, não há condições de se separar o que é econômico e o que é cultural, o que é produção e o que é reprodução (KERGOAT, 2010, p. 100): Essa análise vai contra a ideia de que, por exemplo, as relações de classe se inscrevem unicamente na instância econômica e as relações patriarcais, unicamente na instância ideológica. Cada um desses sistemas possui suas próprias instâncias, que exploram economicamente, dominam e oprimem. Estas instâncias articulam-se entre si, de maneira intra e inter sistêmica.
Portanto, conclui-se que nas relações de gênero, classe, raça e sexualidade entrecruzam-se exploração, dominação e opressão e são estruturantes do sociometabolismo do capital. Ao longo deste capítulo, daremos mais concretude a esta concepção e, ao final, buscaremos uma síntese teórica, porém cabe aqui destacar que a preocupação teórica aqui apresentada se faz fundamental, pois compartilhamos do entendimento de que nesta atual fase de acumulação do capitalismo as mediações alienantes já não são naturalizadas facilmente, os limites absolutos deste sistema passam a ser ativados e vivenciaríamos uma crise estrutural do capital, o que nos auxilia a explicar as facetas e o papel do (des)controle penal neste período.
1.1.3 A consolidação do capitalismo e o surgimento da prisão: as primeiras ideias de uma economia política da pena
37
Se reivindicamos a herança da economia política da pena, precisamos, ainda que cientes da insuficiência da análise, traçar alguns elementos sobre a origem da prisão e sua relação com a fixação do capitalismo. Neste sentido, é preciso que se destaque a importância da tese de George Rusche e Otto Kirchheimer para a história crítica das instituições penais que, como acima destacamos, foi escrita (e abafada!7) muito antes da consolidação do campo criminológico crítico. Segundo seus estudiosos, é preciso que sejam expressas as diferenças de concepções e análise entre ambos autores: A tese de G. Rusche recebeu uma publicação com a tradução de seu manuscrito para o inglês sem sua participação; foi a primeira obra da Escola de Frankfurt editada pela Columbia University Press de Nova Iorque, em 1939. Nesta publicação, contou com a colaboração de Otto Kirchheimer, que escreveu a introdução e os capítulos finais (num viés bastante mecanicista e relativamente distante da ideia original de Rusche) (NEDER; FILHO, 2012, p. 92).
O que tais autores inauguram com a obra é a percepção da fundamental mudança do controle social nas sociedades pré-capitalistas e na capitalista. Nas primeiras o controle da população era muito mais configurado no âmbito político, pela rígida estratificação social, o regime de servidão e a dependência pessoal das e dos trabalhadoras(es) com os senhores feudais. Nestas sociedades o cárcere possuía uma função de cautelaridade e não como pena em si. As penais ainda eram muito ligadas a elementos morais, religiosos e atreladas ao sofrimento físico, seja com as penas de galés ou os próprios suplícios. Como sabemos e adiante especificaremos, no capitalismo as relações políticas e econômicas se alteram profundamente e as pessoas trabalhadoras são subtraídas de seus meios de produção e sua liberdade encontra-se permitida desde que submetida à venda da sua força de trabalho. Isso altera sobremaneira os mecanismos de controle da população, pois “com a afirmação do modo de produção capitalista, a condição do proletariado se torna uma função principalmente econômica: a condição material do proletariado é determinada diretamente no interior dos processos de organização e de divisão do trabalho” (DE GIORGI, 2006, p. 40). 7 Gizlene Neder (2004, p.12), tradutora da obra Punição e Estrutura Social para o português, afirma em sua Nota introdutória à edição brasileira que o primeiro ensaio que dá origem a esta obra foi publicado em 1933 pelo autor Geroge Rusche, judeu e membro da Escola de Frankfurt. Ano no qual o governo nazista se consolida no país e que demandou a fuga e exílio do intelectual. “Rusche teve um exílio longo e tormentoso; primeiro em Paris, depois em Londres, em seguida na Palestina, de onde retornou novamente a Londres”. A obra foi concluía na nova sede do Instituto em Nova Iorque por Otto Kirchheimer. Gizlene Neder complementa que “Em 1941, foi feita uma resenha, assinada por C.W.W.Greenidge, publicada no The Howard Journal. Também neste mesmo ano Max Horkheimer, então diretor do Instituto e pessoa chave nas decisões sobre a publicação do livro, recebeu uma carta de Georg Rusche, enviada da Inglaterra, onde o autor encontrava-se refugiado, comentando sobre a publicação de sua obra. Este foi o derradeiro contato com Rusche”
38 Sendo assim, Dario Melossi e Massimo Pavarini (2006, p. 22) afirmam que o equivalente na sociedade feudal era outro, o que nos explica porque a prisão não era a pena por excelência naquele período: Por conseguinte, na presença de um sistema socioeconômico como o feudal, no qual ainda não se historicizara completamente a ideia do ‘trabalho humano medido no tempo’ (leia-se trabalho assalariado), a pena-retribuição, como troca medida pelo valor, não estava em condições de encontrar na privação do tempo o equivalente do delito. O equivalente do dano produzido pelo delito se realizava, ao contrário, na privação daqueles bens socialmente considerados como valores: a vida, a integridade física, o dinheiro, a perda de status.
Georg Rusche, acompanhando Pachukanis, possuem a fundamental preocupação de descrever a reciprocidade dos processos de penalização e a consolidação do mercado de trabalho no capitalismo. Eles comparam, a partir da universalização do princípio da troca de equivalentes, o contrato como fixação do tempo de trabalho e a sentença como fixação do tempo de reclusão. Pachukanis, jusfilósofo russo de fundamental importância teórica e militante nos anos da Revolução, insere o sistema penal em sua análise mais ampla do fenômeno jurídico centrada no desenvolvimento dialético das categorias jurídicas e econômicas, sendo a relação econômica a contraface da relação jurídica, entendida como a relação entre sujeitos de direito que realizam a troca de mercadorias por meio de um contrato. Assim, Pachukanis (1988, p.118) estuda o fenômeno jurídico não através da norma, mas sim da relação jurídica e, para ele, “o direito privado reflete o mais diretamente possível as condições gerais de existência da forma jurídica como tal, o Direito Penal por sua vez representa a esfera onde a relação jurídica atinge o mais alto grau de tensão” . Com a mercantilização mundial e a expansão do capital para todas as esferas do ser social, as formas de punição passam a ser medidas pelo tempo: (...) introduziu-se e foi considerada como natural justamente no século XIX, ou seja, numa época em que a burguesia pode desenvolver e afirmar todas as suas características (...) A privação de liberdade com uma duração determinada através de sentença do tribunal é a forma específica pela qual o Direito Penal moderno, ou seja, burguês capitalista, concretiza o princípio da reparação equivalente. Tal forma está inconsciente, porém profundamente ligada à representação do homem abstrato e do trabalho humano mensurável pelo tempo (PACHUKANIS , 1988, p. 130).
Assim, o que Pachukanis desenvolve nesse período é a noção de equivalência da pena de prisão em relação ao crime no capitalismo, porém, para além disso, George Rusche e os que virão posteriormente buscam explicar, especialmente desde a realidade europeia, a função política da prisão como controle do trabalho excedente e de adestramento e docilização das e dos trabalhadores para os novos mecanismos de exploração.
39 A tese do criminoso encarcerado como não proprietário encarcerado ilumina a tarefa do cárcere na sociedade burguesa, instituição coercitiva para transformar o criminoso não-proprietário no proletário não-perigoso, um sujeito de necessidades reais adaptado à disciplina do trabalho assalariado (SANTOS, 2006, p. 8).
Desde estes aportes teóricos, Georg Rusche desenvolve a ideia do princípio da less elegibility (ou seja, o princípio da menor preferibilidade), elemento fundador da lógica da pena de prisão na fundação do capitalismo, que significa assumir condições sempre mais danosas à pessoa presa do que ao trabalhador(a) que esteja fora das grades. Portanto, “numa economia capitalista, isso significa que será a condição do proletariado marginal que determinará o rumo da política criminal e, por conseguinte, o regime de ‘sofrimento legal’ imposto àqueles que forem punidos por desrespeito às leis” (DE GIORGI, 2006, p. 38). Dario Melossi e Massimo Pavarini (2006, p. 38) contribuem nessa análise a partir da descrição do que seria os primórdios antecedentes da fixação da pena de prisão como pena por excelência, fundada no princípio da less elegibility, qual seja a criação das casas de trabalho. Eles realizam um panorama europeu do surgimento das casas de trabalho, suas especificidades em cada país, de acordo com suas peculiaridades econômicas e também culturais e religiosas e constatam que, na essência, “o trabalho forçado nas houses of correction ou workhouses era direcionado, portanto, para dobrar a resistência da força de trabalho e fazê-la aceitar as condições que permitissem o máximo grau de extração de maisvalia”. Melossi, na primeira parte da obra que escreve com Pavarini (2006, p. 41), parte sua descrição da realidade holandesa da primeira metade do século XVII, onde a casa de trabalho alcança forma mais desenvolvida. Uma fase na qual a força de trabalho era escassa e, por isso, “aumenta a capacidade de oposição e de resistência da classe, e sua possibilidade de luta para não se deixar abater”. Por isso, as casas assumem aí um papel disciplinar importante. Georg Rusche delineia abaixo a condição social e econômica holandesa à época: Em fins do século XVI, a Holanda possuía o sistema capitalista mais desenvolvido da Europa, porém não dispunha da reserva de força de trabalho que existia na Inglaterra depois do fechamento dos campos. Já nos referimos aos salários altos e às condições de trabalho favoráveis que prevaleciam na Holanda, com uma jornada de trabalho pequena. Inovações destinadas a reduzir o custo da produção eram naturalmente bem-vindas (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 68).
Melossi afirma que as casas de trabalho nesse período ainda não substituíam completamente as outras penas e que, portanto, situavam-se “numa posição intermediária entre a multa simples ou uma leve punição corporal e a deportação, o desterro e a pena de morte” (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 43).
40 Os autores descrevem o processo do trabalho de raspagem do pau-brasil nessas Casas holandesas, até que se formasse um pó. Havia a escolha pelas técnicas de trabalho mais cansativas, doloridas e humilhantes. Isso ocorria porque as casas detinham o monopólio desta produção e os mecanismos mais rudimentares de trabalho garantiam tanto a humilhação e o consequente disciplinamento da força de trabalho, como o pouco investimento em maquinário e a garantia de vantagens econômicas a partir do trabalho extenuante. Os autores constatam como o fortalecimento pioneiro destas instituições em certos países estava conectado com o discurso permeado de uma ideologia calvinista de ascender moralmente por meio do trabalho. Georg Rusche aprofunda a noção a seguir: O fato de terem sido Inglaterra e Holanda que avançaram para uma nova era, e não as antigas aristocracias mercantis de Veneza e Florença, foi o resultado de condições materiais externas, particularmente o aparecimento de novas rotas de comércio. (...) Não pode haver dúvidas, entretanto, de que a doutrina calvinista propiciou uma base intelectual para a atitude da burguesia diante dos problemas sociais (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 62).
Com o fim dos monopólios, ocorre a impossibilidade de sustentar essas casas de trabalho com suas tecnologias arcaicas e seus processos de trabalho defasados e, assim, vão perdendo suas funções econômicas e se mantendo apenas como instituições de contenção e controle. Falando do processo europeu de maneira mais ampla, destaca-se a relação entre aumento da “vagabundagem” e da repressão, com a passagem da administração das instituições de caridade das mãos privadas para as públicas, tanto em países católicos como protestantes. Ele descreve como o modelo análogo das casas de trabalho na França, mais conhecido como Hôpital, destaca-se desde o início mais pelo mero internamento do que necessariamente pelo trabalho forçado. E é assim que eles narram como os séculos XVII e XVIII, durante a economia manufatureira, com suas casas de correção, foram criando as condições para que com o Iluminismo se consolidasse a ideia do cárcere como justa instituição para resolução de conflitos penais. Essa função será mais tarde atribuída à instituição carcerária. O lugar onde o empobrecimento conjunto do indivíduo tem lugar é a manufatura e a fábrica, mas a preparação, o adestramento, é garantido por uma estreita rede de instituições subalternas à fábrica, cujas características modernas fundamentais estão sendo construídas exatamente neste momento: a família mononuclear, a escola, o cárcere, o hospital, mais tarde o quartel, o manicômio. Elas garantirão a produção, a educação e a reprodução da força de trabalho de que o capital necessita (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 48).
41 Com o aumento do desemprego, passava-se a compreender que o trabalho no cárcere prejudicava os trabalhadores “livres” e assim vão se abandonando as funções econômicas, juntamente com seus argumentos ressocializantes. Os autores inclusive descrevem o impressionante protesto de trabalhadores organizados contra qualquer forma de dignidade no trabalho no cárcere, por ser “privilegiado” e “competitivo”. Isso significa que o tempo medido progressivamente deixa de se tornar produtivo, mas, mesmo assim, continua fazendo sentido nesta ordem social a equivalência crime-prisão, pois “baste a experiência do tempo escandido, do tempo medido, a forma ideológica vazia, que nunca é apenas ideia, mas que morde na carne e na cabeça do indivíduo que se deve reformar, estruturando-o com parâmetros utilizáveis pelo processo de exploração” (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 91). Georg Rusche é categórico ao afirmar que “os fundamentos do sistema carcerário encontram-se no mercantilismo; sua promoção e elaboração foram tarefas do Iluminismo” (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 109). Todo este recorrido histórico nos afasta de uma narrativa romântica, típica da dogmática penal, de que o Iluminismo representou avanços humanitários e que a superação dos suplícios e penas cruéis de forma geral e definição da pena de prisão foram fruto da evolução social. Inclusive sobre isso, o próprio Beccaria no seu Dos delitos e das penas afirma a possibilidade da tortura, e Melossi descreve como as reformas variavam de acordo com as condições do mercado de trabalho: Uma vez mais, as intenções humanitárias desempenham um papel completamente secundário em tudo isso. As reformas sustam o passo, quando não retrocedem, toda vez que o desemprego cresce, reduzindo novamente o valor do trabalho. Um exemplo significativo é dado pela Inglaterra do início do século XIX, quando um novo surplus de força de trabalho orienta a política penal no sentido da reintrodução de métodos punitivos cruéis e destrutivos, que parecem decretar momentaneamente a falência dos ambiciosos projetos iluministas de reforma (DE GIORGI, 2006, p. 42).
Porém, se, por um lado, é ponto pacífico a desconstrução do mito humanistailuminista de proporcionalidade e taxatividade de crimes e penas, por outro, Melossi, em obra escrita com Pavarini (2006, p.92), muito apoiado nas reflexões sobre a forma jurídica de Pachukanis e o papel de troca de equivalente cumprido pela prisão moderna, reflete também sobre não ser a luta contra o Estado absoluto o motivo maior dessas mudanças capitaneadas pela burguesia, mas sim no sentido de alterar as formas punitivas, adequadas aos novos padrões de produção, a fim de “consolidar a hegemonia da própria classe sobre o conjunto da estrutura social”.
42 Para nós, ainda que o debate sobre a pena de prisão, proporcional à gravidade do crime, definido por Códigos e medida pelo tempo de privação de liberdade seja um fenômeno próprio da consolidação capitalista, cabe ressaltar que a leitura meramente economicista (da forma jurídica como condição para a circulação de mercadorias) reduz a complexidade do fenômeno, pois fatores históricos de hegemonização política também definiram este modelo de controle penal, como, por exemplo, a necessidade da burguesia em se colocar como hegemônica politicamente (para além da dominação econômica), o que passava pela superação do modelo penal dos Tribunais da Santa Inquisição, suas penas públicas, desproporcionais e centradas no máximo arbítrio do inquisidor-julgador8. Assim, novas estratégias de retenção do poder político eram necessárias para o fortalecimento burguês e o enraizamento desta nova ordem social, que respondessem na aparência às insatisfações populares com os suplícios, mas que mantivessem a mesma base autoritária, ainda que sob outros moldes e sob outras mãos, pois, como afirma Salo de Carvalho (2011, p.78), “as reformas oitocentistas no discurso penal e processual penal, ponto máximo do processo que se inicia no século XVI, apesar de estabelecerem como variável fundamental a secularização, não lograram exorcizar a lógica inquisitorial da cultura penal” . Assim, sendo fiéis ao raciocínio dialético que nos guia, ao não nos rendermos ao canto da sereia da humanização bondosa do direito penal e processual penal moderno, bem como à função da pena declarada a partir de então, observando-os como engrenagens de sustentação da ordem sociometabólica do capital que se consolida, é importante perceber, desde os estudos sobre sistemas processuais penais, como, ainda que com a secularização, os sistemas processuais penais modernos, muito inspirados principalmente no Código de Napoleão, inauguram, na aparência, um sistema processual penal misto, que supostamente superaria a lógica inquisitorial, mas que, sob novas roupagens, com a incorporação do discurso positivista de busca da verdade real, continuaria concentrando poderes instrutórios nas mãos do juiz e este, ainda que formalmente sendo uma terceira parte, centralizaria poderes. Estas são algumas breves análises, a serem lapidadas, do que seria o berço de sustentação da análise que nos é aqui central, focada em uma suposta transição marcante nas características da relação-capital na década de setenta em diante, que impactaria também os mecanismos de controle social, especialmente o penal. 8 Dessa maneira, estamos com Georg Rusche (2004, p. 110) quando afirma que “a questão da natureza da pena afetava primordialmente as classes subalternas. Entretanto, os problemas de uma definição mais precisa de direito substantivo e do aperfeiçoamento dos métodos do processo penal foram trazidos para o centro do debate pela burguesia, que ainda não havia ganho sua batalha pelo poder político e procurava obter garantias legais para sua própria segurança”.
43
1.2 Debates sobre as mutações do capitalismo contemporâneo e as novas características do controle penal
Com esse arcabouço prévio, acreditamos agora estar em condições de analisar os elementos fundamentais e as principais explicações do gigantismo penal das últimas décadas, acompanhado de uma diferenciação qualitativa em seu modus operandi e suas funções declaradas. Para tornar essa exposição mais pertinente e interessante, buscaremos dialogar com as ideias de dois grandes autores que, ao nosso modo de ver, sintetizam as principais colaborações sobre o tema no campo crítico dos estudos da violência hoje, ambos partindo, sob diferentes matrizes, de um olhar também estrutural, tal como nos propomos. Entretanto, apesar de identificarmos o acerto e a importância de seus diagnósticos sobre a realidade penal vivida, divergimos, em alguma medida, de suas compreensões teóricas sobre as transformações das relações sociais em curso e o impacto disso no papel do controle penal. Tais diferenças, longe de parecerem preciosismos teóricos, impactam em muito nas respostas e saídas potencialmente humanizantes em tempos de barbárie. Dividiremos a abordagem em três principais momentos, que se complementam entre si. Em um primeiro, dialogaremos com a perspectiva que relaciona a superação do período do fordismo (a fase transicional denominada por esses autores como pós-fordismo) com a passagem de uma sociedade disciplinar a uma sociedade de controle. Neste grupo incluímos, especialmente, Alessandro De Giorgi, interlocutor de Antonio Negri no campo da sociologia da violência. Em um segundo, refletiremos com vários autores a respeito das colocações de Loic Wacquant sobre o desenvolvimento do neoliberalismo e o expansionismo penal. Por fim, buscaremos reunir as críticas pinceladas ao longo dos dois momentos prévios para aprofundar a síntese anunciada ao início do texto acerca do que nos parecem ser os elementos primordiais para uma análise histórico-estrutural do controle penal contemporâneo.
1.2.1 A consolidação da grande indústria e o controle penal ampliado das prisões para a cidade
44
O século XX demonstrou a capacidade de extensão da racionalidade do capital, incrementando sua capacidade produtiva à custa de um desperdício institucionalizado crescente. Ou seja, para que se alcançasse um crescimento constante era necessário ampliar o consumo mundial, por meio de um “consumo de massa” e de uma cada vez maior queda da taxa de utilização, bem como o incremento do valor excedente, por meio de uma intensificação da exploração de um mínimo trabalho necessário. Essa nova racionalidade inicia-se após a crise de 1929/33 e se aperfeiçoa após a Grande Guerra, com uma série de medidas políticas, econômicas e sociais que possibilitam o deslocamento das barreiras do capital, como as estratégias keynesianas9, o “consumo de massa”, a fixação de um Sistema Monetário Internacional, a criação de instituições mediadoras internacionais, tais como Banco Mundial, FMI e ONU, as nacionalizações de empresas privadas falidas, adaptação do Estado ao “boom” das empresas transnacionais, perpetuação da dependência do “Terceiro Mundo”, etc. David Harvey (2008, p. 19) explica as pretensões de tais ajustes: A reestruturação das formas de Estado e das relações internacionais depois da Segunda Guerra Mundial pretendia impedir um retorno às condições catastróficas que tanto ameaçaram o poder capitalista na grande crise dos anos 1930 (...). Foi preciso assegurar a paz e a tranquilidade domésticas e firmar alguma espécie de acordo de classe entre capitalistas e trabalhadores.
Essa nova racionalidade é auxiliada pela queda da taxa de utilização, capaz de redefinir padrões produtivos e distributivos. Isso quer dizer que, para que se produza e se consuma mais e mais, o tempo de vida útil das mercadorias, dos serviços, das maquinarias e da própria força de trabalho deve ser mínimo e a necessidade de sua substituição deve ser constante. Portanto, instaura-se a “ditadura do consumo”, impondo um crescente desperdício desnecessário como regra a serviço da maior lucratividade do sistema. Ainda nesse sentido, a “invenção” capitalista de maior impacto, talvez a mais importante saída aos dilemas após a 2ª Guerra Mundial, aperfeiçoada concomitantemente ao Estado de Bem-Estar Social foi o complexo industrial-militar, desenvolvido à custa de uma utilização nefasta da ciência e da tecnologia. Isso porque, através de um discurso de alto 9 A visão liberal da economia, reinante até o final da década de 1920, entra em crise juntamente à bolsa de Nova York. Nela, a crença nos poderes da produção e da oferta, assim como a fé na mão invisível do mercado e sua capacidade de equilibrar a economia, bases fundantes dessa visão, foram duramente criticadas pelo economista John M. Keynes, cujas principais características de sua teoria aliam a defesa da intervenção do estado na economia com uma visão econômica voltada para o lado da demanda, isso, em contraposição à visão liberal clássica, que defendia justamente o contrário, ou seja, a não intervenção do estado na economia e acreditava, conforme Jean B. Say, que toda oferta geraria sua própria demanda.
45 convencimento das Nações em investir em sua própria defesa, o complexo militar-industrial livra-se da dependência dos fluxos de avanços e quedas do nível de consumo, que são inevitavelmente instáveis, deslocando um dos maiores impasses do capital: sua superprodução. Assim, o complexo industrial-militar aproxima o capitalismo de sua desejada façanha, qual seja, aproximar a taxa de utilização à zero. Neste ponto da reflexão torna-se fundamental compreender as principais etapas dos processos de produção no capitalismo até para que se consiga relacionar isso ao papel disciplinar das instituições de controle penal e as caracterizações de que o período dos anos dourados do capitalismo é fundamentalmente marcado por uma sociedade com característica disciplinar, seja na produção de estilo fordista, seja no cárcere e nas instituições assistenciais. Costuma-se dividir, ainda que com variáveis terminologias, a história dos processos de produção no capitalismo em manufatura (de meados do XVI ao último quartel do XVIII), grande indústria competitiva, grande indústria monopolista e pós-grande indústria (década de 70), sendo neste último a transição do sistema de máquinas para a fase do “intelecto geral”, da produção de conhecimento científico e de alta tecnologia. Para Eleutério Prado, um elemento fundamental para a compreensão de tais etapas é a distinção de subsunção formal e subsunção material do trabalho ao capital. O processo de trabalho acontece dentro de um processo de produção. No capitalismo, o processo de produção significa, necessariamente, a venda da força de trabalho do trabalhador. Podemos afirmar que qualquer processo de trabalho exige algum nível de presença e autenticidade do trabalhador, pois, como afirma Eleutério Prado, “é inerente a determinação subjetiva posta pelo trabalhador, já que o objeto moldado por sua atividade precisa ter existido antes em sua imaginação, de um modo ideal” (PRADO, 2005, p. 121). O que ocorre é que, na primeira etapa de desenvolvimento do capitalismo, ainda que o trabalhador fosse expropriado dos meios de produção e tivesse, necessariamente, que se submeter à relação-capital, o processo de produção, diante da mais precária existência de capital permanente, ainda dependia mais do processo criativo do trabalhador. O mais-valor era extraído da mercadoria trabalho quase que exclusivamente pelo tempo de trabalho, a conhecida extração de mais-valor absoluta: Daí que, de um ponto de vista lógico, a subsunção formal seja compatível apenas com a extração da mais-valia absoluta, ou seja, do mais trabalho que é arrancado do trabalhador pelo prolongamento da jornada de trabalho. A extração da mais-valia relativa só pode vir a ocorrer quando o capital passa a revolucionar não apenas as relações entre os diversos trabalhadores, mas também a natureza do trabalho e os
46 modos de trabalhar, por meio da transformação do processo produtivo pela aplicação consciente da ciência e da tecnologia (PRADO, 2005, p. 122).
E, sendo assim, a extração de mais-valia relativa se hegemoniza nessa segunda etapa, da grande indústria, quando as máquinas se aperfeiçoam e integram os processos de produção e o trabalho se torna mais compartimentalizado, automático, castrador de criatividade e autenticidade da e do trabalhador(a): De um ponto de vista histórico, a subsunção formal do trabalho ao capital está associada ao período da cooperação manufatureira, quando então predomina a extração de mais-valia absoluta. Nessas condições de produção, a possibilidade de obtenção de mais-valia relativa é limitada. Somente com o advento da grande indústria, quando a subsunção real do trabalho ao capital torna-se efetiva e se generaliza, é que passa a predominar o modo relativo de extração de mais-valia em relação ao absoluto, o qual, aliás, nunca desaparece. Quando o capital passa a controlar o modo de trabalhar, consegue obter aumentos da produtividade do trabalho que reduzem o custo de reprodução da força de trabalho, diminuindo consequentemente a necessidade de capital variável para gerar um determinado montante de valor adicionado, o que se traduz, ao final, em aumento da mais-valia (PRADO, 2005, p. 123).
Como colocado acima, esta fase se aperfeiçoa da etapa concorrencial para a monopolista. Diante da dinamicidade inerente da ordem sociometabólica do capital, precisase expandir e acumular cada vez mais e a possibilidade de geração de superlucros só se aperfeiçoa com a tendência monopolista. Conforme analisa Eleutério Prado (2005, p. 124): Entretanto, como ressalta Mandel, a busca para manter as taxas de lucro acima da média de modo durável por parte dos capitais mais poderosos apenas se torna uma norma quando o capitalismo concorrencial é substituído pelo capitalismo monopolista. Eis que o monopólio seja ele de terra, da reserva de força de trabalho ou da tecnologia é que permite a obtenção de superlucros.
Portanto, nesta fase de consolidação da grande indústria, com o predomínio das grandes empresas monopolistas, enraíza-se o fordismo, processo de trabalho que permite a produção em massa, com suas linhas de montagem, controle dos tempos e dos movimentos das e dos trabalhadores(as). Como dito acima, as funções são fragmentadas e ocorre uma mais profunda “separação entre elaboração e execução no processo de trabalho” (ANTUNES, 2006, p. 25). Todos estes elementos são fundamentais para que se compreenda o passo seguinte das casas de trabalho e dos primeiros cárceres. Como afirma Ricardo Antunes, “não se devem entender apenas novas técnicas de organização da produção, mas procedimentos que moldam e controlam os trabalhadores” (PRADO, 2005, p. 123) e aí acrescentamos, dentro e fora da indústria. A grande indústria necessita de uma rede de instituições e mediações sociais capazes de sustentar essa submissão da e do trabalhador(a), dentre elas o sistema penal:
47 Na sociedade de produção de mercadorias, a reprodução ampliada do capital pela expropriação de mais-valia da força de trabalho – a energia produtiva capaz de produzir valor superior ao seu valor de troca (salário), como ensina Marx -, pressupõe o controle da classe trabalhadora: na fábrica, instituição fundamental da estrutura social, a coação das necessidades econômicas submete a força de trabalho à autoridade do capitalista; fora da fábrica, os trabalhadores marginalizados do mercado de trabalho e do processo de consumo – a chamada superpopulação relativa, sem utilidade na reprodução do capital, mas necessária para manter os salários em níveis adequados para valorização do capital -, são controlados pelo cárcere, que realiza o papel de instituição auxiliar da fábrica. Assim, a disciplina como política de coerção para produzir sujeitos dóceis e úteis, na formulação de Foucault, descobre suas determinações materiais na relação capital-trabalho assalariado, porque existe como adestramento da força de trabalho para reproduzir o capital (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 6).
Massimo Pavarini, desde a realidade europeia, analisará como, nos ditos acima anos dourados do capitalismo, período de enraizamento do processo de produção fordista e experimentações de Estados de Bem-Estar Social em países ditos “centrais”, a relação entre cárcere e políticas de assistência dialeticamente cumpria essa função de apoio à garantia do processo de subsunção real do trabalho, ou seja, de controle das contradições deste processo de alienação do trabalho no capitalismo. Nesse período, especialmente nos países de capitalismo avançado, foi possível conquistar e materializar muitos direitos sociais e o Estado assumia o papel de gestor social. Pavarini (2002, p. 72) destaca que, por consequência de todos esses fatores, esse foi um momento de transformações marcantes no controle social e, da mesma forma, no controle penal, concretizando o que ele denomina como “gestión tecnocrática de la sociedad”: (...) se había asistido tanto a una concentración del mercado de trabajo como a una integración creciente de la autoridad capitalista sobre la organización misma del trabajo (...) si el proceso de acumulación lleva así a una centralización del capital, con la superación del capitalismo de competencia (a traves de la concentración industrial y de la expulsión del mercado de las empresas marginales) y con el nacimiento de un sistema de monopolios, este movimiento complejo de concentración tiende en consecuencia a comprimir cada vez más la esfera de las relaciones sociales que anteriormente se asumía como relativamente extraña a la de la producción (…) frente a las necesidades disciplinares propias del momento de la producción se colocasen los derechos individuales, las libertades burguesas que dominaban en las relaciones sociales y jurídicas fuera de la fábrica, tiende a romperse haciendo así que las formas de dominio y de disciplina que desde siempre imperaban en la fábrica fagocitasen el reino de las libertades y de las autonomías (...) de todo eso deriva que las nuevas necesidades de orden se califiquen en los términos de la capilaridad y de la extensión. El control entonces no puede más que ser difuso, difuso de la misma manera en que lo es el conjunto de las relaciones sociales.
Dessa maneira, Pavarini descreve que, nesse período, a fim de reduzir o conflito social e permitir uma organização racional do trabalho, ocorrem transformações nos mecanismos e
48 instituições de controle social, vivenciando-se o que ele denomina como capilaridade do controle, tornando-se mais difuso. Nessa reorganização da ordem, nos países que efetivaram um Estado Social, tende-se a diminuir a desigualdade social, redistribuir a renda e ampliar os serviços sociais e, paralelamente a isso, ocorre uma cada vez mais explícita “guetização” dos marginalizados. Essa guetização era consequência socioespacial da maior concentração do capital e de um cada vez mais amplo “exército industrial de reserva”. E a assistência social torna-se a forma de sobrevivência dos excluídos da produção e passa a ser a forma principal através da qual se exercita o controle social, na busca pela consolidação de uma sociedade mais “consensual”, o que significa dizer que suas contradições buscam ser suavizadas. Assim, Pavarini (2002, p. 75) destaca que haverá uma ênfase nas políticas de controle social primário: Efectivamente, la extensión creciente del dominio capitalista se resuelve, en la esfera del control, en un cada vez mayor privilegio para los procesos de control social primário (escuela, família, organización del tiempo libre, etc.) y dentro de los primeros hacia los instrumentos de control social de masas, haciéndosele jefe directamente al estado (...) los excluidos de la producción: ancianos y jóvenes en edad escolar, desocupados y subocupados, grupos raciales minoritarios y nuevos emigrados, etc. – la difundida práctica de la asistencia, de los subsidios, de los servicios sociales se adoptará no ciertamente para resolver las contradicciones sino para atenuar los efectos, a no hacerlos explosivos.
Assim como foram ampliadas as formas assistenciais acima descritas, a política penal também se reconfigura, deslocando-se da prisão para a cidade: (...) en relación con las formas de malestar social criminalizadas la nueva política del control social tiende a privilegiar las medidas alternativas a la detención. Asistimos así a un proceso de fuga de la práctica de custodia (ya sea manicomial como carcelaria) hacia estratégias alternativas de control en liberdad, como la probation (puesta a prueba en un servicio social), la palabra (libertad bajo palabra) para la población criminal (...) Una red cada vez más extensa y una malla cada vez más tupida de estructuras de servicio cuya práctica asistencial penetra necesariamente en la de un control de tipo policial. La edición seductora y actualizada del estado de policía para una sociedad tecnológicamente avanzada resulta así el gran proyecto del estado assistencial (PAVARINI, 2002, p. 75).
Portanto, como já destacamos, a crise estrutural está anunciada desde esse período (as bases para a sua geração) e é preciso entendê-lo muito além de um Estado benevolente. As políticas assistenciais, ao mesmo tempo em que garantiam – por um período – uma maior harmonia social, também objetivavam, no seu âmago, introduzir cada vez mais os trabalhadores no mercado consumidor e, portanto, era parte de uma saída liberal para maior expansão e acumulação centralizadora do capital. Mas, essa harmonização é relativa e o deslocamento das contradições temporário.
49 Nesse período de ascensão do Estado Social, fortalece-se um processo de desinstitucionalização. Isso, muitas vezes, aparece unicamente como triunfo de uma hipótese reabilitadora, sem se relacionar com as mudanças sociais que possibilitavam e impulsionavam tal processo. Pavarini (2002, p. 85) aponta que mesmo no século XIX houve uma doutrina que destacava a crítica antimanicomial e anticarcerária, porém as condições estruturais do momento impediam que a hipótese fosse investida oficialmente, sendo o inverso em meados do
século
XX
na
realidade
destes
países.
Mas
a
tendência
dessa
política
desinstitucionalizadora, com a crise fiscal do Estado, é enfraquecer os aspectos assistenciais e, dentro disso, fortalecer sua frente policial: En una situación de crisis fiscal el modelo segregativo de control se hace – repito – simplemente demasiado costoso, en cuanto, en su progresivo crecimiento, llega a interferir con los mismos mecanismos de la acumulación capitalista. (...) En efecto, las finalidades terapéuticas y reeducativas que deslegitimaban, por un lado, la práctica segregativa y justificaban, por otro, la práctica del control social en comunidad, han ido atrofiándose cada vez más a medida que procedían las dificultades financieras, para reducirse, en última instancia, a aparato justificador de una actividad de tipo policial.
Parece-nos fundamental destacar que, paralelamente ao Estado Social e sua política de controle social difuso, aprofunda-se o autoritarismo nos países “do lado de cá” e a existência de um sistema penal subterrâneo, não declarado oficialmente como estratégia de controle social. Isso se destacou especialmente nos anos de ditadura nesses países, seja por meio de legislações contravencionais ou de ordem pública altamente seletivas, seja com as enormes cifras de detidos à espera de sentença ou pela existência de mecanismo de controle policial e prisional não-oficiais, porém amplamente executados.
1.2.2 O que muda e o que permanece nessa nova etapa de acumulação do capitalismo, especialmente no que tange ao controle sócio penal?
Estamos buscando fazer o difícil e perigoso exercício de compreender, concomitantemente, as mudanças na gestão do Estado, nos processos de produção e nas relações sociais, especialmente nos mecanismos de coerção penal em cada grande etapa do capitalismo. Em realidade, nosso foco neste capítulo está nas páginas seguintes, lançando luzes que auxiliem a decifrar as características e funções do sistema penal contemporâneo,
50 desde uma perspectiva tendencial e estrutural, até para que, no segundo capítulo, compreendamos sua versão brasileira. No complexo exercício de organizar os pensamentos pela via escrita, tentaremos mesclar elementos gerais das transformações da década de 70 em diante no padrão de acumulação do capital com as leituras e críticas de inauguração da “sociedade do controle” aparada por um sistema penal gerencial, neutralizador e de gestão do risco. Na realidade, cabe aqui explicitar uma divisão em certa medida artificial que se opta para expor as ideias neste capítulo. Todas as páginas seguintes tratarão do tema exposto nos dois parágrafos acima, porém optamos por dividi-las em dois momentos, ainda que, para nós, redundantes em si. Expliquemos. Loïc Wacquant, intelectual que pode ser considerado hoje um dos maiores expoentes críticos do campo da sociologia da violência mundial, descreve o fenômeno repressivo atual desde uma caracterização própria de Estado, mais precisamente do Estado Centauro – o Estado neoliberal – e diverge de autores, como David Garland (e nós aqui incluímos e debatemos com o Alessandro De Giorgi nesse mesmo sentido), acerca das transformações mais basilares e paradigmáticas do modo de produção capitalista, que esses autores irão denominar como “modernidade tardia”: E isso se explica porque a causa desencadeadora da virada punitiva não é a modernidade tardia, mas sim o neoliberalismo, um projeto que pode ser abraçado, indiferentemente, por políticos de direita ou de esquerda. A mistura de tendências que Garland reúne sob o termo guarda-chuva ‘modernidade tardia’ – a ‘dinâmica modernizadora da produção capitalista e das trocas de mercado’, mudanças na composição das famílias e nos laços de parentesco, na ecologia e na demografia urbanas, o impacto amargo da mídia eletrônica, a ‘democratização da vida social e da cultura’ – é algo não apenas excessivamente vago, mas também estreitamente correlacionado. Essas tendências não são peculiares às últimas décadas do século XX, não são específicas dos Estados Unidos, nem se apresentam de forma mais pronunciada nos países social-democratas do norte da Europa, que não submergiram na onda internacional de penalização. Ademais, o despontar da modernidade tardia foi gradual e evolutivo, ao passo que as recentes transformações da penalidade foram abruptas e revolucionárias (WACQUANT, 2012, p. 27).
Não estamos nem cá nem lá e essa nos parece ser uma falsa polêmica, redutora da complexidade do fenômeno. A nós nos interessa compreender a codeterminação das transformações estruturais do padrão acumulativo e o neoliberalismo para poder tratar do papel do controle penal neste período. Para tanto, tivemos que artificializar a análise, seja por limites pessoais ou talvez pela limitação intrínseca da organização de ideias, entre um primeiro momento de compreensão geral da transição ocorrida da década de setenta em diante e alguma reflexão sobre a sociedade de controle e o governo do excesso (com apontamentos desde o campo do marxismo) e um segundo momento de exposição das ideias de Wacquant
51 sobre neoliberalismo e sistema penal e nossas ponderações. Esperamos que o leitor possa juntar esses cacos ao longo da leitura e acompanhar nossa percepção (em construção) do fenômeno. Alguns elementos de base política e econômica fizeram com que estivesse “esgotado o modelo de acumulação que instalava o Estado em uma posição reitora, os defeitos e as insuficiências da velha ordem estatal adquiriram um caráter grotesco” (BORÓN, 1995, p. 81). Considerando perigosa a definição de um marco preciso de término e início desses ciclos de acumulação do capital, apontamos aqui alguns elementos e acontecimentos que nos parecem fundamentais para a compreensão desse processo. Seriam alguns deles: a crise fiscal dos Estados intervencionistas, acompanhada de um desnível dos conflitos entre as classes sociais desfavorável ao capital, fruto do fortalecimento sindical e dos movimentos sociais nos anos anteriores; a crise do petróleo de 1974, com a subida abrupta de seus preços; e a ruptura por parte do governo estadunidense com o Acordo de Bretton Woods, ou seja, com o fim do ouro como lastro e a ampla impregnação de dólares mundialmente, gerando o aumento abrupto dos juros e a preferência dos capitalistas pelo investimento financeiro ao invés do âmbito produtivo. Tudo isso soa como um grito pela desregulamentação financeira e acumulação flexível. Enquanto as estratégias keynesianas se desfaziam nos países da Europa ocidental, bem como nos Estados Unidos, na América Latina da década de 80 seus países estavam ávidos por empréstimos e, a cada oscilação do dólar, não conseguiam honrar seus compromissos financeiros. (...) descobriu (Reagan) uma maneira de unir os poderes do Tesouro norteamericano e do FMI para resolver a dificuldade rolando a dívida, mas exigiu em troca reformas neoliberais. O México foi um dos primeiros Estados recrutados para aquilo que iria se tornar uma crescente coluna de aparelhos neoliberais de Estado em todo o mundo (...) os tomadores são forçados pelo Estado e por forças internacionais a assumir o ônus do custo do pagamento da dívida sejam quais forem as conseqüências para a vida e o bem-estar da população local (HARVEY, 2008, p. 38).
Do desrespeito do Presidente Nixon ao acordado na Conferência de Bretton Woods e a consequente multiplicação dos juros da dívida já grande, que se torna astronômica, contraída por esses países, é que se explica o elemento político de que, na década de 80, os países periféricos não suportam a recessão e a crise da dívida e a eles é imposto um programa disciplinar fiscal pelo FMI. Exige-se, assim, uma política fiscal muito mais rigorosa, com a cobrança de juros altíssimos, o que faz com que os países periféricos entrem em uma corrida pelo aumento do
52 superávit primário para que sua dívida não seja desvalorizada e, assim, os juros não aumentem. É um ciclo sem fim que condena tais países que a ele se submetem. Dessa forma, apesar da receita neoliberal ser elaborada principalmente pelos países de capitalismo avançado, são nos rotulados como “subdesenvolvidos” que as aplicações e consequências são ainda mais perversas. Neste cenário, o investimento financeiro vai crescendo em uma proporção muito superior ao produtivo, gerando “bolhas” que estouram em crises cada vez mais contínuas, uma sobreacumulação de capital. Este processo de financerização e mundialização do capital não significa um deslocamento da centralidade do trabalho no capitalismo, pois continua sendo a sua venda a única fonte, por excelência, de valorização do valor. A tendência é a fusão cada vez mais forte entre os grandes grupos financeiros e as transnacionais: Assim, as instituições que se especializaram na “acumulação pela via da finança” (fundos de pensão, fundos coletivos de aplicação, sociedade de seguros, bancos que administram sociedades de investimentos, fundos de hedge) tornaram-se, através dos mercados bursáteis, proprietárias dos grupos empresariais mais importantes em nível global e impuseram à própria acumulação de capital produtivo uma dinâmica orientada por um móvel externo, qual seja a maximização do “valor acionário” (PAULANI, 2009, p. 27).
Isso significa que as corporações tendem a se fundir e adquirir uma feição financeira. Em decorrência disso, as empresas passam a gerenciar sua produção sob fortes exigências, optando por unidades menores de produção e organização mais flexível do trabalho, bem como uma maior tecnologização do processo. Os fundamentos da mundialização atual são tanto políticos como econômicos. É apenas na vulgata neoliberal que o Estado é “exterior” ao “mercado”. É preciso recusar as representações que gostariam que a mundialização fosse um desenvolvimento natural. O triunfo atual do “mercado” não poderia ser feito sem as intervenções políticas repetidas das instâncias políticas dos Estados capitalistas mais poderosos (...). O lugar decisivo ocupado pela moeda no modo de produção capitalista deu à liberalização e à desregulamentação um caráter e consequências estratégicas (CHESNAIS, 2001, p. 10).
Assim como apontamos ao tratar do Estado de Bem-Estar Social e dos desenvolvimentismos autoritários em países como os latino-americanos, esta atual etapa de transformações políticas e econômicas recém-descrita tem reflexos marcantes no processo de produção e nas características da subsunção do trabalho ao capital. Alguns autores denominam como pós-grande indústria, outros como pós-fordismo, mas, seja como for – com diferenciações que, em parte, observaremos adiante –, para todos eles trata-se de um período transicional, da análise de uma tendência de transformações a se
53 aprofundarem, o que não supera em absoluto o período anterior. Este será para nós um elemento importante. Estamos em uma etapa que alia alto desenvolvimento científico e tecnológico com novos métodos de produção e trabalho, a partir de uma fragmentação do processo e maior dinamicidade e multiplicidade de tarefas da e do trabalhador(a). Ricardo Antunes analisa as características do toyotismo e seu potencial de multiplicação em caráter global. A Toyota altera profundamente os padrões de produção e relação de trabalho em muitos sentidos. Em primeiro lugar, pela capacidade do trabalhador manusear várias máquinas simultaneamente. Depois, pelo desenvolvimento do “método kanban”, inspirado no padrão de reposição de produtos de alguns supermercados dos Estados Unidos, fazendo com que a diretriz seja produzir somente o necessário no melhor tempo. Isso faz com que se almeje aumentar a produção sem aumentar o número de trabalhadores e estender o método para as empresas subcontratadas e fornecedoras10. Estas mudanças vieram acompanhadas de uma necessidade de enfraquecer a organização consciente e combativa das pessoas trabalhadoras, que se dava principalmente pela organização sindical. Com isso, a Toyota desenvolve uma estrutura e um convencimento ideológico de um denominado “sindicalismo de empresa”, “de participação e de negociação”, capaz de envolver ainda mais as pessoas trabalhadoras nas metas da empresa e rebaixar suas pautas para aquelas incorporáveis sem desajustes ou ameaças de superlucratividade. Ademais, Eleutério Prado contribui nessa análise ao não negar a teoria do valor de Marx, mas sim atualizá-la, sua (des)medida do valor. Costura seu raciocínio a partir de uma passagem dos Grundrisse, onde Marx explica que, com o maior desenvolvimento da grande indústria, a criação de riqueza dependerá menos do tempo de trabalho utilizado e mais do quanto de ciência e tecnologia são postos no processo de trabalho mesmo: Dito de outro modo, o valor transformado em preço de produção já não é mais apenas um quantum de tempo de trabalho, mas se torna influenciado, de modo qualitativo, pelos conhecimentos científicos e tecnológicos mobilizados no processo de produção com o concurso necessário dos trabalhadores, durante o tempo de trabalho (PRADO, 2005, p. 125).
Ainda de acordo com este trecho da obra marxiana, nessa fase o trabalhador tenderia a ocupar um lugar diferenciado no processo de produção, não mais inserido nele, mas o gerenciando. Isso significa que estaríamos em uma terceira etapa do processo de subsunção do trabalho ao capital, não mais estando alheio ao processo como um todo, funcionando como 10 Dirá Antunes (2006, p. 27) que “processos correlatos vêm ocorrendo no Japão, elevando a produtividade das pequenas empresas através do avanço tecnológico, articulando, pela informática, das pequenas empresas aos grandes conglomerados”.
54 mero reprodutor de movimentos de parte do processo de produção, como hegemonicamente se dava no período da grande indústria, mas sim detendo conhecimento fundamental para a própria realização da mercadoria produzida e, por isso, em um retorno ao processo singular e criativo, ainda que suas energias continuem profundamente subsumidas à relação-capital, portanto, um trabalho sofisticadamente alienado. Assim, se ele deixa de estar intercalado, mesmo se é liberto materialmente do processo de produção, o sistema de produção, no qual se encontram objetivados conhecimentos científicos e tecnológicos extremamente avançados, passa a exigir dele um comprometimento subjetivo, de atenção permanente, um envolvimento intelectual com seu adequado funcionamento. A pós-grande indústria é caracterizada, por isso, pela subsunção formal, intelectual e societária do trabalho ao capital (PRADO, 2005, p. 125-126).
Adiante trataremos melhor do processo de alienação, mas vale neste instante apenas firmar que estas mudanças em curso aprofundam uma das mais impactantes contradições, apresentada como limite absoluto da ordem sociometabólica do capital, qual seja a desnecessidade cada vez maior de trabalho vivo e o surgimento de um desemprego em nível crônico e incorrigível. Por fim, os conhecimentos científico e tecnológico tornam-se centrais do processo de acumulação de capital nesta etapa e, para que este sistema possa continuar se reproduzindo, acumulando e expandindo, é preciso que se controle, que se privatize, que se mercantilize todo esse conhecimento potencialmente coletivo e de domínio público. Os direitos de propriedade intelectual, a renda tecnológica e os sistemas de patentes são, assim, imprescindíveis para essa domesticação e este fenômeno também é traço fundamental da financerização: Sem que as formas anteriores, relativa e absoluta, deixem de existir, a mais-valia extraordinária, sob a forma de renda tecnológica e financeira (oriunda de direitos de reprodução, marca e propriedade intelectual), torna-se agora um meio privilegiado de obtenção de ganhos monopolistas (PRADO, 2005, p. 124).
As mudanças são profundas, dúbias e transitórias. Caberá a nós compreendê-las desde a percepção de que o essencial do capital se mantém.
1.2.3 Sociedade do controle ou (des)controle social do capital? Algumas reflexões sobre a nova etapa de acumulação e seu novos mecanismos de controle
55 Para De Giorgi viveríamos nesta etapa de acumulação capitalista da pós-grande indústria (por ele denominada como pós-fordismo) uma sociedade do controle ou sociedade da vigilância, sendo superado o regime disciplinar a partir do esgotamento da estrutura produtiva fordista11. Na sociedade disciplinar superou-se a ideia de suplícios e mortes e se instaurou a ordem da recuperação, disciplinamento e docilização dos corpos, “passíveis de constituir uma massa que as nascentes tecnologias da disciplina podem forjar, plasmar, transformar em sujeitos úteis, isto é, em força de trabalho” (DE GIORGI, 2006, p. 27). Portanto, o modelo disciplinar coincidiu com o fortalecimento do Estado de Bem-Estar Social e a etapa industrial do capitalismo. Entretanto, tal autor entende que da transição da década de setenta em diante houve o desfalecimento deste projeto disciplinar da modernidade. O processo de essencialização (ou demonização, como prefere Jock Young (2002)) necessário para a construção de inimigos opera-se por instituições que não possuem mais a disciplina como objetivo primeiro, mas sim a neutralização, seja pelas múltiplas formas de vigilância, seja pela guetização ou pelo encarceramento. O novo internamento se configura mais do que qualquer outra coisa como uma tentativa de definir um espaço de contenção, de traçar um perímetro material ou imaterial em torno das populações que são 'excedentes', seja a nível global, seja a nível metropolitano, em relação ao sistema de produção vigente (DE GIORGI, 2006, p. 28).
Dessa maneira, para ele, viveríamos a transição da sociedade disciplinar à sociedade de controle, sendo que a “biopolítica do poder global” garantiria mecanismos sofisticados de regulação da mão de obra útil e descartável em um espaço tornado imperial. O penal atual seria puramente de contenção do excedente. Para ele, “a disciplinaridade se revela cada vez mais inadequada com relação às novas formas de produção e impotente para explicitar práticas de controle eficazes no confronto com as novas subjetividades do trabalho” (DE GIORGI, 2006, p. 30).
11 De Giorgi tem como principal interlocutor teórico Antonio Negri, quem se posiciona acerca desta transição histórica por meio do que denomina de biopoder no Império. Neste período histórico, para o autor, para além da competição entre as potências, configura-se um poder unitário, acima de todos. Assim, o autor demonstra os limites das instituições tradicionais e descreve como a “máquina econômica-industrial-comunicativa” passa a ditar a produção de mercadorias e de necessidades, corpos e mentes, ou melhor, a produção de subjetividades, “produzindo os produtores”: “É sem dúvida importante salientar tanto a contínua relação de fundação do capitalismo com o mercado mundial (ou pelo menos uma tendência nesse sentido) como os ciclos de expansão do desenvolvimento do capitalismo; mas a atenção adequada às dimensões universais ou universalizantes, ab origine, do desenvolvimento do capitalismo não deve nos impedir de ver a ruptura ou a mudança da produção capitalista contemporânea e as relações globais de poder” (HARDT; NEGRI, 2001, p. 31).
56 Assim como o poder incontrolável das grandes corporações, que inclusive ditam as regras aos Estados, Negri, principal interlocutor de De Giorgi, destaca a centralidade das indústrias de comunicação nesta etapa de acumulação do capitalismo. Segundo Hardt e Negri (2001), a “produção linguística da realidade” serve como principal instrumento para a garantia da validade e legitimação do direito imperial que, portanto, não se sustenta em leis, tratados ou organismos internacionais tradicionais, mas sim, principalmente, pela indústria da comunicação e seus monopólios. Para os autores, na mesma obra, a compreensão dos instrumentos de legitimação do Império faz-se importante para que se entenda o que ele denomina de “estado de exceção permanente”, com a naturalização da intervenção física/repressora como um dos aspectos da estrutura biopolítica da sociedade, por meio da construção de inimigos. Portanto, o autor evidencia como, no Império, amplia-se a possibilidade de se dominar com o aumento dos consensos, hegemonizando-se com legitimação social. Dessa maneira, Negri e Hardt dialogam com autores de diferentes tradições teóricas, buscando perceber os elementos de transição da sociedade disciplinar à sociedade de controle, demonstrando como os mecanismos de controle social tornam-se cada vez menos centralizados em instituições e mais internalizados nos próprios sujeitos, afirmando que “o novo paradigma é, ao mesmo tempo, sistema e hierarquia, construção centralizada de normas e produção de legitimidade de grande alcance, espalhado sobre o espaço mundial” (HARDT; NEGRI, 2001, p. 31). Para eles, a análise do biopoder contemporâneo precisa envolver, necessariamente, as dimensões de produção e reprodução da vida. Por isso, aponta os limites de autores como Foucault, Deleuze e Guatarri que, segundo ele, não logram captar essencialmente as características de produção na sociedade biopolítica. Da mesma maneira, compreende que alguns autores marxistas contemporâneos avançam no debate sobre as transformações do mundo do trabalho e a atualização da teoria do valor, porém não incorporaram a dimensão da produção de novas subjetividades concomitantemente ao debate “econômico-estrutural”. De Giorgi (2006) afirma que ultrapassaríamos a disciplina da carência e alcançaríamos o governo do excesso e aspira ser fundamental perceber qual papel o sistema penal cumpriria nesta jornada. O governo do excesso, para autores dessa matriz teórica, seria tanto do excesso positivo, a integração cooperativa do trabalhador ativo nestes novos moldes do processo de produção, como do excesso negativo, a imensa força de trabalho excedente.
57 Ainda nesse sentido, eles afirmam que os instrumentos de mediação tradicionais desmoronaram, leia-se fábrica, família tradicional, igrejas. Diante de um diagnóstico semelhante ao nosso exposto acima, das mudanças qualitativas na subsunção do trabalhador ao capital, esses autores compreendem que “a cooperação produtiva entre os sujeitos do trabalho pós fordista se furta a qualquer lógica disciplinar que pretenda vinculá-la a uma repetição, uma sincronização, a uma ordem cuja rigidez é antitética ao processo de comunicar. A rede substitui a linha de montagem” (DE GIORGI, 2006, p. 74). Por mais que afirmem o caráter ainda hegemônico de instituições-símbolo da modernidade, tais como tribunais e prisões, o que tais autores sinalizam é a quebra de legitimidade e adesão dessas instituições e, mais importante, uma alteração de seu modus operandi de dominação. A passagem da soberania como poder que proíbe a governamentalidade para um poder que regula, ordena, dispõe assinala, pois, a apropriação definitiva da racionalidade econômica capitalista por parte da ciência de governo. Assim, a transcendência de um soberano que se colocava acima e fora daquilo que comandava é substituída pela imanência de um governo que se coloca no interior dos processos que regula. As referências deste poder não serão mais, separadamente, o território enquanto delimitação espacial do monopólio da violência, a soberania enquanto legitimação transcendental desse monopólio e o povo enquanto destinatário da própria violência. O ponto de apoio do poder ‘governamental’ será, ao contrário, constituído pela tríade território-população-riqueza, um organismo complexo, um corpo social que produz e consome recursos limitados (DE GIORGI, 2006, p. 86).
Adiante iremos aprofundar a noção do que seriam, para tais autores, essas novas tecnologias de controle, que guiariam a tendência da política criminal em muitos países, porém fazemos uma interrupção para ponderar criticamente alguns elementos determinantes dessa concepção teórica, especialmente no que tange à negação da ideia de classe trabalhadora. A noção de multidão é fundamental para suas conclusões teóricas sobre o controle penal e, quanto a isso, temos ressalvas. uma progressiva solda entre trabalho e não-trabalho e entre classes laboriosas e classes perigosas, a ponta de tornar qualquer distinção praticamente impossível. Trata-se, pois, de neutralizar a ‘periculosidade’ das classes perigosas através de técnicas de prevenção do risco, que se articulam principalmente sob as formas de vigilância-segregação urbana e contenção carcerária (DE GIORGI, 2006, p. 28).
Parece-nos que a grande questão para Negri e seus seguidores, como De Giorgi, é que não se poderia falar mais em classe trabalhadora diante das transformações do processo de produção, por dois motivos. Primeiro porque tais mudanças fazem com que a linha entre trabalho e emprego seja tênue, não havendo mais o ciclo trabalho-salário-consumo-cidadania,
58 sendo que a certos trabalhadores “não é socialmente reconhecido como condição suficiente para ter acesso a uma existência social plena” (DE GIORGI, 2006, p. 69). Isso é perigosíssimo, pois bem sabemos que o padrão de acumulação se altera, mas os elementos essenciais da exploração capitalista permanecem e a classe trabalhadora está mais viva (ainda que parte morta em vida, diante das precarizações de existência) do que nunca! Segunda e problemática afirmação é a de que o domínio do capitalista não se daria mais no processo de trabalho, mas sim externamente e que seria, portanto, muito mais político do que econômico, “o domínio capitalista abandonaria o terreno do conflito contra o trabalho para deixar que ele se desenvolva entre os sujeitos do trabalho” (DE GIORGI, 2006, p. 77). Segue o autor afirmando que são os pressupostos da produtividade do trabalho que hoje excedem a relação capitalista e não as determinações concretas desta produtividade. No nível constitutivo, ontológico, a força de trabalho contemporânea se configura como totalidade produtiva indistinta, como conjunto de potencialidades cooperativas que escapam a qualquer regulamentação: nesse sentido, ela é uma multidão (DE GIORGI, 2006, p. 78).
Para melhor compreender a delicadeza disso, vale a pena seguirmos os razoáveis apontamentos de Eleutério Prado, que, como dissemos acima, não se nega a perceber, tal como o próprio Marx já anunciava, transformações na (des)medida do valor, porém sob bases distintas e “não negacionistas” (com toda a redundância desta expressão). Eleutério Prado parte sua análise do calcanhar de aquiles da suposta renovação teórica de tais autores desde uma crítica à noção de trabalho imaterial caracterizada por Negri, como se fosse sinônimo de serviços. Note-se, agora, que valor de uso pode ser material ou imaterial. No primeiro caso, o caráter de útil advém de propriedades associadas à própria materialidade natural do resultado do trabalho e, no segundo, esse caráter depende do conteúdo informacional e cultural desse resultado. Tanto num caso como no outro, entretanto, o resultado do trabalho pode ser ou não algo que se separa do ato de produzir. Portanto, a diferença de materialidade não tem uma correspondência precisa com a diferença feita entre bem e serviço (PRADO, 2005, p. 50).
Esta crítica pode, em um primeiro olhar, parecer preciosista e meramente categórica, porém sustenta uma divergência de leitura fundamental e que assume relevância no olhar deste trabalho: As noções de bem e serviço classificam os valores de uso, mas não contribuem para a compreensão do capitalismo como tal. Como se sabe, para tanto é preciso se ater à noção de mercadoria. Dito de outro modo, é preciso considerar o produto do trabalho enquanto forma da riqueza no modo de produção capitalista. (...) mercadoria é apenas uma forma do produto do trabalho (PRADO, 2005, p. 51).
59 Com isso, o autor está destacando que a única diferença é que quando se trata de serviço, o produto do trabalho (ou seja, a mercadoria) não se separa da sua produção, da sua atividade e “não existe, portanto, independentemente da compra e da venda, tal como ocorre no outro caso” (PRADO, 2005, p. 51). Isso significa afirmar que essa diferenciação na produtividade do trabalho não impacta essencialmente o movimento do capital. Como algumas vezes já firmamos neste trabalho, à medida que se desenvolvem mais trabalhos intelectuais, mais dificuldades de medir o valor haverá, pois tais mercadorias possuem seus valores de uso medidos não apenas pelo tempo de trabalho necessário, mas também por outros referenciais qualitativos que o trabalhador carrega consigo e que se traduz no processo de produção. O fetichismo em que caem Hardt e Negri consiste em que raciocinam sobre o caráter da produtividade do trabalho focando o resultado material do processo de produção. Como se sabe, segundo O Capital a condição necessária para que o trabalho seja produtivo no capitalismo é que ele produza valores de uso que tenham mercado, mas esta não é uma condição suficiente, pois é preciso também que ele produza maisvalia para o capital. Pouca importa aqui se o valor gerado está cristalizado em produtos materiais ou imateriais ou em produtos que têm existência separada ou não do ato de trabalhar (PRADO, 2005, p. 54).
Ou seja, o predomínio dos serviços sobre os bens não seria tecnicamente o mesmo que dizer que há o predomínio de valores de uso imateriais, mas, mais do que isso, essa primeira diferenciação não impacta na essência da produção de mercadoria sob o capitalismo. Eleutério pode discordar das classificações de Negri, porém apoia a importância de se buscar “examinar as estruturas de poder cristalizadas na organização do trabalho” (PRADO, 2005, p. 56). Para ele, devemos buscar compreender as formas distintas de subordinação do trabalho ao capital ao longo da história, porém, quanto à distinção da sociedade disciplinar e da sociedade do controle, ele diz faltar a demonstração da gênese das mesmas e “por mais interessante que seja toda essa caracterização, da qual emergem duas formas sociais de estruturação do poder no capitalismo, ela permanece externa à produção” (PRADO, 2005, p. 57). Entende o autor que Hardt e Negri estariam a sinalizar que o aspecto cooperativo do trabalho neste período histórico, diferentemente dos períodos anteriores, não é imposto e organizado de fora, sendo a cooperação intrínseca à atividade, o que pode ensejar a interpretação de que este trabalho possui autonomia em relação ao capital. concluem que a subsunção do trabalho ao capital tornou-se puramente externa ao processo de trabalho e, em consequência, arbitrária. Inferem daí que não subsiste a distinção entre capital constante e capital variável na pós-grande indústria, mesmo se os trabalhadores continuam vendendo sua força de trabalho para os capitalistas, o
60 que, nos termos de Marx, caracteriza a subsunção formal do trabalho ao capital. Como o trabalho coletivo tornou-se para eles ‘comunicativo, afetivo e imaterial’ e, assim, cooperativo em si e por si mesmo, deduzem também que a produção enquanto tal tornou-se potencialmente comunista, mesmo se o modo de produção ainda continua sendo capitalista (PRADO, 2005, p. 59).
Para eles, mudanças profundas na subjetividade partem dessa dificuldade de uma nítida separação entre tempo de trabalho e de não trabalho. Negam a ideia de classe e assumem a de multidão, entendendo que “não é mais possível definir um lugar determinado de constituição da subjetividade do trabalho, de tornar extrínseca a sua produtividade e de expressão da sua conflituosidade, como era possível para a classe operária fordista” (DE GIORGI, 2006, p. 79). Nesse sentido, cabe-nos colocar algumas ponderações importantes acerca do caráter dúbio, contraditório e desigual dessas mudanças tendenciais, bem como reforçar a continuidade, ainda que mais sofisticada, da alienação do trabalho no capital. Essa ponte entre as mudanças do padrão acumulativo do capital e suas estratégias de auto-expansão marcadas com a implementação disforme do receituário neoliberal em cada canto do globo e as mudanças na produção de comportamentos, formas de sentir e estar no mundo, de produção de subjetividades, faz-se imprescindível para que se alcance leituras desde a essência deste momento histórico que possam apontar cenários e possibilidades. Assim, compreender o esfacelamento dos laços sociais, os processos de essencialização do outro, a fragmentação das lutas, o hiperconsumismo, o surgimento de novos sujeitos históricos, a intensidade e os mecanismos de controle de grupos sociais significa ressignificar qualitativamente o sociometabolismo do capital. Estendemos como nossas as palavras de Ricardo Antunes sobre o impacto das mudanças entre as décadas de 70 e 80 do século passado para a classe trabalhadora: Foram tão intensas as modificações, que se pode mesmo afirmar que a classe-quevive-do-trabalho sofreu a mais aguda crise deste século, que atingiu não só a sua materialidade, mas teve profundas repercussões na sua subjetividade e, no íntimo inter-relacionamento destes níveis, afetou a sua forma de ser (ANTUNES, 2006, p. 23).
As especificidades da subsunção do trabalho ao capital nesse período exigem um compromisso integral da e do trabalhador(a), um “vestir a camisa” da empresa, o que causa impactos incalculáveis na sofisticação dos níveis de sua exploração e na produção de sua subjetividade. Antunes analisa este ponto abaixo, a partir da descrição da expansão do toyotismo para a Europa e outras partes do mundo:
61 Concepção que se sustenta, portanto, na convivência e na colaboração entre as classes sociais, relação esta concebida como cooperativa. Isto supõe, evidentemente, a incorporação e aceitação, por parte dos trabalhadores, da política concorrencial e de competitividade, formulada pelo capital, que passa a fornecer o ideário dos trabalhadores. O que é o “espírito Toyota”, a “família Toyota”, a “Nissan, fábrica da nova era”, o “sindicato-casa”, senão a expressão mais límpida e cristalina deste mundo do trabalho que deve viver o sonho do capital? (ANTUNES, 2006, p. 40).
O autor descreve ainda, com muita habilidade, como a incorporação do toyotismo não significou “um novo modo de organização societária, livre das mazelas do sistema produtor de mercadorias” (ANTUNES, 2006, p.40) e muito menos significaria algum tipo de progresso em relação ao fordismo, sendo o estranhamento do trabalhador no processo de produção ainda mais intensificado, ainda que complexamente mais manipulatório: Deste modo, embora reconheçamos que o estranhamento do trabalho, que decorre do modelo toyotista, tem elementos singulares – dados pela própria diminuição das hierarquias, pela redução do despotismo fabril, pela maior “participação” do trabalhador na concepção do processo produtivo -, é de todo relevante enfatizar que essas singularidades não suprimem o estranhamento da era toyotista. A desidentidade entre indivíduo e gênero humano, constatada por Marx nos Manuscritos, encontra-se presente e até mesmo intensificada em muitos segmentos da classe trabalhadora japonesa – e não estamos mencionando aqui as consequências nefastas da toyotização, em franco processo de expansão em tantos outros contingentes de trabalhadores em diversos países. A subsunção do ideário do trabalhador àquele veiculado pelo capital, a sujeição do ser que trabalha ao “espírito” Toyota, à “família” Toyota, é de muito maior intensidade, é qualitativamente distinta daquela existente na era do fordismo. Esta era movida centralmente por uma lógica mais despótica; aquela, a do toyotismo, é mais consensual, mais envolvente, mais participativa, em verdade mais manipulatória (ANTUNES, 2006, p. 41-42).
Portanto, mudanças inegáveis estão em curso, que precisam ser compreendidas nas suas profundezas, porém a lógica de reprodução do capital se mantém intacta e a classe trabalhadora continua classe trabalhadora, com toda a exploração, a desumanização e, ao mesmo tempo, uma ontológica força revolucionária, aprimorada com o alto desenvolvimento das forças produtivas. (...) aparência da eliminação efetiva do fosso existente entre elaboração e execução no processo de trabalho. Aparência porque a concepção efetiva dos produtos, a decisão do que e de como produzir não pertence aos trabalhadores. O resultado do processo de trabalho corporificado no produto permanece alheio e estranho ao produtor, preservando, sob todos os aspectos, o fetichismo da mercadoria (ANTUNES, 2006, p. 46).
Para concluir esta etapa do raciocínio destacamos, ademais, que a alta tecnologização da produção, permeada pela aparente lógica colaborativa e cooperativa da e do trabalhador(a), vem necessariamente acompanhada de uma acumulação flexível, que demanda terceirizações e flexibilizações das relações laborais, bem como intensifica os processos de desenvolvimento desigual entre setores de produção e entre regiões geográficas.
62 Portanto, há concomitâncias de processos, na velha dicotomia do arcaico e do moderno, que sustenta ainda mais as possibilidades de expansão do capital nesta era. É nesse contexto de transformações que De Giorgi (2006, p. 89) busca responder “quais tecnologias de controles e formas de racionalidade do domínio se constituem a partir do esgotamento do fordismo, do encerramento do ciclo industrial do capitalismo e da transformação da força de trabalho pós-fordista em multidão”. Apesar de, desde a nossa concepção, não ter havido o esgotamento do fordismo, muito menos o encerramento do ciclo industrial do capitalismo, estamos dialogando e ponderando com esse autor por entender que possui importantes contribuições, ainda que com bases teóricas distintas, o que interfere em certas análises e conclusões. A reflexão sobre as “novas tecnologias de poder” passa pela noção de que neste período, pelas mudanças das dinâmicas das relações sociais, especialmente com as alterações no processo de trabalho, os mecanismos de controle não são individualizados, mas operam por grupos denominados “de risco”, não são a partir do conflito, mas sim em uma afirmação de periculosidade e em um exercício de antecipação do provável crime a ser cometido por determinado indivíduo, componente de um determinado grupo social. Ou seja, um processo de essencialização, no qual eles se tornam em si o risco, independentemente de sua conduta. Como afirma De Giorgi (2006, p. 91), “esta condição de não-saber qualifica os dispositivos de controle e os orienta para uma função de supervisão, de limitação do acesso, de neutralização e de contenção do excesso” . Algumas classificações concorrem para explicar tal fenômeno. Alguns dizem que estaríamos ultrapassando o Panopticon para o Oligopticon, no qual “grupos sociais restritos exercem um poder de vigilância sobre outros grupos sociais restritos” ou ao Synopticon: Na ‘sociedade do espetáculo’ contemporânea não seriam mais os poucos a vigiar os muitos para obriga-los a seguir as regras, mas sim os muitos, constantemente transformados em ‘público’, que admirariam as façanhas dos poucos e interiorizariam valores, atitudes e modelos de comportamento, tornando-se assim indivíduos responsáveis e consumidores confiáveis (DE GIORGI, 2006, p. 93).
Seja como for, o que se vislumbra é um conjunto “de tecnologias de controle orientadas para o internamento, para a vigilância e para a limitação do acesso” (DE GIORGI, 2006, p. 93), com a cidade cada vez mais guetizada e controlada e os estabelecimentos penais operando desde uma lógica gerencial. o conceito qualificante desta racionalidade é o de risco. As novas estratégias penais se caracterizam cada vez mais como dispositivos de gestão do risco e de repressão preventiva das populações consideradas portadoras desse risco. Não se trata de aprisionar criminosos perigosos individuais, isto é, de neutralizar fatores de risco
63 individual, mas sim de gerir, ao nível de populações inteiras, uma carga de risco que não se pode (e, de resto, não se está interessado em) reduzir. A racionalidade que estamos descrevendo não é disciplinar, e sim atuarial (DE GIORGI, 2006, p. 97).
Conforme delinearemos no tópico seguinte, a partir do diálogo com Wacquant, o que passa a acontecer é que a força de trabalho excedente começa a ser controlada menos por mecanismos assistenciais e mais por “instituições penais de gestão da pobreza”, sob novas técnicas e objetivos, bem como por monitoramentos eletrônicos que estabelecimentos novas dinâmicas nas grandes cidades. Daí que, para De Giorgi (2006, p. 104) “o controle se materializa numa arquitetura que não regula o encontro, mas o impede, não governa a interação, mas cria obstáculos a ela, não disciplina as presenças, mas as torna invisíveis”. Ademais, tende-se a abandonar os discursos “res” (ressocializar, reinserir, reeducar etc) e assumir declaradamente uma função neutralizadora da pena. Conforme abordaremos em todo este trabalho e iremos tratar, inicialmente, em item próprio ao final deste capítulo, a realidade aqui sempre foi outra e essa mudança paradigmática não se aplica. O que não quer dizer que não sintamos os impactos da lógica gerencial na política criminal brasileira, mas, primeiro, não vivenciamos uma sociedade disciplinar tal como nas realidades europeia e estadunidense e, segundo, tal lógica é necessariamente híbrida com técnicas da máxima modernidade de cárcere e fábrica e, sobretudo, pelo histórico e constitutivo autoritarismo escravagista e patriarcal que funda nossa nação fraturada.
1.2.4 O Estado Centauro de Wacquant, a situação de insegurança social e as suas e as nossas divergências teóricas
Conforme descrevemos previamente, a partir de agora complementaremos o raciocínio das características do controle penal nesta etapa histórico-estrutural do capitalismo com as reflexões em torno das ideias e proposições de Loïc Wacquant. Para Wacquant, o sistema penal assume neste período um funcionamento e uma funcionalidade específicos, diante de rearranjos do Estado, em um momento de mudanças no mundo do trabalho, que agora prioriza a gestão punitiva das desigualdades e pobreza: A penalização paternalista da pobreza almeja conter as desordens urbanas alimentadas pela desregulamentação econômica e disciplinar as frações precarizadas da classe trabalhadora pós-industrial. Programas diligentes e beligerantes de ‘lei e
64 ordem’, abrangendo a ampliação e a exaltação da polícia, dos tribunais e da penitenciária, também se espalharam pelo Primeiro Mundo porque permitem às elites políticas reafirmar a autoridade do estado e reforçar o déficit de legitimidade que atinge as autoridades quando abandonam a missão da proteção social e econômica estabelecida durante a era fordista-keynesiana (WACQUANT, 2012, p. 13).
O autor parte da constatação de que o boom prisional, acompanhado de outros mecanismos institucionais de controle, não possui relação proporcional com o aumento da criminalidade no mesmo período. Ele analisa essa realidade a partir dos Estados Unidos, ainda que suas explicações tenham pretensões globais. Baseando-se na teoria de Pierre Bourdieu, especialmente seu conceito de campo burocrático12, sustentará sua tese de que “um sistema penal proativo não é um desvio, mas sim um ingrediente constitutivo do Leviatã neoliberal, juntamente com variantes do trabalho social gerencial e da alegoria cultural da ‘responsabilidade individual’” (WACQUANT, 2012, p. 15). Para Wacquant, ao contrário de Garland, o desenvolvimento do Estado-centauro13 mostra o “sucesso” da promessa política neoliberal: A implementação do estado penal e o seu acoplamento com o trabalho social conferiram aos altos funcionários do estado uma ferramenta efetiva tanto para promover a desregulamentação do trabalho quanto para conter as desordens que a desregulamentação econômica provoca nos degraus mais baixos da hierarquia socioespacial. E, o mais importante, permitiu aos políticos compensar o incômodo déficit de legitimidade gerado pelos cortes no auxílio econômico e nas proteções sociais, tradicionalmente garantidos pelo Leviatã (WACQUANT, 2012, p. 25).
Wacquant constrói sua teorização sobre o Estado Penal desde a crítica a três autores e suas principais concepções: (...) um contraste entre a penalização como uma técnica para a administração da marginalidade na metrópole dual com a visão de Michel Foucault do lugar da prisão na ‘sociedade disciplinar’, com o relato de David Garland da cristalização da ‘cultura do controle’ na modernidade tardia, e com a caracterização de David Harvey da política neoliberal e sua proliferação no cenário mundial (WACQUANT, 2012, p. 15).
12 “Em A miséria do mundo e ensaios correlatos, Pierre Bourdieu propõe que interpretemos o estado não como um espaço fragmentado de forças que disputam a definição e a distribuição de bens públicos, o qual ele denomina ‘campo burocrático’. A constituição desse espaço é o resultado final de um processo de longo prazo de concentração das diferentes modalidades de capital que operam em uma dada formação social” (WACQUANT, 2012, p. 15-16). 13 Wacquant (2012, p33) caracteriza o Estado neoliberal como Estado Centauro a fim de descrever sua dubiedade para a classe trabalhadora e sua retirada de direitos e para os representantes do grande capital e suas proteção e salvamentos financeiros. Conforme palavras do autor: “na realidade, o estado neoliberal se revela muito diferente: enquanto, no topo, abraça o laisser-faire, liberando o capital de restrições e ampliando as oportunidades de vida para os detentores de capital econômico e cultural, nos estratos inferiores ele é tudo, menos laisser-faire. Na verdade, quando tem de lidar com a turbulência social gerada pela desregulamentação e de impor a disciplina do trabalho precarizado, o novo Leviatã mostra-se ferozmente intervencionista, autoritário e caro” .
65 Quanto a Garland, Wacquant acrescenta sua diferença com a noção de insegurança social e sua aderência à criminalidade: Para ser mais preciso, as correntes de ansiedade social que agitam as sociedades avançadas têm suas raízes na insegurança social objetiva verificada no interior da classe trabalhadora pós-industrial, cujas condições materiais se deterioram com a difusão do trabalho assalariado instável e sub-remunerado, despojado dos ‘benefícios’ sociais costumeiros, e na insegurança subjetiva reinante entre as classes médias, cujas perspectivas de reprodução garantida ou de mobilidade vertical obscureceram-se, ao mesmo tempo em que a competição por posições socialmente valorizadas se intensificou e o estado reduziu sua provisão de bens públicos. A opinião de Garland de que ‘taxas elevadas de criminalidade tornaram-se um fato social normal, um elemento de rotina da consciência moderna, um risco do dia-a-dia a ser avaliado e administrado’ pela ‘população em geral’ e, especialmente pela classe média, é desmentida pelos estudos sobre vitimização (WACQUANT, 2012, p. 25).
Esta divergência é de suma importância e se conecta com o fio condutor de nosso trabalho, que rompe, em certa medida, com o que Wacquant denomina relação “crimecastigo” e que nós nomeamos, logo ao início do texto, como perspectiva desde a reação social (estudo dos processos de criminalização), pois, assim como o autor, pensamos que a análise deve atravessar “os domínios da política, para conectar as tendências penais à reestruturação socioeconômica da ordem urbana, por um lado, e para unir o trabalho social ao regime prisional, por outro” (WACQUANT, 2012, p. 26). Wacquant defende que, ao contrário do que Garland aponta, o que movimenta e, em certa medida, legitima o fortalecimento do uso das prisões e outras técnicas repressivas, não é necessariamente a condição real de violência individual, mas sim o estado de insegurança social. Quanto ao estado de insegurança social que esta nova etapa de acumulação capitalista gera, pensamos ser válido retomar o debate anterior sobre o estranhamento do trabalhador e sua complexificação na pós-grande indústria, especificando seus impactos no que aqui se denomina como sensação de insegurança social, liga necessária para sustentação do Estado Penal. Como dizíamos acima, as transformações no processo de produção nestas últimas décadas impactaram profundamente na forma de ser das e dos trabalhadores, especialmente diante da tentativa de esmagamento das grandes narrativas e das lutas sociais organizadas, sustentada pelo discurso de “fim da história”, permeado de ideologias meritocráticas e de hiperindividualismo, bem como por intensos processos de criminalização da pobreza.
66 Dentro deste padrão comportamental neoliberal engessa-se uma responsabilização moral das populações por sua pobreza e miséria, gerando naturalização da sua condição, sentimento de inferioridade, culpa, vergonha, depressão. Joel Birman, desde a psicanálise, realiza importante contribuição no sentido de percebermos os impactos dos processos de criminalização na fase neoliberal, pois o analisa “como forma de subjetivação, na medida em que tal processo tem na agressividade e na violência o seu canteiro de obra” (BIRMAN, 2012, p. 153). Marildo Menegat (2012, p.209) complementa este raciocínio sobre as dimensões do estado de insegurança social atual exportando um conceito de Frederic Jameson de “mudança estrutural dos sentimentos”: A mudança das relações sociais no turbilhão do processo de dissolução da estrutura da sociedade pode perfeitamente ser incluída e entendida, nas suas consequências, como uma mudança estrutural dos sentimentos, a qual, pelo caráter regressivo destas transformações, não encontra representação razoável no cipoal das ilusões produzidas pelos funcionários da ordem. Esta mudança da estrutura dos sentimentos auxilia o entendimento, se aceitarmos a ampliação do seu raio explicativo para além da esfera da cultura, de por que a ‘insegurança social’ se tornou um modo não apenas de se sentir que algo desmorona, sem, contudo, se saber efetivamente o que, como também um modo de perceber o uso que deste sentimento é feito pelo campo burocrático, do qual retira boa parte da legitimação para suas políticas.
O autor complementa este raciocínio refletindo que o esfacelamento dos laços sociais nesta etapa do capitalismo também se deve à quantidade desproporcional do chamado “exército industrial de reserva”. Para ele, aqueles que ainda estão inseridos na ordem passam a ter “um sentimento difuso de horror” por essa massa de excluídos. (...) quando passou a ser necessário para a continuidade deste mesmo processo social que em torno de 700 pessoas para cada 100 mil habitantes sejam encarcerados, ou então, que 27 pessoas para cada 100 mil sejam mortos anualmente, ou mesmo, que se gaste em torno de doze meses em média para se encontrar um novo emprego, para os que ainda se mantêm na procura, sem que isso produza uma crise política ou uma comoção coletiva, é que algo fundante da solidariedade social foi rompido (MENEGAT, 2012, p. 210).
Um verdadeiro amortecimento das sensibilidades humanas. A violência do Estado passa a ser, cada vez mais, consentida ideologicamente e naturalizada como se permitida fosse, como se a sua ocorrência – protocolar e cotidiana, legalizada ou subterrânea, porém sabida amplamente – pudesse ser (e é!) compatível com os parâmetros democráticos burgueses. Wacquant irá conceber o Estado como um espaço complexo e multifacetado, composto de forças distintas que disputam rumo e concepções. Desde aí, a partir de Bourdieu, vai dizer que o Estado possui a “mão esquerda” e a “mão direita”. Com uma linguagem
67 sexista e infeliz, que nenhum de seus doutos comentadores ousa questionar 14, atribuindo características ontológicas ao feminino e ao masculino, naquilo que há de mais nítida construção de seus papéis sociais, o cuidado e a delicadeza, de um lado, e a força e brutalidade, de outro15. Assim, o autor desenvolverá a noção de que a mão esquerda é a feminina, a parte do Estado responsável pelos aspectos sociais e de tutela dos desprovidos economicamente – de saúde, educação, moradia a assistência social e proteção trabalhista – , enquanto a mão direita funciona pela implementação do monopólio do poder de punir do Estado como um dos meios de garantir a tarefa de “reforçar a nova disciplina econômica através de cortes no orçamento, incentivos fiscais e desregulamentação econômica”. Assistência (tornada, na realidade estadunidense e europeia, trabalho social) e encarceramento possuem o mesmo público-alvo e se complementam: À falta de atenção para com os pobres por parte da mão esquerda do estado contrapõe-se, com sucesso, a dupla regulação da pobreza pela ação conjunta da assistência social transformada em trabalho social e de uma agressiva burocracia penal. A cíclica alternância de contração e expansão da assistência pública é substituída pela contração contínua do bem-estar e pela expansão descontrolada do regime prisional (WACQUANT, 2012, p. 17).
A tese crítica a Foucault, reforçada como importante pelos autores que dialogam com Wacquant e que é confirmada a olho nu é que o desenvolvimento da modernidade não retirou a importância e o uso da prisão, sendo seu exato oposto. Nesse mesmo sentido, outra tese, bastante coerente para a realidade não periférica, é que houve um salto da função disciplinar do cárcere na contemporaneidade: Ao invés do adestramento (‘treinamento’ ou ‘domesticação’), destinado a moldar ‘corpos dóceis e produtivos’, postulado por Foucault, a prisão contemporânea é direcionada para uma neutralização brutal, uma retribuição automática e a um
14 Muito ao contrário. Para Joel Birman (2012) por exemplo, um de seus comentadores, com a implementação das políticas neoliberais, os Estados-Nação se enfraquecem simbolicamente e ocorre uma “ritualização ostensiva da força realizada pelo estado-nação”. O que, assim como Wacquant, de maneira machista, Joel Birman afirma ser a libidinização e deslibidinização do Estado. O que demonstra quão pouco esses estudiosos sabem sobre o tornar-se mulher nesse mundo, ao ignorarem (e pior, estereotiparem) como maior ou menor libido sexual são características completamente apartadas de uma divisão do feminino e do masculino. 15 Quanto a este ponto, insistimos na importância de que destaquemos sempre e sempre o nosso repúdio a uma linguagem sexista que traz em si uma concepção de mundo e de poder. Não é possível que se tolere dentro do campo criminológico crítico ideias conservadoras, regressivas e, mais do que tudo, opressoras. Estamos a tratar de um campo do pensamento que deveria ser, em si, transgressor, construtor de uma criminologia da libertação. Ao longo das últimas seis décadas produziu-se muito material de fôlego desde a criminologia feminista, mas ainda hoje, ano de 2018, necessitamos frisar a importância e centralidade das epistemologias feministas no campo criminológico. Não se pode encarar o relevo dessas contribuições epistemológicas para lidar com “problemas de mulheres”, com temas que exclusivamente tratem da relação entre violência e gênero. Estamos falando da necessidade de uma epistemologia feminista que estruture nosso olhar científico (e militante!) ao mundo. (o negrito é politica e propositalmente colocado aqui).
68 simples armazenamento – por defeito, se não for algo intencional. Se, hoje em dia, há ‘engenheiros da consciência’ e ‘ortopedistas da individualidade’ trabalhando na rede de poderes disciplinares, certamente eles não são empregados pelos departamentos correcionais (WACQUANT, 2012, p. 22).
Importante relacionar as políticas assistenciais e suas transformações autoritárias neste período – no caso dos Estados Unidos, muito exemplificadas pela workfare – e a mudança da justificativa declarada da existência da prisão, com o fim do argumento reabilitador e a assunção de seu papel neutralizador. Isso significa que, por um período, em um determinado contexto global, as políticas assistenciais mais estruturadas e menos atreladas ao punitivismo eram possíveis e, mais do que isso, necessárias para garantir a reprodução e expansão do sociometabolismo do capital. A fase dourada do capitalismo, quando se podia dar os anéis sem que se arrancassem os dedos, ainda que sob muita luta e mobilização popular. A precarização e sucateamento das políticas assistenciais, acompanhadas de um aumento de políticas eficientistas de “ordem nas ruas” e um boom do encarceramento, são sustentadas também por uma mudança de discursos ideológicos. Como afirmamos acima, ao tratar do conceito de “sociedade de controle” e do aspecto gerencial e neutralizador do sistema penal, o Estado penal neoliberal vai abandonando os discursos com quaisquer promessas educativas e de reinserção social e admitindo teorias e práticas de rotulação, a começar pelas novas justificativas dogmáticas de criminalização primária, como desenvolve abaixo Nilo Batista: Os efeitos do punitivismo neoliberal sobre a reflexão penalística e a legislação penal estão hoje bem visíveis. A expansão da criminalização primária se vale de dispositivos teóricos preocupantes, como os crimes de perigo abstrato, a tipificação de atos preparatórios, os delitos-obstáculos, os bens jurídicos aparentes, os delitos de acumulação (BATISTA, 2012, p. 224).
A correlação de forças se altera. Wacquant atribui isso a uma espécie de reação da classe privilegiada às conquistas sociais e populares, especialmente de negras e negros e mulheres de forma geral. Isso geraria um reforço da denominada por ele “mão direita” do Estado, uma mudança significativa da estrutura estatal feita pelo “andar de cima”. Como interpreta Menegat “a fase persuasiva da adesão à ordem foi substituída por uma ‘lógica controladora em larga escala’. Antes a adesão era negociada a partir de ganhos, agora, da ameaça de perdas maiores” (MENEGAT, 2012, p. 207). Concordamos em muito, mas não em tudo. Como sintetizaremos um pouco abaixo, essa análise do neoliberalismo, ainda que perspicaz no âmbito político da percepção de como
69 se desenvolvem os processos de dominação consentida nesta etapa do capitalismo, não pode ser desatrelada de um olhar para as mudanças econômicas no processo produtivo. Complementando o raciocínio do autor, destacamos que essa alteração de pesos entre as mãos do Estado, em Wacquant, está muito atrelada a uma máxima, alardeada aos quatro ventos e cantos do mundo teórico criminológico, que é a de que nesta fase do capitalismo o Estado Penal se sobrepõe ao Social (Estado Penal máximo, Estado Social mínimo). Como dialoga Joel Birman: Assim, é possível sublinhar a existência de retração do trabalho social, por um lado, e a expansão grotesca do regime prisional, pelo outro. Seria esta a configuração específica, na direção das linhas de força, o que condensaria os destinos traçados para a insegurança social do neoliberalismo. Portanto, seriam essas direções claramente divergentes assumidas pelo estado neoliberal, que fragilizaria o trabalho social por um lado, e que em contrapartida incrementaria o regime prisional pelo outro, num movimento significativo que tem a forma de uma gangorra (BIRMAN, 2012, p. 156).
Dentre as questões mais urgentes a serem reinventadas por trabalhos criminológicos críticos latino-americanos e, mais especificamente brasileiros, está a reflexão da insuficiência das fórmulas do welfarismo penal e suas consequências, pois, ainda que tenhamos uma base estrutural comum, as mutações dos padrões de acumulação do capital manifestam-se desigual e combinadamente em todo o globo e, por exemplo, este movimento de gangorra não se vislumbra rigidamente em países como o nosso, pois constituem muito mais um movimento de retroalimentação, como estudaremos no capítulo seguinte. Dando continuidade aos principais pilares de sua teoria, Wacquant institui – como já antecipamos em momento anterior – uma falsa polêmica com Garland e que talvez reforce a necessidade de reafirmarmos nossas divergências de leitura estrutural desse momento histórico do capitalismo. O autor, com razão, aponta como as políticas endurecidas de encarceramento deste período não estão restritas a gestões de estado mais à direita, mas sim generalizadas. Porém, para desconstruir essa ideia em Garland, ele desenvolve o raciocínio de que o que sustenta a guinada punitivista é estritamente o neoliberalismo e não alguma alteração mais longa e estrutural do funcionamento do capitalismo, como a concepção de “modernidade tardia” apresenta. Ele fala ainda que a “dupla regulação das frações inseguras do proletariado pósindustrial através do casamento da política social com a política penal na base da estrutura polarizada de classe constitui uma inovação estrutural fundamental” (WACQUANT, 2012, p. 28). Para ele, tal fenômeno:
70 não é o resultado dessa ou daquela ampla tendência social mais ampla – seja a ascensão do ‘biopoder’, seja o advento da ‘modernidade tardia’ – mas sim, basicamente, de um exercício de modelagem estatal. Essa contenção participa da renovação concomitante do perímetro, das missões e das capacidades das autoridades públicas nas frentes econômica, assistencial e punitiva. Essa renovação só foi rápida, ampla e profunda nos Estados Unidos, mas se encontra em curso – ou sob questionamento – em todas as sociedades avançadas submetidas à pressão incessante para se conformar ao padrão estadunidense (WACQUANT, 2012, p. 28).
Por fim, ele afirmará que o sistema penal é uma estrutura essencial do estado capitalista, que no neoliberalismo terá necessariamente sua ampliação e exaltação a fim de “mitigar o descontentamento popular pelo abandono das suas tradicionais obrigações econômicas e sociais” (WACQUANT, 2012, p. 30). E que neste período há uma tendência à difusão em todo o mundo da política punitivista vigente e seu aspecto gerencial. Esta análise do descolamento do neoliberalismo e do fenômeno nomeado pelos autores pós-modernos como “modernidade tardia” – mas que, em suma, está bem relacionado com as mudanças paradigmáticas na relação-capital entendidas pelos marxistas no período da pósgrande indústria –, é complementada por Wacquant por uma crítica a David Harvey de ser responsável por uma conceituação economicista do fenômeno neoliberal. Pretendemos, a seguir, descrever esta última contraposição de ideias para, posteriormente, alcançarmos nossa síntese acerca do que entendemos como uma falsa e prejudicial dualidade teórica. Aqui apenas firmamos a ideia de que não há possibilidade de falar do neoliberalismo apenas como uma dança das cadeiras dos gestores burgueses do Estado, como uma mudança meramente política. Há que se relacionar o fenômeno neoliberal com os impactos sociais e subjetivos das metamorfoses do mundo do trabalho, necessariamente. Seguindo, Marildo Menegat elogia a tentativa de tornar o olhar teórico sobre o fenômeno neoliberal mais sociológico (o que ele, ironicamente, afirma ser o que, apesar do medo de rotulações comunistas possíveis, entende-se como “compreensão do processo da totalidade social”), porém entende que as críticas a Harvey como um autor economicista, relacionando seus fundamentos a um determinismo althusseriano, são completamente descabidas. Bastante influenciado por autores como Henri Lefebvre, o marxismo de Harvey é mais uma tentativa de ultrapassagem deste limite (do economicismo) do que sua tosca repetição (...). Conceitos por ele desenvolvidos, como o de ‘acumulação via espoliação’, ou de ‘coerção consentida’, que explicam o modus operandi das novas formas de dominação da periferia do capitalismo, não podem ser estranhos à compreensão do regime de exceção destes tempos (...). Esta questão seria sem importância não fosse o detalhe de que sempre que Wacquant procura caracterizar o neoliberalismo o faz simplificando o entendimento mais profundo da centralidade que a dinâmica econômica adquire na atualidade da sociedade moderna (MENEGAT, 2012, p. 214).
71 Para Harvey o mais importante é perceber como as ideias neoliberais se hegemonizaram e se transformaram em práticas político-econômicas globais. Ao contrário do que relata Wacquant, quanto ao economicismo do autor, sua percepção do fenômeno permeia uma série de aspectos sociais, como inicialmente podemos demonstrar abaixo: O processo de neoliberalização, no entanto, envolve muita ‘destruição criativa’, não somente dos antigos poderes e estruturas institucionais (chegando mesmo a abalar as formas tradicionais de soberania do Estado), mas também das divisões do trabalho, das relações sociais, da promoção do bem-estar social, das combinações de tecnologias, dos modos de vida e de pensamento, das atividades reprodutivas, das formas de ligação à terra e dos hábitos do coração (...) Ele sustenta que o bem social é maximizado se se maximizam o alcance e a frequência das transações de mercado, procurando enquadrar todas as ações humanas no domínio do mercado (...) Isso requer tecnologias de criação e de informações (...). Disso decorre o interesse do neoliberalismo pelas tecnologias de informação e sua promoção dessa tecnologia (o que levou alguns a proclamar a emergência de um novo tipo de ‘sociedade da informação’)” (HARVEY, 2008, p. 13).
Um ponto fundamental do pensamento de Harvey sobre o desenvolvimento neoliberal trata-se da necessidade de ampliar a acumulação de capitais, bem como de se restaurar um poder de classe. O autor, ao longo de suas obras, especialmente as que tratam especificamente do fenômeno neoliberal, vai descrevendo como foram as experiências neoliberalizantes em todas as pontas do mundo e, assim, percebendo o fracasso no justificado estímulo ao crescimento ou promoção do bem-estar, porém, ao contrário, “teve notável sucesso na restauração ou, em alguns casos (a Rússia e a China, por exemplo) na criação do poder de uma classe econômica” (HARVEY, 2008, p. 27). Assim, a concretização histórica do neoliberalismo provou ser ele um projeto de restauração de poder, descarado, sem limites. Ao que nos parece tal percepção do autor está em bastante sintonia com as constantes chamadas de Wacquant quanto às ameaças dos movimentos de negritude e feminista da década de sessenta e a saída neoliberal como uma resposta também política repressiva a tais movimentações sociais. Harvey, assim como outros autores por nós já trabalhados, desenvolve alguns raciocínios para pensar como se deu o predomínio do âmbito financeiro e sua intrínseca conexão com a produção, assim como o destaque dos setores de tecnologia da informação nesse processo de mundialização do capital. As grandes corporações assumiram uma orientação, crescentemente financeira, mesmo quando, como no setor automotivo, estavam voltadas para a produção (...). As fusões intersetoriais uniram a produção, a comercialização, as propriedade imóveis e os interesses financeiros de novas maneiras, produzindo diversificados conglomerados (HARVEY, 2008, p. 41).
72 Isso significava a financialização de tudo. O autor aponta como a neoliberalização em alguns países se implementou por meio de golpes ou por uma imposição incontestável por parte do FMI, mas na grande maioria ocorreu um consentimento geral da população, garantido pelas instituições mediadoras. E isso só seria possível por meio de uma sustentação ideológica – cultural. A neoliberalização precisava, política e economicamente, da construção de uma cultura populista neoliberal, fundada no mercado que promovesse o consumismo diferenciado e o libertarianismo individual. No tocante a isso, ela se mostrou mais que compatível com o impulso cultural chamado “pós-modernismo”, que havia muito espreitava no ninho, mas agora podia surgir, emplumado, como dominante tanto cultural quanto intelectual. Foi esse o desafio que as corporações e as elites de classe se puseram a aprimorar nos anos 1980 (HARVEY, 2008, p. 52).
Harvey complementa este raciocínio sobre a mercantilização da vida com dois elementos que nos parecem fundamentais para o nosso raciocínio temático e que Wacquant não deveria ter menosprezado. O primeiro é que esta financialização de tudo recupera um padrão acumulativo do capitalismo da manufatura, o que ele denomina como acumulação por espoliação, com a retomada de mecanismos de extração de mais-valia absoluta, seja pela exploração e mercantilização de novos e intocáveis elementos da natureza, pelo conflito desproporcional com povos tradicionais (etnocídio contemporâneo) em busca de novas e necessárias possibilidades de expansão do capital, seja pela criação de doenças e provocação de mortes seletivas para a expansão da indústria farmacêutica, seja pelo impulsionamento da indústria de armamentos e a criação do mercado da violência, entre outros elementos de privatização e “patentização”, do genoma humano às propriedades fitoterápicas de uma planta silvestre. O segundo é a constatação, desde a grande crise econômica de 2007-2008, de que as promessas de novos padrões de aquecimento econômico e acumulação do capital não poderiam ser cumpridas, que a sua instabilidade passava a gerar reações e que era preciso lançar mão de novos métodos de contenção dos efeitos danosos da incontrolabilidade do capital. Fortalece-se a solução neoconservadora ou neo-autoritária para as contradições do neoliberalismo, permeada por um conservadorismo moral (defesa do direito à vida, da família tradicional e de discursos e práticas machistas, racistas, xenófobos e LGBTfóbicos) e uma “preocupação com a ordem como resposta aos caos de interesses individuais” (HARVEY, 2008, p. 92). Sobre este segundo ponto – ainda que de fato o autor não o coloque como sua única centralidade –, diferentemente do que aponta Wacquant, Harvey atribui um peso político e
73 tendencial aos processos de militarização da vida social, já bastante aperfeiçoados nos Estados Unidos e que vêm se multiplicando em muitos cantos do mundo16. Ele descreve o pioneirismo nova-iorquino de Rudolph Giuliani na radicalização da política de ordem nas ruas para exemplificar o viés de imposição da ordem para conter as individualidades em alguma medida transgressoras. Se necessário, o Estado neoliberal além disso recorre a legislações coercivas e táticas de policiamento (por exemplo, regras antipiquete) para dispersar ou reprimir formas coletivas de oposição ao poder corporativo. As maneiras de vigiar e policiar se multiplicam: nos Estados Unidos, a prisão se tornou uma estratégia-chave do Estado para resolver problemas que surgem entre trabalhadores descartados e populações marginalizadas. O braço coercivo do Estado é fortalecido para proteger interesses corporativos e, se necessário, reprimir a dissensão (HARVEY, 2008, p. 87).
Sendo assim, há que se ter olhos atentos e abertura teórica para absorver as importantes contribuições deste marxista heterodoxo para melhor compreendermos o papel do controle penal no atual estágio deteriorado do capitalismo.
1.2.5 Nossa síntese (em construção): o controle penal como carro-chefe do estado de barbárie do capitalismo contemporâneo
Em suma, Wacquant trata da realidade estadunidense, porém compreende o fenômeno neoliberal como um projeto político transnacional, que significa mudanças profundas no estado, na economia e na gestão social desde um projeto da elite. Ademais, assim como todos os autores que trabalham com a temática em uma perspectiva crítica, o autor concebe a função do Estado neoliberal como plenamente ativa e interventora, pois, como o próprio afirma, “quando tem de lidar com a turbulência social gerada pela desregulamentação e de impor a disciplina do trabalho precarizado, o novo Leviatã mostra-se ferozmente intervencionista, autoritário e caro” (WACQUANT, 2012, p. 33).
16 Como aprofundaremos no segundo capítulo, em tempos de usos de tanques de guerra no Complexo do Alemão; decreto pela intervenção do exército e uso de armas de fogo contra manifestação massiva de centrais sindicais e organizações populares por Eleições Diretas Já e contra as (contra)reformas trabalhista e da previdência; em tempos de Amarildo e Rafael Braga; chacina de camponeses no Pará(Chacina de Pau D´Arco); massacre dos indígenas Gamela no Maranhão; centena de mortos em presídios em menos de um mês, expondo ao público a dita “crise penitenciária”; repressão brutal e decretação de internações compulsórias na região do centro de São Paulo conhecida como “Cracolândia”; nesses tempos percebe-se que o Brasil vem aprofundando sua lógica de militarização com eficiência e barbárie.
74 Em continuidade ao nosso raciocínio, Marildo Menegat, com precisão cirúrgica, capta o limite do raciocínio de Wacquant ou de qualquer pensamento que não se proponha a compreender o porquê de determinadas características sociais e institucionais do capitalismo em cada fase de acumulação a partir das intrínsecas necessidades e atuais dificuldades de “valorização do valor”. Só se pode compreender o comportamento do Estado desde a noção das dinâmicas do sociometabolismo do capital. (...) explicações como ‘um novo regime econômico, baseado na hipermobilidade do capital e na flexibilidade do trabalho’, pouco acrescentam além do anúncio de uma suposta materialidade que explica o movimento das políticas públicas. Por que a hipermobilidade do capital e a flexibilidade do trabalho tornaram-se imposições às lutas intestinas do campo burocrático estão longe de ser respondidas. Tem-se a impressão de que um coelho foi tirado da cartola (MENEGAT, 2012, p. 215).
Como dissemos anteriormente, existe uma relação necessária entre as formas de Estado capitalista e as formas de subsunção do trabalho ao capital, não há como dissociá-los. Nosso movimento é tríplice – ou melhor, quádruplo – neste trabalho: compreender as características da fase atual da ordem sociometabólica do capital, sua capa neoliberal → para isso, compreender suas engrenagens essenciais e suas mutações históricas → só assim poder tratar do fenômeno atual do gigantismo do controle penal e, especificamente, do encarceramento penal → tudo isso desde um olhar periférico, a partir da percepção desigual e combinada destes fenômenos. Assim como o Estado, o pensamento político ideológico é imprescindível para a conservação do capitalismo; ambos, o primeiro no plano da ação coletiva concentrada e da violência preventiva e repressiva e o segundo no plano do bloqueio da formação da consciência crítica, têm como função conservar a identidade de uma totalidade social contraditória. Justamente porque são forças de conservação, o Estado capitalista e a ideologia liberal têm de acompanhar o próprio desenvolvimento contraditório do modo de produção capitalista, adaptando-se às mudanças mais profundas que ocorrem nas forças produtivas e, assim, nas relações de produção e na correlação de força entre as classes (PRADO, 2005, p. 129).
Eleutério Prado afirma que o acirramento das relações entre as classes, somado aos desafios da etapa monopolista da grande indústria levaram a uma atuação mais conciliatória e social do Estado, assim como reforçaram as ideias de um liberalismo social. Porém, ressalta nossa sempre presente preocupação – que o Estado de Bem-Estar Social não chegou aqui. Isso quer dizer um estado que regulamenta a concorrência, que balanceia a relação entre capitalistas e trabalhadores, que suplementa as atividades dos capitais privados. Ao invés disso, “nos países da periferia, em que faltavam as condições materiais de desenvolvimento para chegar rapidamente ao amortecimento das lutas de classes, o Estado tornou-se
75 desenvolvimentista” (PRADO, 2005, p. 130). Isto será detidamente explorado no segundo capítulo desta tese, porém aqui firmamos a importância de não se poder perceber as peculiaridades do desenvolvimento do estado periférico, ao menos do latino-americano e, mais precisamente, do brasileiro, sem este movimento geral. Importa aqui apenas frisar que, neste período, “o liberalismo social foi a ideologia apropriada ao período da grande indústria, quando sobrevieram as crises do final do século XIX e quando o capitalismo tornou-se monopolista” (PRADO, 2005, p. 130). No período seguinte, da pós-grande indústria: (...) a produção de tecnologias torna-se uma atividade econômica mais e mais separada da produção propriamente dita de mercadorias. Assim, uma parte importante do capital produtivo confunde-se com o capital financeiro – o qual foi desregulado nas últimas três décadas do século XX – adquirindo, inclusive, a sua lógica de valorização. Como a desregulamentação financeira, após 1980 mostrou-se condição para a reestruturação da dominação do capital, na forma da pós-grande indústria, surge a percepção de que o neoliberalismo seja o domínio do capital financeiro (PRADO, 2005, p. 126).
Assim como tratamos algumas vezes anteriormente, ao contrário do alardeado, o Estado neoliberal não é mínimo em sua intervenção, seja política ou econômica. Como abaixo sabiamente define Eleutério Prado, ele assume o papel de um “agente econômico ativamente passivo”, alicerce imprescindível da perpetuação das estripulias do mercado financeiro e aparato inteligente da contenção dos efeitos catastróficos da possível explosão da bomba relógio que é o desemprego crônico e estrutural desta etapa do desenvolvimento do capitalismo. O Estado, para o liberalismo clássico, deve ser economicamente passivo; para o liberalismo social, ele deve regular ativamente a atividade econômica; já para o neoliberalismo, ele deve ser um agente econômico ativamente passivo (...). Deve ser, pois, um Estado que cria ativamente as condições para a acumulação de capital, que protege os monopólios das crises econômicas, que enfraquece o poder dos sindicatos de trabalhadores assalariados, que despoja os trabalhadores da seguridade social, que privatiza as empresas públicas, que transforma a oferta de bens públicos (como as estradas, os portos, etc.) em serviços mercantis, que não só levanta, enfim, os obstáculos ao funcionamento dos mercados e das empresas, mas é capaz de criar as condições para que estas últimas operem e modo lucrativo (PRADO, 2005, p. 133).
Neste olhar histórico sobre as fases do processo de produção, seus respectivos modelos de Estado e suas ideologias, Eleutério destaca que o liberalismo social, embasado nas noções de igualdade formal e ampliação dos direitos sociais funcionava como solda para as relações sociais daquele período, no sentido de garantir o mais “harmoniosamente” possível que a exploração da classe trabalhadora acontecesse. Com a ativação dos limites absolutos do sociometabolismo do capital, ou seja, em uma fase na qual as contradições sociais não logram
76 ser esquivadas, a ideologia neoliberal é a própria afirmação da contradição, como se inevitável fosse. Se o liberalismo social representa, de certo modo, uma consciência neutralizada da subsunção do trabalho sob o capital, portanto, da essência oculta do capitalismo – e, nesse sentido, vem a ser uma primeira negação -, o neoliberalismo expressa o reconhecimento da contradição entre trabalho e capital, ainda que também de um modo mistificado. A contradição é assumida como disposição social cujo desenvolvimento conflituoso deve ser necessariamente bloqueado e cuja natureza deve ser contrariada por meio de uma unificação de classe. Agora, é a própria contradição que tem de ser objetivamente neutralizada (PRADO, 2005, p. 134).
Com todos estes elementos, só podemos perceber como ideias que foram gestadas no início do século XX e implementadas em nível global apenas no último terço do mesmo demonstram que as diferenças na gestão do Estado capitalista não estão relacionadas, necessariamente, com mais ou menos humanidade, mas sim com as necessidades concretas em cada etapa de acumulação. Em um momento de crise estrutural do capital, quando o padrão de consumo, o uso de poluentes, o agronegócio, a indústria do veneno, em suma, a relação com a natureza se encontra insustentável, podendo colocar em xeque a própria existência da humanidade; quando o padrão familiar monogâmico heterocisnormativo se desmorona, tão necessário para o apassivamento e a reprodução da mão-de-obra e, portanto, para sua maior exploração; quando o desemprego se torna crônico, inviabilizando a reprodução da existência de bilhões de pessoas e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento das forças produtivas alcança um nível qualitativo que permitiria processos profundos de libertação social e abundância, quando seus conhecimentos científicos e tecnológicos possuem um potencial coletivo, difuso extraordinário, porém são aprisionados como mercadoria e, para reproduzirem o ideal concentrador do capital, são transformados em potencial destrutivo, aniquilador. Em um momento como esse, quando se atingem todos estes limites estruturais (e outros aqui não descritos), a gestão neoliberal do Estado se tornou a mais adequada. Como diz Menegat (2012, p. 208), “esta nova tipologia de estado foi um verdadeiro achado para se manter o que desmorona”. O Estado neoliberal é o perfeito gestor das novas maneiras de dominação do trabalho na sociedade pós-grande indústria, de um lado aprimorando a lógica social darwinistameritocrática, de outro legitimando a violência aos “incapazes” de contribuírem na cooperação entre trabalhador-empregador para o comum desenvolvimento do capital: Em síntese: ele busca uma corrida de ratos cooperativa! Na presença de crescente anomia, corrupção e violência, quando muitas dificuldades emergem na superfície
77 da sociedade, ele propugna sempre pelo reforço do caráter policial e punitivo do poder da propriedade privada e do Estado (PRADO, 2005, p. 134).
O conceito de barbárie para Mészáros e para Menegat é um pouco diferente, ainda que com fundamentos idênticos. Para Mészáros, estaríamos vivenciando um período de crise estrutural do sistema, no qual as crises econômicas diminuem seus períodos de ocorrências, quase como um contínuo de crises e as saídas para tais crises apenas alimentam a maior potência da seguinte, pela maior incontrolabilidade do capital financeiro. Ademais, tal crise é estrutural por ser não meramente econômica, mas sim uma crise de humanidade, uma “crise civilizacional”, como outros autores preferem nominar, que ativa elementos destrutivos das mediações sociais da ordem do capital. Para o autor, esta crise estrutural não significa o fenecimento do sistema, muito ao contrário, seus mecanismos de reinvenção estão mais ativados que nunca, porém, ao não lograrem deslocar suas contradições com eficiência, podem caminhar para a barbárie, ou não, ou o socialismo é a saída organizada da classe trabalhadora. Já Menegat (2012) recorre ao Manifesto do Partido Comunista para dizer que Engels e Marx explicavam que o capitalismo sempre tende ao excesso e que, para regulá-lo, seria preciso “estados momentâneos de barbárie”, ou seja, de destruição. Para Menegat, estamos vivendo a barbárie e, nesta etapa, de novo tipo. Portanto, a barbárie parece ser, de fato, a demonstração da impossibilidade da humanidade continuar a se desenvolver dentro das formas burguesas da vida social, uma vez que a riqueza acumulada pela espécie é excessiva para ser limitada e barrada pelo horizonte histórico das estruturas e instituições dessa sociedade, determinada pela acumulação de capital e sua apropriação privada.
Concluímos que a sociedade da Pós-Grande indústria não deixou de ser uma sociedade de produção de mercadorias, em sua essência. Entretanto, o estranhamento da pessoa trabalhadora no processo de produção é de outro tipo e seu estranhamento enquanto ser genérico17 é ainda mais evidente. Neste cenário, faz-se imprescindível pensar como hoje o confinamento – aprisionamento – dos “inúteis” para a produção serve também ideologicamente para que os inseridos no mercado aceitem o que tiver, como tiver, sendo um dos mecanismos de materialização da lógica da competição, da meritocracia e do individualismo. 17 Karl Marx (2001, p.21) descreve nos Manuscritos econômico-filosóficos as várias dimensões do processo de alienação da pessoa trabalhadora no capitalismo e alcança a dimensão de se alienar enquanto ser genérico, ou seja, não se reconhecer em outro ser humano. Conforme suas palavras: “A alienação do homem e, além de tudo, a relação em que o homem se encontra consigo mesmo, realiza-se e traduz-se inicialmente na relação do homem com outros homens. Portanto, na relação do trabalho alienado, cada homem olha os outros homens segundo o padrão e a relação em que ele próprio, como trabalhador se depara” .
78 Podemos, depois de todo este recorrido teórico, perguntar-nos qual a importância dessas diferenciações teóricas, se todos partem de uma crítica radical ao encarceramento? Trata-se de um preciosismo teórico? Da criação de objetos na academia? Entendemos que não. Entendemos que esta é uma importante batalha teórica e política, pois precisamos construir uma crítica criminológica radical, o que significa perceber que a aparência recrudescedora penal disfarça uma crise de dominação do capital. Nesse sentido, a crítica desta sociedade somente terá força de transformação do real se ela partir da constatação de que não há mais remendos significativos – isto é, ganhos possíveis para todos – dentro desta forma social. Tudo o que ela pode oferecer é o espetáculo de horror já em curso e do qual a atual modalidade de estado penal é apenas o início, um posto avançado de contenção da dissolução – que será tentada à força e com mil artifícios, no intuito de manter o que não tem mais condições de possibilidade de existir. As formas sociais do passado que colapsaram não tiveram a força destrutiva acumulada da sociedade burguesa. O seu fim era uma conjunção da impossibilidade de continuar existindo, em decorrência de suas contradições internas e, pour cause, do enfraquecimento que esta situação criava. O capitalismo exala vigor por todos seus poros, mas não há mais como transformar valor em mais valor. Sua crise é por excesso, ele sofre de uma terrível conjunção de sobreacumulação e superprodução. É devido a este vigor que sua agonia se arrasta. O mundo é finito, demasiado finito para sua dinâmica abstrata de produção. Esta crise estrutural é o espetáculo assombroso de uma potência que tem o poder de produzir o calor do coração de uma estrela e, não obstante, deve se apagar. É improvável que isso ocorra sem que bilhões de pessoas se queimem (MENEGAT, 2012, p. 217).
Corremos o risco de ter “o sol por testemunha”.
1.3 O controle penal e as suas especificidades históricas desde a quarta parte do mundo
Não poderíamos concluir este capítulo sem um aquecimento pro que virá. Neste capítulo refletimos sobre a importância do paradigma da reação social e do salto dado com as criminologias críticas. Apontamos quais foram suas principais balizas teóricas desde a década de 70. E cabe acrescentar que, de lá para cá, houve um amplo movimento criminológico crítico latino-americano. E podemos dizer movimento, pois as ideias eram construídas, especialmente até a década de 90, por meio de painéis de debates e muita interlocução entre pensadores de diferentes nacionalidades. Um debate sempre presente era se seria possível, se seria necessário e quais as grandes questões de um pensamento criminológico latino-americano. E as conclusões jamais foram dicotômicas, no sentido de se negar todo o acúmulo teórico dos países centrais, mas sim da necessidade de se perceber as especificidades do capitalismo periférico e seu controle penal.
79 Por aqui, o sistema penal sempre foi alicerce fundamental de uma política autoritária, conservadora, de repressão crua à classe trabalhadora e sustentação de privilégios da classe dominante, de naturalização de instrumentos de tortura e outras crueldades. Por aqui, o etnocídio foi o veículo para a fundação da racionalidade moderna e tingiu de vermelho os mares por onde a multidão de escravizadas e escravizados, de diferentes localidades da África, chegaram. A escravidão acabou, mas os trabalhos em condições análogas à de escravo não. Os conflitos pela terra, na região do globo com maior concentração fundiária, foram sempre existentes, garantidos seja pela vingança privada orquestrada pelos latifundiários e operacionalizadas por meio dos novos capitães do mato, conhecidos como jagunços, seja pela espada e a venda caída da Justiça, os jagunços de toga. O assalariamento, a industrialização, tudo ocorreu por meio de mecanismos – garantidos por elites vendidas – que aprofundassem o desenvolvimento econômico sempre dependente, avançando, a cada período, na divisão internacional do trabalho. Podemos dizer que a qualidade e a quantidade do funcionamento do sistema penal na América Latina sempre foram diferentes. Alguns autores, como Eugenio Raul Zaffaroni e Vera Regina Pereira de Andrade, inclusive, firmaram a necessidade de incluirmos a adjetivação de genocida para compreender as características do nosso sistema penal: Daí concluir pela existência de ‘um sistema penal subterrâneo’, funcionando sob ‘um sistema penal aparente’, e que a articulação das instâncias judiciais com os níveis de maior discricionariedade, como a policial, opera sistematicamente na região em função da seletividade classista do controle social (ANDRADE, 2012, p. 106).
E complementa: Aqui, na periferia, a lógica é simbiótica com uma lógica genocida e vigora uma complexa interação entre controle penal formal e informal, entre público e privado, entre sistema penal oficial (pena pública de prisão e perda da liberdade) e subterrâneo (pena privada de morte e perda da vida), entre lógica da seletividade estigmatizante e lógica da tortura e do extermínio, a qual transborda as dores do aprisionamento para ancorar na própria eliminação humana, sobretudo dos sujeitos que ‘não têm um lugar no mundo’, os sujeitos do ‘lugar do negro’ (ANDRADE, 2012, p. 106-107).
Nos países latino-americanos o autoritarismo foi constitutivo de suas instituições e parece que o neoliberalismo perpetua e intensifica essa tendência. Ao longo do texto apontamos como os anos dourados do capitalismo foram viáveis também pela ampliação do consumo massivo nos países de economia dependente; tratamos como, enquanto os Estados de Bem-Estar Social se desenvolviam lá, por aqui se forjavam gestões desenvolvimentistas de
80 Estado, com uma industrialização que importava a tecnologia descartada dos países que já abriam suas portas para a revolução tecnológica e cujo crescimento aqui dependia de empréstimos cada vez maiores dos bancos internacionais; até que a crise fiscal e social consolidada na década de 70 impõe saídas e respostas ainda mais duras para os países latinoamericanos. Assim, como afirma Manuel Iturralde, “a forma pela qual Wacquant explica a disseminação global da ortodoxia punitiva estadunidense, particularmente na Europa e na América Latina, é questionável, pois simplifica um fenômeno complexo” (ITURRALDE, 2012, p. 172), complementando: A precariedade do estado do bem-estar na América Latina representa uma diferença notável diante dos países do Norte Global, pois desde a segunda metade do século XX estes gozaram, em diversos momentos e com distintos graus de intensidade, de políticas welfaristas que prestavam assistência aos mais pobres e que deram lugar a toda uma trama institucional e discursiva para o tratamento das classes baixas. Por conseguinte, a transformação de políticas de welfare em políticas de workfare, que Wacquant descreve em detalhes como um aspecto central do advento do governo neoliberal nos Estados Unidos e em outros países do Norte Global, é o resultado de um processo histórico que não se deu na América Latina (ITURRALDE, 2012, p. 182).
Sendo assim, na América Latina o funcionamento dos órgãos repressivos e punitivistas sempre operaram em outro patamar qualitativo. Além de cumprirem um papel político de contenção popular violenta desde sempre, também podemos perceber que a divisão estanque, paradigmática entre mecanismos de controle penal disciplinar e de gestão dos riscos (neutralização) não se apresenta aqui. O que não significa que em tempos neoliberais não sintamos, e muito, o impacto da incorporação da política criminal eficientista, seja nas alterações legais quanto a organizações criminosas, típicas de um direito penal do inimigo; seja pela execução penal com incorporações assumidamente neutralizadoras; seja com alterações no processo penal de cunho negocial e restritivas de garantias fundamentais; seja pela própria violência policial; pelo cada vez maior encarceramento; pelas taxas de homicídio de jovens negros das periferias; pela explosão e desproporcional porcentagem de mulheres em situação de prisão etc: Com efeito, se o eficientismo penal contemporâneo implica a longa saga do ‘mais’, a saber, mais leis penais, mais criminalizações e apenamentos, mais polícias, mais viaturas, mais algemas, mais vagas nas prisões, mais prisões provisórias – e no Brasil Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) -, devem ser acrescentadas a esta saga, continuidade da histórica ‘Política Criminal com derramamento de sangue’, mais mortes e mais vagas nos cemitérios (ANDRADE, 2012, p. 111).
81 Logo ao início apontamos que se notava uma tendência histórica-estrutural do encarceramento em massa como um fenômeno mundial. Ao analisarmos alguns de nossos principais interlocutores do campo criminológico, eles evidenciavam que o fenômeno, infelizmente, não era restrito a gestão de Estados mais à direita. Neste último item, afirmamos que a América Latina, com suas particularidades históricas e atuais, não esteve imune a este processo, ainda que – e este é um ponto muito importante para nossos balanços históricos no continente – estivesse vivenciando em muitos de seus países a experiência de ser governada por frentes políticas ditas progressistas. 2017 e a sensação de que o ciclo dos governos progressistas latino-americanos está se esgotando. Brasil, Bolívia, Equador, Uruguai, Paraguai, Argentina, Venezuela (esta com profundas diferenciações das demais experiências), com muitas variáveis qualitativas entre si, vivenciaram apostas que seriam de novo tipo, de alteração do rumo dependente, desigual, exploratório, opressor que parecia sina para tais países. Porém, o aparente esgotamento de seus ciclos e o ressurgimento de alternativas radicalmente antissociais em alguns destes países, exige que se compreenda seus calcanhares de Aquiles. Si las luchas y la radicalización de las masas organizadas empuja a varios de sus componentes partidarios a ocupar las instituciones estatales (hasta a la cabeza del Estado, la Presidencia de la República), más que cambiarlas, la izquierda es cambiada por ellas, se trasmuta al renovar sus ropajes y acomodar sus hábitos: rehabilita en particular el paternalismo siempre cargado de autoritarismo, restableciendo relaciones jerárquicas con la sociedad. No deja de deslizarse más rápido por la resbalosa pendiente de los intereses dominantes que no son otros que lo de las grandes empresas capitalistas desterritorializadas, vueltas mundiales como nunca, no dejando resquicios para pretendidas y ahora caducas o fantasmales burguesías nacionales (ANGUIANO, 2017).
Foram eleitos diante dos nefastos efeitos de destruição social dos anos 90, muitos com forte mobilização popular, porém, para se sustentar por dentro da ordem, apostaram em regimes conciliatórios. Marcados por políticas de redistribuição de renda de baixa intensidade, ainda que de grande dimensão, especialmente em casos como o brasileiro, muito concentradas na ampliação do consumo, sem tocar na produção (e, consequentemente, na exploração), ou seja, sem tocar nos interesses do grande capital, que continua tendo tais países como paraísos financeiros. Isso significa concluir que as políticas centrais desses governos não eram políticas que alcançavam as dimensões estruturais da exploração e opressão de seus povos. Enquanto em 2008 a crise era fortemente sentida nos Estados Unidos e países da Europa, na América Latina, pela intensificação de sua reprimarização econômica e o fortalecimento do agronegócio –- contraditoriamente, apesar de respaldados por movimentos
82 camponeses e indígenas –-, os impactos ainda não eram sentidos e suas políticas sociais liberais eram possíveis. Mas a crise é estrutural e, portanto, sistêmica, e vai alcançando o lado de cá do mundo. Politicamente, o que se observa é o assalto de governos mais à direita, que aceleram no tempo e na intensidade medidas e reformas de austeridade e retirada de direitos que mais timidamente já ocorriam com os governos anteriores. Tudo isso com um custo que demandará o esforço de uma geração de lutadoras e lutadores sociais: o apassivamento do povo organizado. Trataron de hacer y mantener concesiones a los pueblos y núcleos sociales que los elevaron “al poder” en la búsqueda de atenuar las más odiosas manifestaciones de la pobreza extrema que caracterizan a nuestros países, pero de ninguna manera se propusieron combatir a fondo la desigualdad social ni mucho menos la explotación, el despojo y la concentración de riqueza que mantienen las viejas y nuevas oligarquías. No se interesan por las causas de esa situación. Conceder abajo, verticalmente por supuesto, pero sin incomodar a las clases dominantes con quienes en cambio se negocia arriba (ANGULANO, 2017).
Um bom exemplo do não aprofundamento democrático e popular destes governos é a incorporação das tendências criminais recrudescedoras, sem condições de apresentar - com o evidente custo político disso - uma política criminal radicalmente diferente. Nas páginas que seguem, iremos detalhar o processo brasileiro em todas essas movimentações.
83 2 A HISTÓRIA BRASILEIRA DESDE OLHARES À CONSTITUIÇÃO RACISTA DO SEU SISTEMA PENAL Quando você for convidado pra subir no adro Da fundação casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos e outros quase brancos Tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos (E são quase todos pretos) Como é que pretos, pobres e mulatos E quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados E não importa se os olhos do mundo inteiro Possam estar por um momento voltados para o largo Onde os escravos eram castigados E hoje um batuque, um batuque Com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária Em dia de parada E a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra e estimula Não importa nada: Nem o traço do sobrado Nem a lente do fantástico, Nem o disco de Paul Simon Ninguém, ninguém é cidadão Se você for ver a festa do pelô, e se você não for Pense no Haiti, reze pelo... O Haiti é aqui O Haiti não é aqui E na TV se você vir um deputado em pânico mal dissimulado Diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer Plano de educação que pareça fácil Que pareça fácil e rápido E vá representar uma ameaça de democratização Do ensino de primeiro grau E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital E o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto E nenhum no marginal E se, ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual Notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco Brilhante de lixo do Leblon E ao ouvir o silêncio sorridente de São Paulo Diante da chacina 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos Ou quase pretos, ou quase brancos quase pretos de tão pobres E pobres são como podres e todos sabem como se tratam os pretos E quando você for dar uma volta no Caribe E quando for trepar sem camisinha E apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba Pense no Haiti, reze pelo O Haiti é aqui O Haiti não é aqui Caetano Veloso
84
2.1 Contextualizações iniciais
Concluímos, ao final do capítulo anterior, que a história das funções reais e declaradas do sistema penal latino-americano possui suas peculiaridades e, ainda que muito haja de influência de modelos e práticas, as rígidas definições de etapa de controle disciplinar e de gestão de riscos não se amoldam perfeitamente nesta realidade. Dissemos que a qualidade e a quantidade do funcionamento do sistema penal na América
Latina
sempre
foram
diferentes,
pois
aqui
nossa
natureza
híbrida
disciplinar/neutralizadora sempre se fez presente diante do caráter autoritário e de controle do grupo populacional não-branco em sua circulação na cidade e no exercício de uma cidadania que pudesse cogitar desestruturação de relações de poder baseadas em amplo privilégio de uma minoria. Dentro deste espectro latino-americano, buscaremos compreender, neste momento, quais elementos estruturaram historicamente o sistema penal brasileiro e o que determinaria o seu caráter estrutural genocida ou de extermínio. Anteriormente afirmamos que o Brasil vivencia, desde a década de 90, uma forte onda punitiva, com um encarceramento em níveis crescentes e que toma ainda maior proporção no decorrer dos anos 2000, nos anos que coincidem com a gestão do Estado brasileiro por uma frente política protagonizada pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, neste capítulo buscaremos traçar aquela linha histórico-estrutural desenvolvida no primeiro capítulo, porém desde as margens brasileiras, buscando entender as tendências das transformações das relações sociais e das instituições penais a cada etapa no país, com o objetivo central de compreender o aparente paradoxo do boom do encarceramento entre os anos de 2003 e 2015, período relativamente longo de governos forjados historicamente a partir do campo progressista no país. Este capítulo possui três camadas que se entrecruzam em uma costura de vai-e-vem que desejamos possa formar uma peça estruturada e útil para um pensar e um agir críticos. Em primeiro lugar, desenvolvemos pistas de uma história recortada brasileira, com o olhar voltado para a questão racial. Essa história é classificada pela sua origem colonial, o seu desenvolvimento econômico escravista fundante e estruturante e a consolidação de seu capitalismo dependente. Destacamos que essa classificação serve de luz para explicar os impasses do período contemporâneo. Por fim, e não menos importante – muito pelo contrário,
85 trata-se do objeto desta pesquisa esta história recortada e classificada será o plano de fundo da nossa busca por entendimento da força motriz do nosso sistema penal: as suas características centrais originárias e a maneira como se perpetuam, sob diferentes roupagens. Desta forma, uma importante demarcação inaugural é de que aqui concebemos o racismo como uma relação social. Isso significa que não temos como seu ponto de partida as ações individuais moralmente condenáveis – redução de sentido que o direito penal reforça 18 –, mas sim as condições estruturais e institucionais que garantem a subjetivação racista. Isto impacta em muitos aspectos, desde a busca de elementos de compreensão do fenômeno até as respostas ao mesmo, as que consideramos limitadas, as por nós entendidas como equivocadas, bem como as nossas apostas. Mais do que conceber o racismo como uma relação social, classificamo-lo como uma relação social estruturante e estrutural da ordem capitalista dependente. Assim como melhor desenvolvemos no capítulo anterior, entendemos que há uma constância mutável, imbricada e contraditória entre as relações sociais de gênero, classe e raça, desde uma co-determinação e reprodução de todas elas de maneira heterogênea e não hierárquica. Esta análise ganha corpo, passado-presente-futuro prospectivo, desde o estudo da realidade brasileira, na qual há permanência estrutural dessas desigualdades, apesar de mudanças históricas. Esta afirmação significa que nos parece relevante perceber o quanto a criação da ideia de raça (e a naturalização de desigualdades – e até de objetificação) e a opressão sexual estruturaram a possibilidade de universalização do sistema de exploração capitalista desde a empreitada colonial, o que faz com que o caráter estruturante dessas dimensões seja ainda mais evidente e intensificado na constituição das relações sociais em países como o nosso. Alessandra Devulsky (2016, p. 26) complementa este raciocínio abaixo, explicando como se dá o impacto das opressões racial e de gênero (não dito pela autora, mas raciocínio estendido por nós) na maior exploração de parte da classe trabalhadora: O racismo colabora na diferenciação das tarefas por meio do estabelecimento de uma hierarquia baseada no recorte racial, na qual ‘certos trabalhadores perdem uma parte maior do mais-valor que eles criaram do que outros’. A força do trabalho é revestida de uma roupagem étnica indissociável da produção de valor no capitalismo. Portanto, sua organização é perpassada por esse elemento que, embora não seja fundador, é essencial em sua reprodução.
A autora complementa, em seguida, que “no centro e na periferia, portanto, é forjada a tendência para baixo de valorização da força de trabalho e do salário nominal de referência, o 18 Para Evandro Piza Duarte (2017, p. 22), a palavra racismo, no direito penal, “situa-se, ainda, na classe de palavras que foram capturadas pelas definições jurídicas, especialmente as penais, as quais quase sempre intentam uma redução de sentido a partir daquela concepção individualista do agir humano, marcada pela noção de consciência e voluntariedade, implícita na noção dos ‘corações impuros’ e na ideia de ‘opressão do agente’”.
86 que é perfeitamente compatível com a necessidade reprodutiva do capital que precisa prever e modular suas atividades em face da lei sobre a baixa tendencial da taxa de lucro” (DEVULSKY, 2016, p. 30). Conforme desenvolveremos, com profundidade, ao longo de todo este capítulo, os elementos por ela trazidos, referentes à discriminação racial enquanto determinante de uma máxima exploração da classe trabalhadora, fazem parte de uma compreensão ainda maior do porquê o elemento racial ser explicativo da própria possibilidade do capitalismo em uma realidade como a nossa e, ademais, não apenas garantir a máxima exploração, como permitir o funcionamento legítimo do sistema penal, marcado pela violência contra parcela da população (não-branca, fundamentalmente) que não pode ter um lugar no mundo do trabalho em tempos de desemprego crônico. Este ponto de partida gera a necessidade de aperfeiçoamento dos pressupostos de compreensão da seletividade penal pela criminologia crítica, desde uma teoria contextualizada e historicizada com as especificidades periféricas. No início do capítulo anterior (item 1.1) fizemos um resumido panorama das principais marcas das transformações do pensamento criminológico, das ideias pautadas na ideologia da defesa social à ruptura com as reflexões sobre processos de criminalização como estratégia de reação social no capitalismo. Neste momento pretendemos definir o que seria ainda certo vácuo teórico nestes principais pilares fundacionais do amplo campo criminológico crítico, que limita a compreensão do nível, do tipo e da função da violência penal no país. Levantamos, naquele tópico, dois fundamentais elementos de consolidação do pensar criminológico crítico. Um sobre a reflexão acerca da pessoa incriminada, superando uma visão biopsicopatológica ou enquanto mero defeito de socialização. No mesmo sentido, também indo além de um debate mais estrito e determinista de rotulação e assunção da identidade criminosa, bem como se afastando da conexão crime-pobreza. O outro sobre a busca de compreensão dos processos de incriminação de certa conduta social e a distância entre as ilicitudes previstas e aquelas filtradas pelos órgãos de controle social formal. É a partir daí que se construiu a crítica à seletividade do sistema penal e suas funções simbólicas e reais. Neste momento, partiremos desta importante herança criminológica crítica, porém compartilhando da preocupação de Ana Flauzina (2006, p. 41) de que, no pensamento crítico, “a narrativa autorizada para a análise do sistema penal pôde se valer do negro como personagem, nunca do racismo como fundamento”.
87 Isto significa que, para parcela pequena desta tradição de análise criminológica, a reflexão sobre a seletividade penal brasileira se limitou à constatação de seu público-alvo predominantemente negro, sem se ocupar em compreender os mecanismos racistas de funcionamento dos processos de criminalização, aprofundando a análise desde a perspectiva da dimensão da exploração apartadamente. Portanto, para Felipe Freitas, a criminologia crítica “seguiu trabalhando com a ideia de classe como macro categoria explicativa dos fenômenos no âmbito da justiça criminal, dos processos de criminalização e das dinâmicas de seleção do sistema punitivo” (FREITAS, 2016, p. 490). Neste mesmo sentido, Evandro Piza Duarte (2016, p. 522): No contexto brasileiro, defende-se que as relações raciais não podem ser abordadas a partir da ideia de consenso, presente na ideologia da democracia racial, mas devem ser encontradas na análise de estratégias racistas diferenciadas, segundo as condições locais de organização das relações de poder. Por fim, as teorias sobre o racismo devem conduzir a Criminologia crítica para uma teoria complexa sobre as relações de poder, superando-se as concepções economicistas da teoria social.
É justamente diante destas fundamentais provocações e preocupações que buscaremos levantar conexões e pistas das possibilidades de conjugação das dimensões de gênero, classe e raça para se compreender o papel do sistema penal na realidade brasileira, especialmente no período central de nossa análise – de 2003 a 2015. Defender a codeterminação das relações sociais de gênero, classe, raça e sexualidade enquanto estruturantes da ordem social do capital não é tarefa simples. Para nós, tratar-se-ia de um pressuposto de qualquer contribuição marxista contemporânea: complexificar a noção de classe social – racializando-a, sexualizando-a – e oxigenar a compreensão da complexidade de determinantes que estruturam o capitalismo. Faremos este exercício comungando da tese defendida por importantes pensadores brasileiros de que o Brasil se constrói enquanto nação fraturada, o que significa dizer que seu sentido colonial se perpetua, atualizando-se a cada período. O sistema penal nesta periferia do capital sempre possuiu especificidades, pois possui raiz escravista e acompanha a modernização conservadora, enquanto importante instrumento de contenção para a manutenção da estrutura pautada em uma desigualdade social/racial e, em contraponto, em uma concentração de poder e privilégio monumental.
88 2.2 É sobre um estupro civilizatório. Caracterizações sobre as marcas dos primeiros tempos de colonização
DIA 1. NOME COMPLETO eu queria escrever a palavra br*+^% a palavra br*+^% queria escrever eu palavra eu br*+^% escrever queria BRASIL eu queria escrever a palavra brasil aquela em nome da qual tanto homem se faz bicho tanto bandido general aquele em nome de quem a borracha vira bala a perversidade qualidade de bem aquela empunhado em canto atestada em docs que esconde pranto mãe do dops eu queria escrever a palavra brasil mas a caneta num ato de legítima revolta feito quem se cansa de narrar sempre a mesma trajetória me disse “PARA e VOLTA pro começo da frase do livro da história volta pra cabral e as cruzes lusitanas e se pergunte DA ONDE VEM ESSE NOME?” palavra-mercadoria brasil PAU-BRASIL o pau-branco hegemônico enfiado à torto e à direto suposto direito de violar mulheres o pau-a-pique o pau-de-arara o pau-de-araque o pau-de-sebo o pau-de-selfie o pau-de-fogo o pau-de-fita O PAU face e orgulho nacional A COLONIZAÇÃO COMEÇOU PELO ÚTERO matas virgens virgens mortas A COLONIZAÇÃO FOI UM ESTUPRO pedro ejaculando-se dom precoce deodoro metendo a espada entre as pernas de uma princesa babel
89 costa e silva gemendo cinco vezes AI AI AI AI AI getúlio juscelino geisel collor jânio sarney a decisão parte da cabeça do membro ereto de quem é a favor da redução mas vê vida num feto é o pau-brasil multiplicado trinta e três vezes e enterrado numa só garota olho pra caneta e tenho certeza não escreverei mais o nome desse país enquanto estupro for prática cotidiana e o modelo de mulher a mãe gentil Luiza Romão
O nosso território foi tornado “Brasil” não como um projeto de nação, mas sim como um projeto mercantil que deveria cumprir uma promessa de imensa lucratividade. Se, no decorrer do processo histórico, forjamo-nos enquanto povo, isso ocorre, de acordo com palavras de Darcy Ribeiro (1978, p.19). “como uma espécie de subproduto indesejado e surpreendente de um empreendimento colonial, cujo propósito era produzir açúcar, ouro ou café e, sobretudo, gerar lucros exportáveis”. Para garantir o alto desempenho deste negócio-Brasil, a escravidão indígena vigorou e predominou durante todo o primeiro século de colonização. A escravidão negra se torna massivamente marcante desde o século XVII, porém há registros da presença negra desde os primórdios da colonização, conforme anuncia Clóvis Moura (1992, p. 7-8): Esta história começa com a chegada das primeiras levas de escravos vindos da África. Isto se dá por volta de 1549, quando o primeiro contingente é desembarcado em São Vicente. D. João III concedeu autorização a fim de que cada colono importasse até 120 africanos para as suas propriedades. Muitos desses colonos, no entanto, protestaram contra o limite estabelecido pelo rei, pois desejavam importar um número bem superior. Por outro lado, alguns historiadores acham que bem antes dessa data já haviam entrado negros no Brasil. Afirmam mesmo que na nau Bretoa, para aqui enviada em 1511 por Fernando de Noronha, já se encontravam negros no seu bordo. Essa presença, como vemos, confunde-se com a formação da Colônia e, depois, do Império, chegando até os nossos dias.
Cabe registrar que Portugal, diferentemente das outras nações protagonistas do processo de expansão marítima, também incorporou o trabalho escravo africano em suas terras antes mesmo de expandir para suas colônias, com a coparticipação da Igreja Católica, sendo pioneiro e, por um tempo, monopolizador das benesses do tráfico de pessoas escravizadas desde a África, conforme nos complementa Luciano Goés (2016, p. 148):
90 As empreitadas portuguesas na costa africana não auferiram maiores lucros até 1441, quando os primeiros escravos africanos foram desembarcados em Portugal, alterando substancialmente o significado de riqueza dos portugueses, que viram na escravidão negra a saída para o povoamento, desenvolvimento e enriquecimento da nação, motivando as orientações de D. Henrique que tratou de assegurar o domínio total dessa fonte de riquezas com a chancela de Roma, que receberia a metade dos rendimentos e em troca concedia a ‘benção’ materializada por bulas papais fundamentadas na maldição camita, como a bula Romanus Pontifex assinada pelo Papa Nicolau V, comuns desde as expedições a Ceuta e a Tânger que declaravam que as terras tomadas dos infiéis seriam de propriedade dos reis portugueses.
Os negros são trazidos por serem entendidos como uma máquina altamente produtiva. Ademais, a escolha pela escravidão negra também compreendia o fato do transporte dessas populações desde a África ser um negócio lucrativo, pois significava “ganhos que se faziam no tráfico externo vinculados à lógica de acumulação primitiva” (CAMPOS, 2017, p. 249), combinados com os impostos arrecadados por Portugal em decorrência do monopólio do comércio escravagista. Soma-se a tais elementos o fato de que a nossa imensidão territorial só tornaria a exploração altamente lucrativa se fosse a do trabalho escravo, pois nenhum camponês mal assalariado se submeteria a este trabalho, por ser muito mais vantajoso viver de sua própria subsistência, com autonomia. Isto tudo nos permite concluir, desde o raciocínio de Clóvis Moura (1994, p. 39), que apenas a escravidão negra “era a forma de trabalho adequada ao sistema colonial porque somente ela, através da exploração econômica e extra-econômica do trabalhador, com um nível de coerção social despótico e constante, poderia extrair o volume de produção que fizesse com que esse empreendimento fosse compensador”. Portanto, as relações sociais que se sedimentavam no Brasil colonial estavam totalmente vinculadas ao capitalismo mercantilista, porém possuíam relações de produção próprias. Clóvis Moura chega a afirmar que era vigente aqui um modo de produção escravista, conforme delinearemos melhor adiante, que só poderia garantir o padrão de hiperexploração destacado acima com um sobretrabalho compulsório mediado por mecanismos de controle social baseados em formas de coerção econômica e extra-econômica – formas estas amplamente descritas no decorrer do capítulo – que, inclusive, no caso das mulheres, a “exploração extrapolava para o seu uso sexual por parte do senhor ou prepostos, fato que se desdobrava no seu engravidamento e multiplicação do plantel na base do princípio do partur sequitur ventre” (MOURA, 1994, p. 43-44). Vale destacar que os índios - aqueles que restaram da dizimação do primeiro século e lograram ser capturados - continuam sendo escravizados e utilizados na indústria açucareira e em outras atividades. Neste sentido, Gislene Neder e outros (1998) destacam a lacuna na
91 historiografia sobre as condições da escravidão indígena. Vale a pena a leitura de alguns extratos do debate realizado entre eles: No entanto, em nosso passado colonial, existia uma outra modalidade de escravidão que ainda não obteve a devida atenção dos pesquisadores. Poucos são os estudos dedicados à escravidão indígena. (...) Além das especificidades regionais, o estudo deve partir do princípio de que as comunidades indígenas não eram consideradas iguais para os legisladores portugueses. Havia uma divisão entre índios hostis e índios aliados. As punições eram aplicadas aos inimigos da colonização portuguesa (...). Mesmo as legislações gerais (1609, 1680, 1755) estabeleciam exceções que viabilizavam a escravização de determinadas etnias. No Diretório Pombalino, legislação que mais tarde seria difundida na colônia, foi concedida a liberdade para todos os índios da Amazônia, Pará e Maranhão. No entanto, duas etnias não seriam beneficiadas pela lei. Os muras e os mundurucus eram considerados os corsários da selva, feras insaciáveis, terror da Amazônia e, portanto, deveriam ser combatidos e reduzidos à escravidão.
Parecendo até mesmo ironia, sendo elemento simbólico das diferenças de origem e funções do sistema penal lá e cá, negros e índios, antes mesmo da implantação do negócio açucareiro, são compulsoriamente recrutados para a extração do pau-brasil, “nosso primeiro produto tipo exportação, que na Holanda manufatureira, era utilizado na ‘correção’ dos prisioneiros nas Rasp-huis, gênese do sistema prisional central” (GOÉS, 2016, p. 151), instituição cujo funcionamento e objetivo foi contextualizado no capítulo anterior. Nesta reflexão não temos como pretensão resgatar minúcias sobre a trajetória histórica brasileira, a constituição de seu povo e de seu povo negro, mas apenas traçar elementos de percepção de como o sistema de dominação-exploração-opressão se impôs e perdurou em nossa realidade e, neste sentido, especificamente como a dominação racial determinou a consolidação do sistema penal brasileiro e ainda imprime o seu método de intervenção pautado na violência, no controle e no extermínio. Realizamos este retrospecto para registrar o verdadeiro etnocídio ocorrido no Brasil, a crueldade da ruptura com a vinda dos escravos, os traumas da condição escrava, mas não como fatos pretéritos, absorvidos pelo assalariamento e a ordem “racional” do trabalho. Ao se pensar o problema do racismo hoje, parece-nos perigoso tratar as desigualdades como meras dívidas históricas, no sentido de que se tratariam de marcas do passado, mas sim de uma estrutura de dominação que será habilmente absorvida nas mudanças de nosso sistema político e econômico. (...) a formação social escravocrata, apoiada principalmente na força de trabalho do escravo africano e seu descendente, torna-se uma poderosa fábrica de preconceitos de todos os tipos, dentre os quais destaca-se o racial. Esta é a realidade: o racismo tem raízes nos séculos de escravismo, reiterando-se e desenvolvendo-se, ou recriando-se, no curso dos diversos períodos em que se divide o regime republicano, permeando o agrarismo e o industrialismo, a ruralidade e a urbanidade, os espaços
92 públicos e privados, leigos e religiosos, governamentais e empresariais. Mesmo porque o regime de trabalho livre é também uma fábrica de desigualdades, hierarquias, tensões, antagonismos e lutas; assim como de intolerâncias, preconceitos e, inclusive, segregações. Note-se, pois, que o preconceito racial adquire todas as características de uma poderosa técnica de dominação, compreendendo desde o controle e a administração até a segregação ou o próprio confinamento (IANNI, 2005, p.12).
Antes de avançarmos em uma análise acerca das escolhas de desenvolvimento econômico no Brasil e as dificuldades de se pensar um projeto de país, faz-se importante recuperar o raciocínio de Aníbal Quijano (2005) acerca da criação da categoria “raça” como mecanismo imprescindível para a consolidação de um sistema de dominação apto a garantir que se erga o primeiro sistema mundial de exploração, mais conhecido como capitalismo. Isso significa que o capitalismo só pode se tornar hegemônico mundialmente através de uma dominação social, impulsionada pela opressão racial, que teria garantido a consolidação de um modelo de ordem social patriarcal, vertical e autoritário, pautado em uma exploração desigual e combinada que permite sua máxima acumulação/expansão. Octavio Ianni (2004, p. 117), a seguir, descreve, neste mesmo sentido, como se dá e a que serve a construção social da raça, como impulsionadora de um sistema de valores racistas capazes de garantir desigualdades estruturantes desta ordem social: As raças são categorias históricas, transitórias, que se constituem socialmente a partir das relações sociais: na fazenda, engenho, estância, seringal, fábrica, escritório, escola, família, igreja, quartel, estradas, ruas, avenidas, praças, campos e construções. Entram em linha de conta caracteres fenotípicos. Mas os traços raciais visíveis, fenotípicos, são trabalhados, construídos ou transformados na trama das relações sociais. Quem inventa o negro do branco é o branco. E é este negro que o branco procura incutir no outro. Quem transforma o índio em enigma é o branco. Nos dois casos, o branco é o burguês que encara todos os outros como desafios a serem desfeitos, exorcizados, subordinados.
Neste breve recorrido de passagens históricas que aqui pretendemos realizar, interessanos perceber como a questão nacional nunca foi resolvida (nosso sentido colonial que se perpetua), fato este permeado pela não superação do caráter subdesenvolvido e de dependência externa das escolhas econômicas e políticas desde cima – elite nacional -, mas também, e não menos importante, pela não resolução da questão racial e sua ocultação com a consolidação do mito da democracia racial. Tais elementos serão apreendidos a partir da análise do papel desempenhado pelo controle penal – e suas permanências - em cada um desses importantes momentos históricos. Aqui já nos referimos ao aspecto fundacional etnocida do Brasil como um negócio e que, ainda que sem querer, constitui um povo e sua história. Nossa dependência externa é
93 intrínseca à própria razão de ser da colônia, com sua produção/extração mercantil controlada externamente e pautada no trabalho compulsório. Conforme expressão de Clóvis Moura (1994), o Brasil foi “o grande bastião do escravismo colonial” e não há possibilidade de pensar nossa trajetória social ou de buscar compreender nossas instituições de controle social sem alicerçar o olhar no que foi e em como impactou a escravidão no país. Nós iremos descortinar nossos mitos no que tange à questão racial no país desde o período da escravidão, que, ao contrário de certa comparação infeliz e mentirosa com outras sociedades escravagistas, como os Estados Unidos, a escravidão no Brasil não foi amena ou humanizada, mas pautada na violência sexual, na destruição e depreciação das culturas originárias africanas, na calamidade alimentar, em regimes extenuantes de trabalho e nas mais cruéis formas de tortura: A jornada de trabalho era de catorze a dezesseis horas, sob a fiscalização do feitor, que não admitia pausa ou distração. Quando um escravo era considerado preguiçoso ou insubordinado, aí vinham os castigos. O feitor, ou um escravo por ele designado, era o executor da sentença. Conforme a falta, havia um tipo de punição e tortura. Mas a imaginação dos senhores não tinha limites, e muitos criavam os seus métodos e instrumentos de tortura próprios (MOURA, 1992, p. 17).
A crueldade se iniciava em trânsito. Muitos morriam na travessia, devido às condições extenuantes do trajeto que, segundo Luciano Góes, a depender do local previsto de chegada no país, desde Angola, poderia ser “de trinta e cinco dias até Pernambuco, quarenta até a Bahia e cinquenta até o Rio de Janeiro (...) algumas duraram até cinco meses, quando as tensões internas foram elevadas, na medida em que os suprimentos e a água potável se esgotavam, ampliando exponencialmente o sofrimento dos cativos” (GOÉS, 2016, p.158). O Brasil foi o país na América que mais africanos escravizou (41,8% do total trazido para o continente) e por mais tempo (o encerramento do tráfico se dá em 1850 e a abolição da escravidão em 1888). Este autor destaca iniciativas deste povoamento, como, por exemplo, o ato do Primeiro Governo Geral, em Salvador, ao editar um alvará em 1559 estabelecendo que cada senhor de engenho poderia adquirir, no máximo, 120 escravos, reservando um terço do valor à Coroa. E assim se aprofundaria a população majoritariamente negra e subjugada em terras brasilis. Há, inclusive, escandalosas divergências historiográficas quanto à estimativa numérica da vinda de negras e negros da África, o que nos faz indagar, inclusive, quanto a uma possível tentativa de branquear a nossa história também pela manipulação de dados.
94 Essas estimativas variam desde a do historiador Rocha Pombo, que calcula em 10000000 o número de negros africanos entrados, às de Renato Mendonça, que afirmou ter sido de 4830000. Esse autor, que fez os seus cálculos baseado em estatísticas aduaneiras, não sabemos apoiados em que critérios, pois desde 1831 o tráfico era considerado ilegal (...) O problema do contrabando obviamente não foi computado como uma variável a ser considerada (MOURA, 1992, p. 9-10).
Nesta nossa suspeita de apagamento de nossa história e da magnitude impactante da escravidão no Brasil, destacamos a ação comandada por Rui Barbosa, interpretada pelo movimento negro como uma verdadeira queima de arquivos no fim da escravidão. Como descreve Abdias Nascimento (2016, p. 58), trata-se da “Circula n. 29, de 13 de Maio de 1891, assinada pelo Ministro das Finanças, Rui Barbosa, a qual ordenou a destruição pelo fogo de todos os documentos históricos e arquivos relacionados com o comércio de escravos e a escravidão em geral”. Abdias Nascimento faz uma comparação sobre a proporção completamente desigual da vinda de africanos para o Brasil em relação aos Estados Unidos, demonstrando a razão econômica como um dos elementos para tanto: A importação de africanos para as colônias portuguesa e espanholas teve início muito mais cedo do que nos Estados Unidos. Entre 1502 e 1870, as Américas Central e do Sul importaram 5,3 milhões de africanos escravizados, o Brasil dando conta de 3,6 milhões, enquanto no mesmo período foram levados cerca de 450.000 africanos aos Estados Unidos (Chiavenato, 1980). A proximidade entre Brasil e África significava preços tão baixos que era mais rentável comprar um africano novo do que preservar a saúde de um escravo. Os africanos duravam, em geral, por volta de sete anos, sendo substituídos logo depois. Tal procedimento não seria econômico nos Estados Unidos. A imagem sulista norte-americana das cabanas de famílias escravizadas contrasta nitidamente com a da senzala brasileira, que mais parecia um navio negreiro em terra, abrigando centenas de uma só vez (NASCIMENTO, 2000, p. 13).
Frente a tal cenário, cabe-nos apontar de onde surge a criação do mito da leveza e cordialidade como marca da escravidão portuguesa, especialmente do tratamento dos escravagistas brasileiros, sendo Gilberto Freyre o pivô intelectual desta vontade ideológica, denominada por Abdias Nascimento como lusotropicalismo. Este é o primeiro mito, a fundamentar a ideia de construção de uma democracia racial no país. O argumento passa pela noção de que a escravidão teria sido suave e mais humanizada e o subsequente processo de miscigenação provaria a inexistência de discriminação. Elemento que retomaremos adiante, mas que compreendemos ser o mais basilar da desconstrução desta falácia de harmonização é a condição da mulher negra. A proporção de mulheres escravizadas era muito menor e existia uma série de dificuldades para que se constituíssem famílias, seja pela separação de seus vínculos originários, seja pela condição de
95 exploração, que extrapolava a da produção e dos cuidados domésticos da Casa Grande, sendo sua exploração sexual por parte dos senhores escravocratas uma regra, ilustrando um “dos aspectos mais repugnantes do lascivo, indolente e ganancioso caráter da classe dirigente portuguesa” (NASCIMENTO, 2016, p. 73). Como adiante abordaremos, o estupro da mulher negra escravizada é o primeiro desvelar da negativa da miscigenação enquanto exemplar, não discriminatória e democrática em nossa realidade, uma prova histórica da falsidade da integração relativamente harmônica. Daí se origina a hipersexualização da mulher negra, especialmente a mulata, acompanhada da solidão afetiva e superexploração das negras brasileiras. Já que a existência da mulata significa o ‘produto’ do prévio estupro da mulher africana, a implicação está em que após a brutal violação, a mulata tornou-se só objeto de fornicação, enquanto a mulher negra continuou relegada à sua função original, ou seja, o trabalho compulsório. Exploração econômica e lucro definem, ainda outra vez, seu papel social (NASCIMENTO, 2016, p. 75).
Outro dos argumentos deste mito é de que esta suavização derivaria da interferência humanista da Igreja Católica, a começar pela sua catequização indígena, estendida também aos negros, ao que Abdias do Nascimento (2016, p. 62) rebate: Em verdade, o papel exercido pela Igreja Católica tem sido aquele de principal ideólogo e pedra angular para a instituição da escravidão em toda sua brutalidade. O papel ativo desempenhado pelos missionários cristãos na colonização da África não se satisfez com a conversão dos ‘infiéis’, mas prosseguiu, efetivo e entusiástico, dando apoio até mesmo à crueldade, ao terror do desumano tráfico negreiro.
Quanto às formas de repressão culturais e religiosas, a própria noção de sincretismo religioso em nosso país não representava a recíproca influência de tradições de diferentes matrizes, mas sim era permeada de imposições e violências católicas: Por outro lado, dentro do contexto colonial-escravista as religiões africanas eram consideradas especialmente exóticas e, ao mesmo tempo, perigosas. Isto acontecia, em primeiro lugar, em decorrência do monopólio da Igreja Católica nesse nível, pois somente os seus preceitos de explicação do sobrenatural eram considerados verdadeiros. Em segundo, a religião que detinha o monopólio da explicação do sobrenatural tinha poderes, também, de explicar o natural. Daí porque a Igreja católica procurou, através daquilo que foi chamado posteriormente de sincretismo, penetrar e desarticular o mundo religioso do africano escravizado, usando o método catequista, batizando-o coercitivamente, num trabalho de cristianização que nada mais era do que tentativas, via estruturas de poder, de monopolizar o sagrado e influir poderosamente no plano social e político. Esse sincretismo, por isto mesmo, era unilateral. Era um sincretismo de uma só via. A Igreja Católica somente permitia esse chamado processo sincrético de cima para baixo, jamais permitindo a contaminação dos seus princípios teológicos pelas posições animistas, fetichistas, e por isso mesmo primitivas, das religiões dominadas. Com esse sincretismo de uma só via acreditava-se que, dentro de pouco tempo, essas religiões desapareceriam no bojo de um catolicismo popular, o qual seria anexado ao corpo da Igreja Católica (MOURA, 1992, p. 34).
96 Portanto, o sincretismo se revelava enquanto estratégia de neutralização da potência das religiões de matriz africanas, visando seu futuro desaparecimento desde uma simbiose que preservava todas as características católicas ocidentais. Um exemplo disso, para além da adaptação doutrinária e de cultos e cerimônias, seria o encorajamento das fraternidades religiosas, por exemplo. As irmandades acabavam por ser importantes instrumentos de estratificação social, amparadas em elementos raciais, tornandose forte estratégia de controle social. Este tipo de racionalização constitui um modelo da ideologia das classes governantes tentando o impossível: provar a ausência do racismo na sociedade escravista. A maliciosa artificialidade do argumento, apresentando a estratificação social como oposta à racial não resiste à mais superficial análise, já que era o fator racial que determinava a posição social. Foram escravizados os africanos (negros), e não os europeus (brancos). Este é o fato histórico que conta (NASCIMENTO, 2016, p. 66).
Isso por um lado, e, por outro, as incorporações e preservações se dão em todos os campos da vida, da língua, passando pela culinária e outras tantas tradições culturais, sendo o sincretismo religioso também entendido, pelos negros africanos, como forma de resistência, como “uma forma sutil de camuflar internamente os seus deuses para preservá-los da imposição da religião católica” (MOURA, 1992, p. 35). Sendo perseguidas e criminalizadas tais religiões, só lhes restava a mimetização como forma de preservação e cultivo de identidades, conforme refletiremos melhor adiante. Portanto, é nessa relação conflituosa e dinâmica entre escravos e senhores de escravos que o caldo cultural brasileiro se forja, em meio a contradições e violências. Uma perfeita ilustração disso está em Abdias Nascimento quando relembra, por exemplo, trechos de pesquisa de Roger Bastide nos quais descreve que, devido à alta mortalidade de escravos no trabalho, devido aos regimes exaustivos, os senhores de escravos foram obrigados a conceder “dias santos” de descanso, os quais foram apropriados enquanto ricos momentos de preservação cultural africana e de resistência coletiva. Outro mito é que, devido à amplitude territorial do país, os escravos ficavam mais dispersos e, por isso, possuíam relação mais íntima com o senhor de escravos e sua família. Isto escamoteia o regime extenuante de trabalho, o altíssimo índice de mortalidade infantil, a depressão – descrita como “banzo” – e outros elementos fortemente caracterizantes da escravidão brasileira.
97 2.3 Brasil: celeiro escravista do mundo! Sobre o apogeu deste modelo econômico e social.
O Brasil hoje ainda abarca a segunda maior população negra do mundo. O impacto deste nosso registro estrutural escravista não poderia ser de baixa intensidade, e não o foi também pelas características de nossa transição moderna. Por isso, é preciso entendermos as características de nossa escravidão, as razões de seu declínio e as feições da sociabilidade que se constrói do seu esgotamento em diante. Para tanto, Clóvis Moura (1994), em suas reflexões mais maduras, desenvolve uma tipificação sobre o que ele denomina como “modo de produção escravista” em nosso país, classificando-o em duas etapas: o escravismo pleno (até 1850) e o escravismo tardio. Para ele, o modo de produção escravista seria um modelo de produção e de sociabilidade pautado centralmente no conflito entre senhores e escravos. Com isso não quer dizer que não existissem outros grupos sociais nesta sociabilidade – como, especialmente, as pessoas que viviam da pecuária de subsistência –, mas sim que a base conflitiva e geradora de um modelo econômico viável se centrava nestes dois grupos sociais. As transformações entre estas duas etapas – pleno e tardio – decorrem de elementos estruturais, de esgotamento de modelo econômico, mas também, imbricadamente, dos conflitos entre as classes, exigindo uma negação da ideia difundida pela historiografia de passividade e aceitação dos escravos, conforme defende o autor: O eixo da dinâmica social desse período passa pelo comportamento do escravo rebelde ou descontente e as medidas de autoridades para impedi-lo. Isto não quer dizer que todo escravo fosse um quilombola ou fugitivo. Em qualquer sociedade dividida em classes a consciência dos seus antagonismos não atinge a totalidade dos seus membros, nem seria isso possível. Quando voltamos a repetir que a dinâmica desse tipo de sociedade passa pelo antagonismo entre escravos e senhores queremos assinalar que toda a máquina ideológica, administrativa e militar estava montada objetivando manter o equilíbrio social e ele somente seria possível se houvesse uma estrutura de contenção capaz de mantê-la equilibrada. Esse equilíbrio é conseguido através do chamado controle social (MOURA, 1994, p. 20).
Quanto aos elementos econômicos e extraeconômicos que garantiam esta sociabilidade escravista, Clovis Moura descreve tanto valores sociais e instrumentos de controle social por parte dos senhores, tais como os instrumentos de tortura, a prostituição forçada, a cristianização imposta e tantos outros elementos por nós aqui descritos, como também as múltiplas formas de reação e resistência negra, como “a desobediência do escravo, a malandragem, o assassínio de senhores e feitores, a fuga individual, a fuga coletiva, a guerrilha nas estradas, o roubo, o quilombo, a insurreição urbana, o aborto provocado pela
98 mãe escrava, o infanticídio do recém-nascido, os métodos anticoncepcionais empíricos e a participação do escravo em movimentos da plebe rebelde”, concluindo que são esses dois conjuntos de comportamentos, valores e subjetivações que projetam “a racionalidade do sistema” (MOURA, 1994, p. 23). Esta é uma primeira importante conclusão desta categorização de Clóvis Moura. Ele denomina modo de produção escravista por compreender não apenas as especificidades da produção colonial – e o seu regime de trabalho, por consequência – mas por buscar abarcar todas as peculiaridades das mediações sociais capazes de, nos termos de Abdias do Nascimento, “acorrentar não apenas o corpo físico do escravo, mas também seu espírito” (NASCIMENTO, 2016, p. 134). É diante desta descrição pautada na complexidade desta relação social que Moura compreende que o escravismo colonial, especialmente o da magnitude brasileira, não é apenas uma forma de produção capitalista específica na área colonial, mas sim um modo de produção próprio, cuja existência se faz como uma associação de mutualismo – uma relação interespecífica, na qual as duas espécies usufruem e se beneficiam da troca – com o modo de produção capitalista, tendente à hegemonização global, mas ainda mais desenvolvido nos ditos países centrais. Complementarmente, Clóvis Moura abre um debate sobre a especificidade do trabalho escravo, em comparação com a forma trabalho no capitalismo moderno e, com a delicadeza do que significa modular a ideia de liberdade lá e cá, o autor alcança uma síntese importante: É verdade que a mercadoria (por ele produzida) não lhe pertencia, mas ele ao imprimir nela o seu trabalho, criando valor, participava do mercado no nível em que recebia um salário que também agia ativamente no mercado. Já o escravo circulava como mercadoria, idêntica àquela a qual ele próprio produzia. E é nesse nível de relações econômicas que o escravo é socialmente coisificado. Isto porque a ele não havia nenhum contrato, mas a posse absoluta do seu corpo como propriedade pessoal. Todo o trabalho produzido por ele durante o decurso da sua vida não lhe pertencia. Nada revertia posteriormente para ele (MOURA, 1994, p. 25).
O escravo não detinha poder sequer sobre o seu próprio corpo e, inclusive, o castigo não precisava ser regulado pelo Direito, pois, ao ser o escravo entendido como propriedade privada do senhor, este poderia fazer com ele o que quisesse. Ainda sobre as especificidades desta sociabilidade escravista, Clóvis Moura dialoga com todo o debate acerca da existência de um campesinato e de uma “brecha camponesa” naquele período no país, divergindo das conclusões afirmativas e constatando ser difícil defender, por exemplo, a realidade de uma formação econômica quilombola, podendo, no máximo, constatar que “a economia quilombola somente se manifesta como negação
99 estrutural e dinâmica (porque de protesto) à economia tradicional e estabelecida: a economia escravista” (MOURA, 1994, p. 32). Tratava-se, assim, de uma economia de resistência, que não suportou a política repressiva do sistema político-econômico posto. Portanto, com relação à polêmica acerca da classificação de nossa sociabilidade, para Clóvis Moura nós não experimentamos algo como um modo de produção feudal. Ele defende a ideia de um modo de produção escravista, porém que existe e se reproduz por estar imbricado ao capitalismo: O modo escravista de produção que se instalou no Brasil era uma unidade econômica que somente poderia sobreviver com e para o mercado mundial, mas, por outro lado, esse mercado somente podia dinamizar o seu papel de comprador e acumulador de capitais se aqui existisse, como condição indispensável, o modo de produção escravista. Um era dependente do outro e se completavam. Daí muitas confusões teóricas ao interpretar-se esse período, quando se procura estender as leis econômicas do capitalismo, especialmente do capitalismo mercantil à estrutura e à dinâmica da sociedade brasileira (MOURA, 1994, p. 38).
Deste modo, o que esta classificação nos revela é que seria forçoso estender o modo de produção capitalista à realidade colonial enquanto uma interpretação da divisão internacional do trabalho. Para ele, as características da relação social escravista são únicas, a condição do trabalhador coisificado e desumanizado e seus métodos de exploração são peculiares e, por isso, ainda que esta ordem social exista deste modo em decorrência da acumulação capitalista (que necessita da ordem colonial para se expandir), ela possui suas especificidades e precisa ser compreendida dentro disso. Ele prefere tratar, para este período, de uma divisão internacional do mercado – e não do trabalho.
2.4 Sistema penal com vocação de extermínio: ato 1.
Como pudemos constatar, a dimensão da escravidão brasileira foi incomparável e os desafios para controle desta população avolumada e potencialmente revoltada passaram por todo o processo ideológico de desumanização, pela tentativa de aculturação e por mecanismos de repressão penal legalmente vinculados às Ordenações portuguesas de cunho inquisitorial, mas majoritariamente garantidos no espaço privado, sendo o senhor de engenho seu principal fiscalizador.
100 Segundo Ana Luiza Flauzina (2006, p. 45), constitui-se, neste período de 1500 a 1822, a “espinha dorsal da lógica de atuação do aparelho repressivo no país”, enquanto um sistema naturalizador da subjugação, “de base fundamentalmente corporal”. Assim, nestes três séculos coloniais, “o sistema punitivo se municiou com todos os instrumentos de contenção que agregam uma legislação repressiva, recrutamento de milícias e capitães-do-mato, além de um sofisticado aparato de tortura” (FLAUZINA, 2006, p. 49). Um sistema penal consolidado para controlar os meios de reprodução da vida da ampla massa de pessoas escravizadas no Brasil. No período colonial consolidam-se formas públicas e privadas de punições, que se misturam. As punições regulamentadas eram previstas pelas Ordenações do Reino, portanto uma extensão do regramento de modelo inquisitorial da metrópole – Ordenações Manuelinas e, posteriormente, Filipinas –, ainda que a execução e fiscalização se dessem a partir do próprio senhor de escravo. Os dois instrumentos de suplício mais usados eram o tronco e o pelourinho, onde eram aplicadas as penas de açoite. O primeiro poderemos colocar como o símbolo da Justiça privada, e o segundo como símbolo da Justiça pública. Mas, de qualquer forma, a disciplina de trabalho imposta ao escravo baseava-se na violência contra a sua pessoa. Ao escravo fugido encontrado em quilombo mandava-se ferrar com um F na testa e em caso de reincidência cortavam-lhe uma orelha. O justiçamento do escravo era na maioria das vezes feito na própria fazenda pelo seu senhor, havendo casos de negros enterrados vivos, jogados em caldeirões de água ou azeite fervendo, castrados, deformados, além dos castigos corriqueiros, como os aplicados com a palmatória, o açoite, o vira-mundo, os anjinhos (também aplicados pelo capitão-domato quando o escravo capturado negava-se a informar o nome do seu dono) e muitas outras formas de se coagir o negligente ou rebelde (MOURA, 1992, p. 18).
A estas penas cruéis correspondiam tipificações penais que, no decorrer do processo de colonização, diante da centralidade do trabalho escravo e de sua potência insurgente, foram se aglomerando e diversificando, prevendo, por exemplo, em 1669, a exclusão da ilicitude do assassinato de escravos fugidos ou quilombolas ou, civilmente, a premiação aos capitães do mato, em 1701. Em 1741 passa-se a prever que quilombo seria o agrupamento que reunisse ao menos 5 negros (GOÉS, 2016). Todas estas previsões ganham ainda mais sentido e fôlego com o impacto da Revolução haitiana e a possibilidade ainda mais concreta da maioria negra se sublevar.
2.5 A independência brasileira como marco neocolonizador.
101 Ao final do século XVIII, a população negra alcançava níveis ainda maiores. Segundo Clovis Moura (1994, p. 143), “em 1786, para 362.874 habitantes, havia um total de 274.135 escravos. Na fase do auge das lavras, calculava-se que 80% da população estavam ocupadas na exploração do ouro, de forma direta ou indireta”. Entretanto, complementa que, com a decadência da economia aurífera, a quantidade de escravos na região diminui significativamente, muitos se tornando negros “livres” que “irão incorporar-se à massa de desclassificados do ouro”. Já nos engenhos do interior da Bahia, ainda no século XIX, havia uma proporção de 100 escravos para cada seis brancos. A vinda de D. João VI, em 1808, acompanhado de mais de 10.000 pessoas, torna-se um marco na busca por modificações de comportamento e culturais, embutidas em um ideal de branqueamento. Desde aí, inicia-se a era do “liberalismo escravista”, consagrada com a Lei Eusébio de Queiroz, mas, como a própria terminologia aponta, tratava-se de uma contradição em seus próprios termos, e a impossibilidade de materializar discursos de inspiração liberal europeia em uma realidade com ampla população escrava e com negros libertos impedidos de ocupar espaços de poder, tendo a si reservados os postos mais precários de trabalho. Até mesmo movimentos políticos de impacto no período, como a Confederação do Equador, em 1824, e a Sabinada, em 1837, silenciavam-se em sua pauta política a defesa da abolição da escravidão. O início do século XIX marca a simbólica independência brasileira, que não se concretiza nem politica nem economicamente, pois o novo país era politicamente comandado pelo antigo imperador e a subserviência à Inglaterra se aprofundava, com a assinatura de novo acordo comercial em 1810 entre este e Portugal, impondo regras comerciais. A Inglaterra tornava-se o centro imperialista e a “antiga” metrópole portuguesa encontrava-se subordinada aos seus ditames econômicos, tornando, assim, nossa emancipação política parte desta subserviência. Isto coincidia com a passagem do predomínio da acumulação primitiva à Revolução industrial, caracterizando uma etapa denominada como neocolonização, abaixo descrita por Fabio Campos (2017, p. 252): Uma fase de neocolonização na qual implicava ao mesmo tempo uma retenção de parte do mais-valor internamente e a constituição de um mercado interno a serviço da valorização da Inglaterra no âmbito mundial (...) um padrão de adaptação interno entre a associação subordinada da burguesia brasileira e a dominação externa do capital internacional.
As mudanças em curso com a Independência brasileira significam que as características coloniais do país mudam de caráter. O vetor mais explícito de destinação de nossas riquezas é o inglês e os mecanismos de subordinação não são mais predominantemente
102 jurídico-formais, mas sim cada vez mais econômicos. Rodrigo Castelo (2012, p. 6) caracteriza as mudanças abaixo, de acordo com o pensamento de Florestan Fernandes: Reforçou-se, assim, o papel das nações dependentes na divisão internacional do trabalho como uma fonte de exportação de riqueza para a acumulação de capital necessária ao financiamento da revolução industrial europeia. Mais uma vez, Florestan reafirma a importância da transferência do excedente produzido nas economias periféricas para o centro do sistema capitalista como uma forma de desenvolvimento do subdesenvolvimento brasileiro e latino-americano.
O capital inglês investe em muitos setores de nossa economia que se encontravam em expansão com a urbanização crescente do país, seja por meio de empréstimos em condições que acarretavam a insolvência dos mesmos ou investindo capital diretamente em alguns setores estratégicos, como estradas de ferro, produção de energia e o setor bancário. Clóvis Moura (1994, p. 55) descreve, por exemplo, que “nesta direção de monopolizar estrategicamente a economia nacional elegem como objetivo prioritário a construção do porto de Santos na última década do século XIX, o primeiro no Brasil com características modernas”. Neste mesmo sentido, a maioria da exportação do café, o carro-chefe de nossa economia neste período, é garantida pelos ingleses. Com a dominação econômica em tantas vertentes, o mercado brasileiro torna-se receptor de muita mercadoria inglesa, quebrando, inclusive, muito das nossas manufaturas nacionais incipientes. Esta etapa caracterizada acima como de neocolonização foi forjando mais nitidamente uma burguesia nacional, promovendo mudanças com a modernização capitalista que se concretizam com o fim do tráfico, a posterior abolição da escravidão e a passagem do Império para a República. Mudanças estas que ocorrem de maneira gradual e sem rupturas, acomodando, sob diferentes marcos, velhos e novos grupos minoritários de poder. Castelo (2012, p.13) continua descrevendo, a seguir, características marcantes deste período: A mudança veio, mas de forma lenta e gradual, com compromissos firmados entre os antigos e os novos donos do poder. As oligarquias agroexportadoras adaptavamse às novas regras do jogo de poder, trazidas pelo ingresso tortuoso do capitalismo nestas paisagens. A burguesia também tratou de usar a linha de menor resistência e procurou conciliar seus interesses com os já estabelecidos no país. Apesar de tensões e conflitos, o arcaico e o moderno conviveriam sólida e frutiferamente numa aliança de dominação para a exploração e apropriação das riquezas econômicas produzidas pelas classes subalternas. Operaram-se, assim, mudanças sociais no Brasil a partir de uma perspectiva conservadora, sem maiores sobressaltos para as classes dominantes (CASTELO, 2012, p. 13).
Para Clóvis Moura, neste período de 1850 em diante, marcado pela Lei Eusébio de Queiroz – proibindo o tráfico internacional – e pela consolidação de uma burguesia nacional
103 sui generis, autoritária para dentro e subalterna aos interesses ingleses, inaugura-se a etapa do escravismo tardio, caracterizado pelo autor como um “cruzamento rápido e acentuado de relações capitalistas em cima de uma base escravista” (MOURA, 1994, p. 53).
2.6 Sistema penal com vocação de extermínio – ato 2.
Como anunciamos anteriormente, neste momento o sistema penal irá transcender a esfera das penas privadas controladas pelo senhor de engenho e ganhar corpo mais institucionalizado, ainda que sob parâmetros similares. A gênese do aparelho estatal brasileiro na época imperial teve seu principal impulso na ordem privada, mantendo a escravidão. Essa conservação planejada do privatismo escravocrata necessitava do monopólio estatal da violência, como instância estratégica para manter a ‘dupla articulação’ que se revelava pela submissão às economias centrais, que garantia retornos rápidos e menos incertos para os negócios mercantis da burguesia brasileira, e a perpetuação da desigualdade social. Impunha-se com isso uma unidade da burguesia brasileira que se definia pela sistemática domesticação e repressão das classes populares (CAMPOS, 2017, p. 253).
Portanto, este período é de maior regulação legal penal interna, com uma série de previsões criminalizantes de tipificações sem vítimas, majoritariamente atreladas a aglutinação de pessoas negras em espaços públicos ou no controle de levantes e insurreições. Com a crise econômica e o pipocar de revoltas populares em todos os cantos do país, o Código Criminal do Império, aprovado em 16 de Dezembro de 1830, acompanhado de uma série de Decretos, inauguraram os novos métodos jurídicos para “impedir a ocupação livre dos espaços públicos pela população negra” (FLAUZINA, 2006, p. 56), desde a tipificação do crime de insurreição, a vedação dos cultos religiosos de origem africana, a necessidade de documentações para o “livre” trânsito – e a previsão de castigos caso não as portassem -, até a criminalização da vadiagem e da capoeira, aperfeiçoadas com o Código seguinte, em 1890. Quanto à primeira, as Ordenações Filipinas já previam um seu título “Dos Vadios” e o Código Criminal engloba um capítulo, o IV, com o título “vadios e mendigos”, prevendo pena de prisão com trabalho por oito a vinte e quatro dias, nas situações nas quais a pessoa não tiver uma ocupação econômica “honesta” e “útil”. Já no caso da segunda, o medo da autoorganização havia criado um discurso de que os capoeiras existiam como uma espécie de sociedade secreta. A sua vinculação direta à vadiagem se dará de forma explícita no Código seguinte, bem como a mendicância e a embriaguez.
104 A criminalização da maconha começa a ganhar forma ideológica no período de escravismo tardio, sendo a primeira lei de proibição da planta no Brasil aprovada em 1932, com proximidade temporal com a sua criminalização nos Estados Unidos, ponta de lança da política mundial de guerra às drogas. Luciano Goés (2016, p. 183) descreve abaixo como o discurso criminalizante da planta se constrói no país associado à negritude e seus padrões culturais: Dentre as criminalizações direcionadas à cultura negra marginal(izada), encontramos o ‘fumo do negro’ (maconha), introduzida no país, de acordo com documento oficial de 1959 do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, pelos escravos, que trouxeram sementes da planta escondidas nas Abayomis, cujo motivo declarado era a suposta violência inata ao negro decorrente de sua primitividade, acionada ou potencializada pelo uso da planta e pelo álcool.
Abayomi significa, em iorubá, “encontro precioso” e se trata de bonecas pretas feitas de retalhos das próprias roupas das mulheres escravizadas, sem costura alguma, apenas com nós ou tranças, inicialmente produzidas durante o trajeto no navio negreiro, para aliviar a aflição de suas crianças, e que se torna símbolo de proteção, um amuleto. As sementes de cannabis eventualmente trazidas a bordo eram utilizadas em rituais religiosos e também em práticas de curandeirismo, cujos fortes conhecimentos, dotados de legitimidade popular, significavam séria afronta ao saber médico ocidental e sua busca por monopólio. Deste modo, sua criminalização se dava em igual proporção à sua potência e empoderamento da população negra. Quanto à força policial, Luciano Goés descreve que, no início do século XIX, cria-se a Guarda Real de Polícia que substitui os "", grupo assim denominado há muito tempo em Portugal e cuja função de policiamento ostensivo fora estendida à colônia. Com o processo de independência a Guarda Real passa a ser denominada de Imperial Guarda de Polícia, mantendo essencialmente as mesmas funções e os mesmos métodos: (...) renovando a função precípua da polícia encontrada na criação da Guarda Real de Polícia, no início do século XIX, quando sua missão primordial foi definida claramente: manter a ordem com as ‘Ceias de Camarão’ que consoante Vera Malaguti Batista, eram torturas públicas nas quais as vítimas eram literalmente descascadas até sua carne ficar exposta, instrumento imprescindível para a ‘política do medo’ absolutista central, também traduzida marginalmente (GOÉS, 2016, p. 180).
Portanto, este período consolida o monopólio institucionalizado da violência, voltado ao controle não declarado de populações – e não indivíduos – a fim de controlar sua potência insurgente – desenvolvida pelo fortalecimento de suas identidades coletivas – e reforçar seu lugar marginal na relação de produção que se gestava aí.
105
2.7 Fundamentos econômicos e políticos da política de branqueamento no país – a crise do escravismo.
Em 1831, o Imperador português perde seu posto e se concretiza, nas palavras de Celso Furtado, a “ascensão definitiva ao poder da classe colonial dominante formada pelos senhores da grande agricultura de exportação” (FURTADO, 1968, p. 102). Neste momento, retomaremos a classificação de Clóvis Moura sobre as duas fases do escravismo brasileiro: pleno e tardio, tratando mais detalhadamente deste último, em busca da caracterização mais completa desta transição. Conforme anunciávamos, nossas dívidas, especialmente com a Inglaterra, só aumentam e aprofundam a nossa condição subserviente neste último período do escravismo, gestando internamente embrionárias práticas de suborno e corrupção que a agudizam. Esta incipiente modernização, acelerada com as injeções financeiras inglesas e o intenso processo de urbanização, aprofundam a combinação do arcaico e do moderno, por exemplo, com o uso das tecnologias recentemente introduzidas para esticarem a corda do que resta das relações econômico, política e sociais baseadas no escravismo. Clovis Moura traz o exemplo do telégrafo e seus usos para “dinamizar os mecanismos de defesa e os métodos de controle contra o escravo fugido. Era, portanto, uma modernização que tinha como função social o controle da mudança processada na estrutura da sociedade escravista da época, em benefício da classe senhorial” (MOURA, 1994, p. 62). Assim como o telégrafo, podemos nos referir aos navios para transportar escravos ou as ferrovias para levar as tropas para repressão das regiões quilombolas. O tráfico internacional de escravos abolido no país, a crise, especialmente econômica, decorrente da substituição da mão-de-obra, geram fluxos de tráfico interno, tráfico clandestino19 e ainda mais exploração da mão-de-obra escrava ainda existente. Neste esgotamento do modo de produção, destacamos alguns dos seus marcos antes e após a Lei Eusébio de Queiroz (1850), quando da proibição do tráfico internacional de escravos no Brasil: a Lei de Terras de Setembro de 1850; a tarifa Alves Branco, de 1855; e a Guerra do Paraguai (1864-1870). 19 Clovis Moura relata como se dava a pirataria, dizendo que “nessa fase agonizante do tráfico os contrabandistas muitas vezes mudavam de tática e encostavam o barco em locais desertos substituindo a carga por escravos velhos, os quais seriam depois confiscados” (MOURA, 1994, p.89).
106 i. A tarifa Alves Branco foi criada com uma finalidade fiscal e protecionista da indústria nacional. Anteriormente, os impostos sobre produtos estrangeiros eram da ordem de 15%, já com a nova tarifa as taxas de importação subiram para 30% quando não houvesse similar nacional e 60% quando esta existisse. Isto significou, de fato, um estímulo à produção nacional, porém também se tratava de um gesto preparatório de assalariamento imigrante, com a marginalização da imensa massa escrava, pois, como afirma Clóvis Moura (1994, p. 68), “além das intenções protecionistas e fiscais havia embutida, sub-repticiamente, uma intenção de modernizar o Brasil sem a participação do negro, ou seja, sem aquela população que continuava escrava”. ii. A Lei de Terras estabelecia uma ruptura com a política anterior de monopólio da distribuição de terras pelo Estado via doação, estabelecendo uma lógica de mercado de compra e venda, ausente de qualquer fixação de interesse público e garantindo a perpetuação e intensificação de privilégios dos latifundiários, a aquisição “suada” de pequenas propriedades por parte dos imigrantes e o alijamento da recém liberta população negra. iii. A Lei Eusébio de Queiroz é a culminação de um processo de cada vez maior ausência de recompensa financeira e menor interesse do capital monopolista internacional. A série de previsões legais – Lei do Ventre Livre (1871), Lei dos Sexagenários (1885), Lei que extingue a pena do açoite (1886), Lei que proíbe a venda separada de escravos casados (1869) e outras tantas – por detrás da aparência protetora, significavam uma desoneração dos senhores com o ônus da gradual extinção da escravidão, preservando a mercadoria que, em breve, não poderia ser reposta, seja descartando aquela mão-de-obra que já não era, por conta da idade, mais produtiva, seja estendendo a exploração pelos vinte primeiros anos vigorosos das e dos negros que nasciam naquele período. Conforme já dissemos em parte, a grande duração do escravismo brasileiro levou-o a encontrar-se com aquelas forças econômicas exógenas de dominação que não tinham mais interesse em exportar mercadorias, mas capitais. Nesse processo, longo e permanente de dominação, prepararam-se as premissas para a abolição se processar de tal forma que tanto essas forças externas como os antigos membros da classe senhorial encontrem no trabalho livre a continuidade e manutenção dos seus privilégios existentes durante o escravismo (MOURA, 1994, p. 84).
Clóvis Moura (1994, p. 147) relata que “do ano de 1850, exatamente quando foi extinto o tráfico internacional, até 1864 (quatorze anos, portanto) há uma queda de 785.000 escravos na população brasileira, o que corresponderia a mais de 30% do seu total”. Um número muito severo que, considerando que a Guerra do Paraguai se inicia daí em diante, só pode ser explicado pelas mortes diante de uma exploração ainda mais agudizada ou surtos de doenças que tenham atingido em cheio os trabalhadores escravizados.
107 iv. O significado da Guerra do Paraguai será retomado adiante, mas podemos aqui já antecipar que é um marco desta transição político-econômico-social brasileira, significando uma verdadeira tragédia, com uma “vitória” formal que arrasa populações, em nosso caso majoritariamente homens negros, muitos escravizados que são enviados para substituírem o dever cidadão de seus senhores proprietários 20 ou aqueles que se apresentam “espontaneamente”, sob a promessa de libertação posterior (não ocorrida). Como diz Clóvis Moura, trata-se de um grande paradoxo “a participação compulsória dos escravos no Exército brasileiro para lutarem contra um país onde não existia a escravidão” (1994, p.93). Foram milhares que morreram na guerra e milhares durante o treinamento, de cólera, desinteria e maus tratos no transporte. Além disso, há registros da existência de prisioneiros paraguaios reduzidos à condição de escravidão em nosso país. Para além da derrota humanitária, os países saem arruinados economicamente e ainda mais endividados.
2.8 As resistências, as falsas bandeiras e os desafios da negritude
Em que pese estejamos aqui contando a nossa história de perpetuação do sentido colonial de nosso país, em decorrência dos processos de hegemonização de uma elite com um projeto autocrático de Estado, sustentado por interesses externos de manutenção de um nosso lugar geopolítico, a história foi sempre conflituosa e com expressões significativas de resistência popular. Clóvis Moura defende que a quilombagem – “uma constelação de movimentos de protesto do escravo, tendo como centro organizacional o quilombo, do qual partiam ou para ele convergiam e se aliavam as demais formas de rebeldia” (MOURA, 1992, p. 23) – foi o agente de mudança social capaz de desgastar significativamente o sistema escravista. A quilombagem reunia todas as manifestações insurgentes, individuais e coletivas, para além do quilombo e até mesmo além dos negros, incluindo de índios perseguidos, mulheres em situação de prostituição, brancos pobres a fugitivos do serviço militar e, efetivamente, era entendida como ameaça aos senhores de escravos, tendo como maior 20 Clovis Moura (1994, p. 95) aponta que os senhores fugiam de seus deveres e nomeavam seus escravos para a guerra: “A Lei n. 1101, de 20 de setembro de 1865 (Artigo 5º, par.4º), e, depois, o Decreto n.3513, de 12 de setembro de 1865, facultavam a substituição do convocado ou recruta por outra pessoa ou pessoas ou o pagamento de uma indenização ao governo. Com esse conceito monetário de patriotismo e obrigação militar, criando as possibilidades dele se eximir, o exército que foi combater no Paraguai era predominantemente negro”.
108 expressão Palmares – que resistiu a mais de 27 expedições militares, de 1630 a 1697, conglomerando mais de 30 mil pessoas –, mas significando um elemento desestabilizador a nível nacional. Os senhores de escravos reagiam desde o parâmetro público e privado que anunciamos ser marca deste período de repressão criminal colonial. Certas resistências, inclusive, refletiam, em alguma medida, um sentido patriótico possível, fazendo com que os negros fossem usados como massa de manobra, estando à frente de processos insurgentes que, ao fim e ao cabo, os únicos ou quase exclusivos punidos ou massacrados eram os negros e que, muitas vezes, não possuíam sua igualdade formal e material como pauta relevante. Neste período de transição, de sucessivos ataques escamoteados à população negra no país, restam mais dificuldades de um posicionamento uno, pois, como diz Clóvis Moura (1994, p.101) “esta fragmentação ideológica do pensar escravo irá refletir-se no seu comportamento social. Ele não será mais o quilombola ou o insurreto urbano ou das estradas do século XVIII e início do XIX, mas um agente social que via como perspectiva de futuro ser um assalariado”. Em paralelo a esta situação nebulosa, o movimento abolicionista – dos brancos ganhou corpo a partir de 1823 e foi se fortalecendo após a Guerra do Paraguai. Vale registrar que até então a resistência sempre foi dos escravos e pobres, pela quilombagem. Era uma movimentação por uma abolição sem reformas e com a manutenção da estrutura fundiária e seus privilégios. E teria que ser este projeto bem conduzido, de maneira lenta e gradual, por 65 anos, sem correr o risco da alternativa de ser norteado pelos próprios escravos, de maneira radicalizada. Para se ter ideia dos desafios e nebulosidades do período, parte dos negros se organizou em um movimento conhecido como “isabelismo” como referência de apoio às ações da Princesa Isabel, fundando uma resistência armada denominada como Guarda Negra que possuía “uma ideologia de retrocesso, de volta ao passado e ao mesmo tempo utópica (monarquia sem escravidão), quando devia exigir medidas de avanço sociais radicais” (MOURA, 1992, p. 66). Os tempos eram difíceis para a resistência capaz de superar qualitativa e profundamente a ordem posta.
2.9 Café, assalariamento branco e exclusão negra
109
O desenvolvimento da economia cafeeira coincide com todo este processo transicional e demonstra transformações profundas no que se refere à mão-de-obra no país. Em um primeiro momento, logo após a proibição do tráfico, houve a importação de escravos das demais províncias às do Rio de Janeiro e São Paulo, uma espécie de tráfico interno. No Nordeste, houve uma intensa migração para a região amazônica a fim de trabalho na extração da borracha, um processo migratório ocorrido em condições arriscadas e com resultados trágicos, instaurando-se a extrema miséria desses trabalhadores. Abaixo, uma descrição de Clóvis Moura do sentido econômico burguês do incentivo ao assalariamento branco estrangeiro no momento de crise do escravismo com a proibição do tráfico – sentido econômico que, de longe, não esgota seus elementos explicativos, conforme este autor e tanto outros por nós aqui entoados desenvolvem. Agora, não. O senhor na economia cafeeira tinha de enfrentar um novo universo. O escravo já não era mais aquela mercadoria barata e facilmente substituível, mas, pelo contrário, devia ser protegida, pois a sua inutilização iria onerar o custo da produção. O imigrante, cuja presença se fará sentir, não tinha aptidão para o tipo de trabalho como ele era praticado nas fazendas cafeeiras. Ademais, era muito mais caro que o escravo, mesmo este tendo sido revalorizado como mercadoria, após a abolição do tráfico. Desse conjunto de circunstâncias surge uma realidade nova: de um lado aumenta a demanda internacional pelo café e, do outro, aumenta o preço do café internamente. Isto levará a que alguns segmentos, mercantis ou com capitais paralisados com a extinção do tráfico, se organizem no sentido de suprir a procura de braços. Mas, como esses segmentos visavam a uma taxa de lucro elevada e altamente compensadora, não irão recrutar o trabalhador nacional não-branco e em particular o trabalhador negro. Essa mão-de-obra é descartada já antes da Abolição, e se cria o mito da superioridade do trabalhador branco importado que traria, consigo, os elementos culturais capazes de civilizar o Brasil. Mas, enquanto essa campanha imigrantista não conseguia estruturar-se definitivamente, o preço do negro escravo aumenta no mercado (MOURA, 1992, p. 56).
Houve, neste momento, uma forte política governamental, em parceria com os cafeicultores, de imigração europeia para o Brasil. Da proibição do tráfico à abolição propriamente dita, o resultado desta política é o deslocamento de muitos ex-escravos para as periferias urbanas, em atividades precaríssimas. Estas dificuldades da população negra em se integrar na força de trabalho assalariada era alimentada pela rejeição governamental, com o discurso racista da “eficiência” do imigrante europeu, usando, assim, da discriminação para justificar a incapacidade da mão-deobra nacional de lidar com os desafios desta nova etapa econômica. Este é um elemento importante, pois na sociedade de classes o trabalhador está hierarquizado. Aos negros estão reservados o desemprego, os salários mais baixos, os empregos informais e precarizados. Isso se mostra cruamente neste período (mas não só aí),
110 com uma política arianista que tinha como princípio que a “tristeza, luxúria, cobiça e preguiça eram os pecados do índio, caboclo, negro e mulato, enquanto não se ajustassem às exigências do mercado de força de trabalho, do trabalho submetido ao capital, na fazenda, engenho, usina, estância, seringal, oficina, fábrica. Tratava-se de redefinir o trabalhador para redefinir a força de trabalho” (IANNI, 2004, p. 134). Portanto, a crise do escravismo afetou a população negra de diferentes modos, seja pela marginalização social nos grandes centros dos recém libertos ou pela intensa migração decorrente, principalmente, da venda de escravos dos estados do norte/nordeste para as fazendas de café em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Estas situações condicionam a população negra no que Florestan Fernandes denomina como subproletariado. O autor sintetiza muito bem o processo ao dizer que: A vítima da escravidão foi também vitimada pela crise do sistema escravista de produção. A revolução social da ordem social competitiva iniciou-se e concluiu-se como uma revolução branca. Em razão disso, a supremacia branca nunca foi ameaçada pelo abolicionismo. Ao contrário, foi apenas reorganizada em outros termos, em que a competição teve uma consequência terrível – a exclusão, parcial ou total, do ex-agente da mão-de-obra escrava e dos libertos do fluxo vital do crescimento econômico e do desenvolvimento social (FERNANDES, 2007a, p. 8586).
Uma nova etapa se inaugurará com o fim das relações sociais pautadas no escravismo. Etapa que nitidamente se constituirá de permanências reconfiguradas, que em nada se aproximam de resquícios de um passado histórico, mas da reinvenção de uma história não superada.
2.10 O sistema penal com vocação de extermínio: ato 3.
Este processo de décadas brevemente descrito nos parágrafos acima precisa ser lido sem as lentes benevolentes da narrativa oficial da historiografia. Compreender o papel do sistema penal no controle da negritude neste período nos auxilia a entender as permanências estruturais do racismo na perpetuação da realidade desigual brasileira. O primeiro aspecto é entender o esgotamento da exploração do trabalho por meio da escravidão como um processo que tem relação com os novos padrões produtivos mundiais e o lugar dependente e adaptável do Brasil. Desde o início do século XIX este esgotamento se
111 apresenta, porém se esgarça ao máximo sua extinção como possibilidade de inserção de uma mão de obra branca e a construção de um não-lugar ao negro liberto. O esgarçamento da escravidão vem acompanhado da constituição de um sistema penal agora mais ancorado no espaço público e no controle ainda mais intenso da vida da população negra. Deste modo, deve ficar nítido que a atuação do sistema penal neste período foi imprescindível para que se administrasse a transformação do escravo em liberto sem se perder o total controle social. A única maneira de bloquear o poder insurrecional da população seria transformando ex-escravos em marginais, criminalizando-os. Portanto, alcançamos, com este raciocínio histórico do sistema penal brasileiro até aqui delineado, uma importante definição relacionada às apostas do primeiro capítulo quanto à necessidade de se incorporar um raciocínio não homogêneo e eurocêntrico sobre as características e funções reais do controle penal na realidade do capitalismo dependente. Assim, compartilhamos da percepção de Luciano Goés (2016) de que em nossa realidade não houve a absorção de um modelo disciplinar corporal - modelo benthamiano do panóptico -, mas sim uma adaptação, uma tradução do modelo lombrosiano, sendo “o marco da construção do primeiro ‘apartheid criminológico’ marginal” (GOÉS, 2016, p. 198). E o autor justifica: Isto porque aqui não houve o disciplinamento de mão de obra para as fábricas. A disciplina na periferia sempre decorreu da necessidade da manutenção da ordem racial estabelecida, alcançada por meio da extrema violência física e mortes, instrumentos indispensáveis na dominação que afligia o corpo negro, objeto de propriedade da raça branca e de atuação da domesticação direta, ou indireta pelo medo que deveria inculcar aos demais.
Assim, o Código Penal dos Estados Unidos do Brazil, o código do período da República, aperfeiçoa a previsão sobre a incriminação da “vadiagem”, prevista nos seus artigos 399 a 401. Os elementos do tipo seriam: ausência de domicílio, ausência de profissão e falta de meios para garantia de sua própria subsistência. Ademais, ela deveria ser voluntária, não se enquadrando situações de incapacidade para o trabalho. A pena prevista era de prisão celular por 15 a 30 dias. O “plus”, muito bem articulado com a materialização da política criminal à época, era que a sua reincidência previa como penalidade a internação em colônia correcional se seis meses a três anos. O decreto 145, de 11 de junho de 1893, fundava a colônia Fazenda da Boa Vista, em Paraíba do Sul, “ou onde melhor lhe parecer”. Este decreto trazia, ainda, modificações na disciplina legal da vadiagem, reduzindo para dois anos o tempo máximo de internação na colônia. Além disso, estabelecia ainda que, para os menores de idade, a internação só estava autorizada se não estivessem sob o poder paterno. Posteriormente, o decreto 4753 de 28 de janeiro de 1903 cria a colônia
112 correcional de Dous Rios, na Ilha Grande, onde serão remetidos os vadios reincidentes. O procedimento ao qual se submetia a vadiagem, tal qual as demais contravenções, estava previsto na Lei 628 de 28 de outubro de 1899. Tratava-se de um procedimento bastante sumário, instruído pelo próprio delegado de polícia e submetido ao pretor para avaliação. Em que pese ser cabível apelação da decisão, em todos os processos consultados, apenas em um houve recurso por parte do condenado (ROORDA, 2016, p. 30).
João Guilherme Roorda (2016, p. 31) analisou processos com tipificação em vadiagem na primeira década do século XX em uma das “Pretorias” do Rio de Janeiro. Ele descreve que o preenchimento dos requisitos do tipo se dava, invariavelmente, por meio de provas testemunhais, as quais, “frequentemente funcionários públicos ou empregados do comércio, ou, ao menos, assim identificados, afirmam sempre conhecer o acusado e saber, ‘de sciencia própria’ que não possui domicílio certo, profissão ou meio de subsistência”. Ele afirma que a condução e resultados processuais dos casos não possuíam uma linearidade lógica, ainda que em situações semelhantes e até mesmo com o mesmo sujeito, o que permite que o auto conclua que “o aparato penal exerce funções latentes, ocultadas pelo discurso jurídico sobre o crime e a pena” (ROORDA, 2016, p. 31). A questão é que o processamento pelo crime de vadiagem tornou-se poderoso instrumento de controle social do negro pós abolição e o que mais importava, quando de sua primariedade, não era a condenação em si, mas o processamento enquanto um tempo (às vezes maior do que a própria pena fixada) de reclusão social. Qualquer compatibilidade com a banalização das prisões provisórias atuais seria mera coincidência? Já quanto à reincidência, a desproporção da primeira para a segunda pena demonstra como uma é a abertura da porteira para a segregação declarada da outra. Quanto ao intuito político por detrás deste controle dos corpos negros na cidade, João Guilherme descreve-o precisamente: As detenções se deram nos anos de 1904 e 1905, anos em que estavam a todo vapor as reformas urbanas impostas por Pereira Passos e o projeto higienista comandado por Oswaldo Cruz. Os processos por vadiagem eram altamente funcionais para o novo projeto de cidade anunciado, retirando as populações populares das ruas, ainda que por breves períodos. A pena aqui sustenta-se, ideologicamente, mais do que pelo conceito de “classe perigosa” de uma criminologia positivista da época, pelas demandas por ordem e organização espacial da cidade, que impõe a remoção de desocupados dos lugares públicos. Os processos de criminalização da vadiagem sugerem que o poder punitivo atua para muito além da “justa reparação pelo crime” ou “melhora moral do indivíduo”, sendo na verdade um dispositivo de poder que pode ser livremente utilizado para a realização de vários projetos (ROORDA, 2016, p. 32).
Podemos concluir, assim, que os primeiros anos da República aprofundaram os mecanismos violentos de controle do negro na cidade, estendendo, inclusive, a máquina penal
113 também aos trabalhadores assalariados organizados, através da criminalização das greves. A diferença na forma de criminalização entre estes grupos está no fundamento, pois no segundo caso a motivação é a falta de disciplina no mundo do trabalho, enquanto o primeiro “está centrado no grau de periculosidade investido em sua própria constituição física (...) a matéria punível é a própria racialidade negra” (FLAUZINA, 2006, p. 70).
2.11 Do escravismo tardio à modernização dependente: das ausências de rupturas e aprofundamento do caráter genocida do Estado
Do escravismo tardio se origina uma modernização dependente. Um passo à frente, a década de 30 é um marco no aprofundamento dos debates sobre as possibilidades de uma revolução brasileira. Com a industrialização, houve a crença na possibilidade de mudança no status do país no cenário internacional. Mas não, o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho permaneceu o mesmo e a forma como se dará a nossa modernização somente aprofundará a condição de dependência. O desenvolvimento industrial mundial impacta o gerenciamento da economia do café, já apoiada em uma movimentação comercial e financeira que demanda a criação de um mercado consumidor e da industrialização a partir da produção de bens leves, em um primeiro momento. Processo este acompanhado da consolidação de direitos trabalhistas e previdenciários, um misto de pressão da classe trabalhadora organizada e de necessidade de regulação da exploração. Portanto, é importante que registremos que a indústria inicia seu nascimento no Brasil como desdobramento do ciclo do café, como parte de sua expansão. Conforme descreve Fabio Campos, o conglomerado em torno do negócio do café introduz uma lógica industrial capitalista, inclusive com a substituição do trabalho escravo pelo assalariado e a consequente ampliação do consumo e sofisticação do mercado interno, concluindo que “a origem da indústria no Brasil não se divorciou do seu passado colonial” (CAMPOS, 2017, p. 254). Como veremos adiante, a saída dos marcos de dependência/ subdesenvolvimento parecia ser viável para parcela da intelectualidade e de ativistas naquela conjuntura brasileira. Para o primeiro aspecto, com a construção de uma indústria nacional de bens leves, que fosse acompanhada de uma de bens pesados, possível apenas com investimento nacional e soberano
114 de longo prazo e, para o segundo aspecto, com uma superação profunda da segregação social – o que apontamos aqui como sendo indissociável de um combate estrutural à desigualdade racial. Quanto ao primeiro aspecto, especialmente a partir da década de 50, ocorre um processo de acumulação do capitalismo brasileiro que não conta com uma acumulação prévia (pois se baseia na importação das tecnologias descartadas dos países de capitalismo avançado) e, sendo assim, a acumulação capitalista brasileira se fundamenta na exploração do trabalho vivo quase que exclusivamente (a denominada mais-valia absoluta), sendo, portanto, a entrada massiva de capitais estrangeiros via financiamento público um importante diferencial, o que faz com que a dependência externa apenas se agudize, mais e mais. A nossa indústria pesada, importante passo, não foi garantida autonomamente em relação ao capital internacional. O nosso sentido de colonização se mantinha mesmo com essas mudanças tão significativas. Por exemplo, Fabio Campos nos explica que, para garantir a importação de algumas máquinas necessárias para a implantação dessa indústria, foi preciso acumulação de divisas, garantidas pelo setor agrário exportador. Não significava meros fluxos de capitais capazes de alavancar a industrialização periférica, imprimindo-lhe uma forma autodeterminada de reprodução, mas, uma arte de conquista, cujo processo permitia o controle do mercado interno brasileiro e com ele a imposição de uma relação social de subordinação, em que as empresas multinacionais eram o vértice deste poder (CAMPOS, 2017, p. 257).
O período imediatamente anterior ao golpe empresarial-militar significou a possibilidade de inflexão de um sentido de uma revolução brasileira. Segundo Fábio Campos (2017, p. 267), tínhamos dois possíveis destinos, um era o aprofundamento do atrelamento dependente, com o complexo multinacional garantindo “rentabilidade por meio da extração de mais-valor à custa da superexploração da força de trabalho e dos benefícios do padrão de consumo elitizado”, o outro era a guinada nacionalista e democrática que um grupo de intelectuais e ativistas reivindicavam, exigindo, “por meio de um complexo nacional popular, reformas estruturais capazes de domesticar o capitalismo para o bem-estar da maior parte da coletividade brasileira”. A década de 60 apresenta uma cada vez mais nítida divisão social do trabalho e maior delimitação de classes e de seus opostos interesses, com o fortalecimento da classe trabalhadora e a forte repressão a ela dirigida durante as próximas décadas perdidas. Instaurase uma nova relação de forças para que seja permitida maior acumulação. O Golpe de 1964 foi o enterrar da possibilidade de uma alternativa.
115 Este aparato repressor, a serviço do imperialismo, daria origem no Brasil a uma força de contrarrevolução preventiva e permanente definida a partir do ‘Estado autocrático burguês’ como Florestan Fernandes denominou. Mesmo com o fim da ditadura nos anos 1980, este caráter antinacional, antipopular e antidemocrático se manteve a serviço das classes dominantes na Nova República (CAMPO, 2017, p. 263).
Podemos dizer, portanto, que os caminhos trilhados em nosso específico processo de industrialização pavimentaram nossa sina dependente, sendo “sob a aceleração do crescimento econômico, portanto, sob a ‘integração do mercado interno’ e o industrialismo, que ela iria mostrar o que significa dependência sob o capitalismo monopolista e o imperialismo total” (FERNANDES, 2008, p. 33). Neste contexto, é importante marcar a diferenciação que vai se apresentando entre os ditos desenvolvimentistas e os socialistas, trazendo o pensamento de Florestan Fernandes como ilustrador deste aspecto. Este período marca as discussões sobre as características do subdesenvolvimento e os diferentes diagnósticos para sua superação. Ao contrário do entendimento etapista, Florestan e outros defendem que não há que se falar em responsabilidade dos países supostamente atrasados, mas sim do próprio caráter do desenvolvimento capitalista, que é heterogêneo. Isso significa que o capitalismo em seu desenvolvimento sempre gera desigualdades, de maneira integrada. O dito subdesenvolvimento seria uma das especificidades do capitalismo. E, portanto, não haveria uma receita a ser seguida para alcançar o desenvolvimento. O desenvolvimento de alguns depende do subdesenvolvimento de outros. Assim, para Florestan, o nosso desenvolvimento adquire a feição de capitalismo dependente nas últimas décadas do século XIX, quando a dominação externa atinge a etapa imperialista, com maior concentração industrial e criação de monopólios, concomitante a um domínio cada vez mais forte do capital financeiro. Esta classificação é usada por este autor - e por nós aqui compartilhada – como definição de nosso desenvolvimento a partir deste momento e não como característica per si, associando-se, como em um laço de continuidade, com a periodização de escravismo pleno – escravismo tardio de Clóvis Moura. Para Florestan Fernandes, ainda que exista uma questão geopolítica essencial para a compreensão das disparidades da forma do capitalismo em diferentes regiões do globo, no decorrer de seu desenvolvimento teórico passa a defender que o Estado-nação não é agente histórico. Ainda que na aparência a dependência seja entre nações, são as classes e seus conflitos que movem as estruturas. Este é um elemento determinante para a compreensão das razões do autor ter caminhado ao lado e, paulatinamente, ir se diferenciando dos desenvolvimentistas,
116 pensamento nacional que dominou, entre as décadas 1940-60, o cenário progressista brasileiro. Esta guinada classista, descrita acima, reflete centralmente a sua diferenciação e, mais do que tudo, as respostas possíveis de rupturas com o subdesenvolvimento, por ele entendido como capitalismo dependente. A diferenciação mais nítida de Florestan Fernandes com os desenvolvimentistas de forma geral se dá na década de 60, com os golpes militares na América Latina, momento de regressão política profunda e afirmação do caráter autocrático da burguesia nacional: Já a segunda fase começa o seu processo de maturação no pré-golpe militar. É possível visualizá-la por meio dos seus estudos sobre industrialização e o empresariado paulista, sobre subdesenvolvimento, imperialismo e capitalismo dependente na periferia do mercado mundial e, principalmente, nas suas investigações sobre o Estado autocrático e a revolução burguesa no Brasil e na América Latina. Daí em diante, constata-se uma radicalização política e teórica de Florestan, na qual o marxismo emerge como a principal fonte teórica do seu pensamento e o tema da revolução/contra-revoluação ocupa um lugar central nas suas investigações (CASTELO, 2012, p. 5).
Deste modo, esta demarcação classista significa que Florestan concebe a burguesia local/nacional como parte da grande burguesia internacional. A primeira, em suas demonstrações mais do que concretas, não buscou formas de autonomia, ao contrário, ela se satisfez em ser cúmplice da grande burguesia internacional. Subordinada, porém cúmplice. Portanto, não se trata de uma dominação externa, mas de uma imbricação funcional. O período de aperfeiçoamento desta relação de mutualismo entre burguesias internas/externas, no caso brasileiro, dá-se com a fixação de empresas multinacionais no país, conforme desenvolve Castelo (CASTELO, p. 7): Tais empresas operam com novos padrões de produção, planejamento, concorrência, logística, comunicação, marketing e propaganda (...). Em determinado momento da história econômica latino-americana, acreditou-se que as corporações norteamericanas seriam um aporte necessário de capital estrangeiro para o desenvolvimento econômico da região. Governantes e intelectuais conservadores – mas também alguns ideólogos desenvolvimentistas – saudaram a vinda de tais empresas, celebrada como uma etapa superior do desenvolvimento das forças produtivas da região. A contribuição das multinacionais ao desenvolvimento latinoamericano e brasileiro se mostraria ilusória, e Florestan foi um dos críticos desta suposta contribuição. As multinacionais, antes apontadas como impulsionadoras do desenvolvimento, passaram a ser vistas como instrumentos de aprofundamento do subdesenvolvimento.
Diferentemente dos desenvolvimentistas, Florestan passa a não alimentar expectativas de que a burguesia nacional, diante de sua empreitada industrializante, poderia cumprir qualquer papel de aprofundamento democrático no país. Ademais, “a economia política desenvolvimentista ignorava a dimensão combinada do desenvolvimento capitalista na periferia, persistindo no erro de ver o setor atrasado como uma
117 barreira ao pleno desenvolvimento do capitalismo na periferia” (CASTELO, 2012, p. 7). Isto significa - como já antecipamos ao tratar do período do escravismo tardio e aprofundaremos em seguida – que, internamente, setores mais tradicionais se combinam com os ditos “mais modernizantes”. Portanto, como em item seguinte melhor abordaremos, o desenvolvimento capitalista em nossa região só pode se dar entrecruzando acumulação e expansão econômica com repressão política e desigualdade de renda, riqueza e poder. Quanto ao segundo aspecto, a hipótese que aqui lançamos é a de que o momento de inflexão das escolhas políticas e econômicas que determinaria a ruptura ou não para um caminho autônomo de desenvolvimento também dependeria de um acerto de contas no que tange às relações raciais. O mito da harmonia racial se consolidou exatamente neste período, sendo mais um elemento da possibilidade de afirmação da perpetuação do nosso sentido colonial. No início do capítulo refletimos sobre as características da escravidão brasileira, desconstituindo o mito inaugural de sua cordialidade; traçamos, em seguida, as principais características de sua decadência que nos deixam pistas fundamentais para a compreensão do mito da democracia racial enquanto elemento constituinte da consolidação do capitalismo dependente brasileiro. Abdias do Nascimento (2016, p. 200) descreve abaixo quais seriam os objetivos da construção do mito da democracia racial: O preconceito de cor, a discriminação racial e a ideologia racista permaneceram disfarçados sob a máscara da chamada ‘democracia racial’, ideologia com três principais objetivos: 1. Impedir qualquer reivindicação baseada na origem racial daqueles que são discriminados por descenderem do negro africano; 2. Assegurar que todo o resto do mundo jamais tome consciência do verdadeiro genocídio que se perpetra contra o povo negro do país; 3. Aliviar a consciência de culpa da própria sociedade brasileira que agora, mais do que nunca, está exposta à crítica das nações africanas independentes e soberanas, das quais o Brasil oficial pretende auferir vantagens econômicas.
Esta descrição de Abdias nos é muito cara por demonstrar a perfeita utilidade do mito da democracia racial para tornar impotente a vocalização do racismo vivido, sendo este silenciamento o próprio mecanismo de sua intensificação e perpetuação. Do mesmo modo, o mito serviu para criar uma possibilidade de falsear uma identidade nacional a ser vendida, inclusive servindo de modelo para outros países: No entanto, sob o jargão da ‘democracia racial’ – expressão que parecia resumir uma ‘autenticidade’ nacional – uma série de símbolos mestiços tornavam-se nacionais, tanto dentro como fora do Brasil. A feijoada, de prato de escravos virava
118 quitute brasileiro (com o arroz a representar o branco da população e o feijão o preto); o samba antes proibido era agora exaltado e até mesmo a capoeira de prática coibida transformava-se em esporte local. Isso sem esquecer de símbolos como Carmen Miranda (a portuguesa mais mestiça e brasileira), o futebol (que de inglês tornava-se tropical) e Zé Carioca, que criado por Walt Disney em 1942 resumia a malandragem e a mestiçagem exaltadas no Brasil (SCHWARZ, 2007, p. 12).
Era tanto um objeto de ostentação para exportação a outras nações pluriétnicas que a Unesco, em 1951, financiou uma grandiosa pesquisa no país para subsidiar o conteúdo deste produto a ser absorvido como saída autoritária a países com histórias raciais em algum modo equiparáveis à nossa. Foi esta pesquisa que fez com que Florestan Fernandes se debruçasse e se dedicasse ao desvelamento da questão racial no país, diante de um pedido de Roger Bastide, um seu importante mentor intelectual, cuja resposta inicial vacilante foi superada, em um primeiro momento, apenas por consideração ao outro intelectual e que, posteriormente, tornou-se um marco de suma importância nas interpretações críticas e nas resistências concretas. Da parte da Unesco havia a expectativa de que os estudos apresentassem um elogio da mestiçagem, assim como enfatizassem a possibilidade do convívio harmonioso entre diferentes grupos humanos nas sociedades modernas. No entanto, se algumas obras – como As elites da cor (1955), de Thales de Azevedo – engajaram-se no projeto de ideologia antirracista desenvolvido pela instituição, outras realizaram uma revisão nesses modelos quase oficiais. Esse é o caso das análises de Costa Pinto para o Rio de Janeiro e de Roger Bastide e Florestan Fernandes para São Paulo, que nomearam as ‘falácias do mito’: em vez de democracia surgiam indícios de discriminação; em lugar de harmonia, o preconceito (SCHWARCZ, 2007, p. 14-15).
Este segundo mito foi largamente bancado teoricamente pelo mesmo Gilberto Freyre que fantasiou o primeiro. Sua construção argumentativa passa pela ideia da miscigenação brasileira enquanto natural, ausente de opressões, tolerante, cujas expressões da intimidade (relacionamentos amorosos/sexuais inter-raciais) seriam traduções do fenômeno harmônico no público e no privado. Ao invés disso, a miscigenação reforçou hierarquias sociais e classificações discriminatórias, “a miscigenação (fato biológico) (...) não criou uma democracia racial (fato sócio-político). Ela estava subordinada a mecanismos sociais de dominação, estruturas e técnicas de barragem e sanções religiosas e ideológicas” (MOURA, 1994, p. 131). Puxando
ganchos
da
reconstrução
histórica
feita
em
tópicos
anteriores,
sistematizaremos neste momento os elementos concretos que comprovam o projeto de branqueamento populacional como prática genocida do Estado brasileiro, tendo o sistema penal como instância central para isso. Para Clóvis Moura, forjam-se, a cada etapa histórica categorizada por ele, sistemas de classificação e dominação/contenção social-racial – chamados por ele de “sistema
119 classificatório de barragem e seleção étnica”, que se diferenciam no período escravista e após a abolição (perdurando na atualidade). O primeiro momento, durante a escravidão, com a evidente ausência absoluta de direitos, inclusive ao próprio corpo e a humanidade. O segundo momento, por meio de uma igualdade formal, que torna a estratégia mais capciosa. Para ele, a contraface desta declaração igualitária é a construção de um espaço social com circulação restrita, forjada por meio de mecanismos nada explicitados, até mesmo naturalizados ou cujas compreensões são transferidas do âmago racial para o social. (...) de tal forma que a sua personalidade, sem conseguir criar mecanismos de defesa contra tal situação se deformou pela ansiedade cotidiana que dele se apoderou desde quando saiu de casa e especialmente quando reivindicou cargos ou funções que a ele, por táticas sub-reptícias e não mais visíveis, não lhe foram permitidos socialmente (MOURA, 1994, p. 193).
O mito precisava ser sustentado justamente porque o racismo nosso continha (contém) a mesma força destrutiva dos outros países-símbolo, porém sem a explicitação, pois, como afirma Florestan Fernandes (2007a, p. 67), aqui “se confundem padrões de tolerância estritamente imperativos na esfera do decoro social com igualdade racial propriamente dita”. Trata-se de uma segregação “disfarçada”, ressignificada neste contexto histórico e perpetuada à atualidade, salta aos olhos em fenômenos como os rolezinhos21 ou as revistas compulsórias nos ônibus que descem para as praias dos bairros nobres da Zonal Sul do Rio de Janeiro ou todas as situações que serão analisadas no capítulo seguinte. Distante de hierarquizar dificuldade ou drasticidade das opressões raciais, a histórica opressão racial naturalizada e normalizada no país tende a ser ainda mais tacanha ao gerar despolitização, dissolver ou dificultar identidades coletivas e dissimular violências. Como Abdias do Nascimento habilmente apelidou, a opressão racial brasileira se constituiu enquanto uma “dança da decepção ideológica”: O que diferencia a situação racial no Brasil da que vive a África do Sul ou os Estados Unidos não é tanto a natureza da injustiça social quanto essa dança da decepção ideológica. Tradicionalmente, os analistas permaneceram tão enamorados da idéia da harmonia entre as raças no Brasil que ignoraram em grande parte as desigualdades raciais. Quando reconhecidas, estas são atribuídas ao que os intelectuais brasileiros chamam “a questão social”, em oposição à “questão racial”. Sendo esta última percebida como pouco relevante no Brasil, as desigualdades de natureza racial são imputadas ao legado histórico da escravidão, considerando-se
21 Os “rolezinhos” se popularizaram nos anos de 2013 e 2014 e eram encontros de jovens marcados pelas redes sociais em espaços público-privados, especialmente shoppings centers. Os encontros aglutinavam centenas e até milhares de jovens, muitos deles sem serem os públicos mais elitizados destes estabelecimentos. A reação das seguranças privadas, o reforço policial e as decisões judiciárias legitimadoras do cerceamento da possibilidade destes encontros geraram escandalosa controvérsia na sociedade no período, questionando-se as invisíveis barreiras sociais do nosso cotidiano.
120 insignificante na sua composição a discriminação racial atual ou recente. Embora se reconheça a existência do “preconceito” – ao contrário da “discriminação” –, este é visto como apenas um problema estético que exerce pouca influência, talvez nenhuma, sobre a realidade social (NASCIMENTO, 2000, p. 5).
Abdias complementa dizendo, em seguida, da “potência de tais idéias, popularizadas a um grau talvez sem precedentes entre as teorias acadêmicas de ciências sociais, tem sido tão central na articulação da consciência nacional brasileira a ponto de dotá-las de uma aura próxima ao tabu”, o que se reflete com nitidez mesmo nos estudos críticos criminológicos. Conforme dito, compartilhamos do entendimento de que o sistema penal brasileiro, mais do que reproduzir racismo institucional, é produtor e reprodutor de racismo estrutural, sendo peça-chave para a caracterização genocida do Estado brasileiro. Pretendemos, abaixo, apresentar uma nossa caracterização de quais seriam os elementos determinantes da explicação do genocídio praticado pelo estado brasileiro. Aqui, a negação da ideia de democracia racial no país se dá por meio da denúncia deste genocídio. A definição juridicamente consagrada no plano internacional, acolhida pelo Estado brasileiro através do Decreto n.4.388, em 25 de setembro de 2002, é a do artigo 6º do Tratado de Roma: Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "genocídio", qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal: a) Homicídio de membros do grupo; b) Ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo; c) Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física, total ou parcial; d) Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo; e) Transferência, à força, de crianças do grupo para outro grupo (BRASIL, 2002).
Neste trabalho, ainda que percebendo confluências com o conceito jurídicointernacional, será adotada a conceituação sociológica que parte de Abdias Nascimento. O termo foi cunhado no sentido aqui empregado pelo autor nos anos 1970 e, atualmente, tem sido resgatado pelo movimento negro e outros movimentos sociais progressistas, especialmente no que tange à matança – morte matada ou morte-em-vida – da juventude negra periférica. Sintetizamos em cinco as principais facetas deste caráter genocida, tradutoras dos impactos da política de branqueamento aliada a um controle social difuso e controlado penalmente: 1. Sobre a compreensão do genocídio desde a exploração sexual da mulher africana; 2. Sobre a imigração; 3. Sobre o controle de informações e apagamento histórico; 4. Sobre o elemento cultural massacrado; 5. Sobre a adaptação jurídico-penal e o aprofundamento dos métodos violentos das instituições componentes do sistema penal.
121
i.
sobre a compreensão do genocídio desde a exploração sexual da mulher africana
Esta nos parece ser uma marca fundamental da conceituação de Abdias e merecedora do entendimento de ser a questão primeva deste raciocínio. Obedecendo ao papel meramente empresarial-espoliativo do processo colonizador, Abdias Nascimento destaca que “os conquistadores portugueses e espanhóis se preocupavam menos em estabelecer moradia nas novas terras do que em transferir sua riqueza para a Europa. Assim, o estupro sistemático das mulheres negras e indígenas foi um fato tão básico à estruturação dessas sociedades como a subordinação das mulheres brancas” (NASCIMENTO, 2000, p. 13). Assim, conforme destacamos no início do capítulo, o estupro originário das mulheres escravizadas é a prova mais viva de que não houve suavidade na escravidão brasileira. E agora podemos dizer que a opressão sexual das mulheres negras se estende como marca da constituição do mito da democracia racial. Inicialmente, era o estupro da mulher negra o método violento de garantia do sangue misto, e este ato violento inicial se perpetua culturalmente: O processo de miscigenação, fundamentado na exploração sexual da mulher negra, foi erguido como um fenômeno de puro e simples genocídio. O ‘problema’ seria resolvido pela eliminação da população afrodescendente. Com o crescimento da população mulata, a raça negra iria desaparecendo sob a coação do progressivo clareamento da população do país (NASCIMENTO, 2016, p. 84).
O que é inaugural na satisfação do colonizador branco, posteriormente, após a abolição, torna-se elemento casado com a política de imigração, como combo determinante da política de embranquecimento, “com base na subordinação da mulher e no lema ‘casar com branco para melhorar a raça’” (NASCIMENTO, 2000, p. 14). ii. Sobre a imigração Este ponto já foi trabalhado em tópicos anteriores, ao descrevermos as características da fase do escravismo tardio e sua transição ao capitalismo dependente. Entre 1890 e 1914, mais de 1,5 milhão de europeus chegaram apenas ao Estado de São Paulo, 64% com a passagem paga pelo Governo estadual. Dados como esse confirmam o que já acumulamos quanto ao impacto da política imigratória do país neste período. Nós também já sabemos o quanto a política governamental de imigração no período de ascenso econômico com o café era coincidente com a exaustão e abolição da escravatura, sendo não a imigração
122 em si, mas a política imigratória do Estado brasileiro uma unificadora de sentidos embranquecedores do país, inseparável da Lei de Terras e da Guerra do Paraguai. O sentido arianista da política escapava pelos poros, como a previsão discriminatória do decreto de entrada nos portos, abaixo descrita: Fato inquestionável é que as leis de imigração nos tempos pós-abolicionistas foram concebidas dentro da estratégia maior: a erradicação da ‘mancha negra’ na população brasileira. Um decreto de 28 de junho de 1890 concede que “É inteiramente livre a entrada, nos portos da República, dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho (...) excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos” (NASCIMENTO, 2016, p. 86).
Por ora, cabe destacar o silêncio constrangedor da ciência social e da esquerda de modo geral quanto à ideia difundida de ausência de mão de obra qualificada no país naquele período ou de mera negativa da população negra de participação neste processo. iii. Sobre o controle de informações e apagamento histórico Mais uma vez fazendo ponte entre a constituição do primeiro e do segundo mito, se Rui Barbosa ordena a queima dos arquivos nacionais referentes à entrada de negros escravizados e outras informações, a manipulação estatística se perpetua com a retirada do fator racial dos censos em 1950. A omissão e controle de informações se torna ainda mais grave durante a ditadura empresarial-militar, gerando a justa provocação, feita durante os anos de chumbo 22, quanto a “uma estranha ‘democracia racial’ que não permite reivindicações de direitos pelas vítimas da discriminação; o atual governo brasileiro tenta censurar, intimidar, e calar instituições de pesquisa e estudiosos estrangeiros que se preocupam com a situação do negro no Brasil” (NASCIMENTO, 2016, p. 95). Com a redemocratização, muitas foram as conquistas, desde o campo da memória social – com a inclusão das disciplinas de história da África e questão racial nos currículos escolares – até os registros raciais em documentos públicos que possam permitir a geração de políticas públicas. Mas a produção de dados ainda é deficitária no país.
22 Inclusive a negativa de representação de Abdias no Segundo Festival Mundial de Artes e Cultura Negras em Lagos fazia parte da venda de um pacote de inclusão e democracia racial para o restante do mundo. Abdias realiza boa parte de sua produção intelectual durante a ditadura empresarial-militar e dedica muitas de suas páginas para descrever o desserviço da política de relações exteriores brasileira, enquanto uma questão estrutural, de Estado – e não meramente conjuntural, de um governo. Da ausência negra à sustentação da imagem democrática, passando pelas alianças políticas (por exemplo, com a Portugal salazarista e a política imperialista na África).
123 iv. Sobre o elemento cultural massacrado Da classificação grosseira dos negros como selvagens e inferiores, ao enaltecimento das virtudes da mistura de sangue como tentativa de erradicação da ‘mancha negra’; da operatividade do ‘sincretismo’ religioso à abolição legal da questão negra através da Lei de Segurança Nacional e da omissão censitária – manipulando todos esses métodos e recursos – a história não oficial do Brasil registra o longo e antigo genocídio que se vem perpetrando contra o afro-brasileiro. Monstruosa máquina ironicamente designada ‘democracia racial’ que só concede aos negros um único ‘privilégio’: aquele de se tornarem brancos, por dentro e por fora. A palavra-senha desse imperialismo da brancura, e do capitalismo que lhe é inerente, responde a apelidos bastardos como assimilação, aculturação, miscigenação; mas sabemos que embaixo da superfície teórica permanece intocada a crença na superioridade do africano e seus descendentes (NASCIMENTO, 2016, p. 111).
Iniciamos o item diretamente com a citação de Abdias. O argumento nem sempre é simples ou óbvio para esta questão, mas o que nos importa aqui é perceber como a escolha brasileira por um racismo não-declarado/escorregadio permeia relações violentas que não estão declaradamente postas nas instituições, que não estão regulamentadas por normativas desiguais e que nem sempre se mostram por meio de discursos de ódio explícitos ou práticas de agressividade física. O caminho foi o gelatinoso discurso da miscigenação hierárquica, que contempla em si práticas de assimilação cultural, aqui por nós intituladas como massacre cultural. Tal massacre é parte integrante do projeto genocida do Estado brasileiro. Clovis Moura descreve diferenças – não hierarquizantes - de tipos de destruição étnica ocorridos com índios e negros em nosso país. Após a primeira etapa de etnocídio indígena (da invasão violenta à cristianização), optou-se por um paternalismo tutelar que busca lhes retirar poderio político, mas não destrói sua identificação territorial, o que, ainda que não sem dificuldades, permite-lhes mais coesão e identidade na resistência. Já com o negro, entende que a estratégia de dominação foi diferente. Um processo violento que busca a sua perda de ancestralidade, constituído desde uma falsa igualdade, a partir da noção trabalhada anteriormente de estratégias sub-reptícias de barragem, fazendo com que o negro seja “obrigado a disputar a sua sobrevivência social, cultural e mesmo biológica em uma sociedade secularmente racista, na qual as técnicas de seleção profissional, cultural, política e étnica são feitas para que ele permaneça imobilizado nas camadas mais oprimidas, exploradas e subalternizadas” (MOURA, 1994, p. 160). Estratégia que perdura por mais de quatrocentos anos! Estamos lidando com um processo complexo de dominação cultural e social, capaz de “destruir o negro como pessoa e como criador e condutor de uma cultura própria”
124 (NASCIMENTO, 2016, p. 112). Isso significa que a miscigenação hierárquica constituída no país alcança a intimidade mesmo do ser negro (autoestima individual e coletiva). Se antes tratamos da manipulação de informações enquanto técnica de esquecimento identitário, agora demonstramos a auto-negação declaratória, geradora da campanha, em 1989/1990, “Não deixe sua cor passar em branco”, promovida por representação do movimento negro, diante do Resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada em 1980, que, diante da abertura para auto-declaração racial, resulta no registro de 136 cores diferentes O que significa isto em um país que se diz uma democracia racial e o laboratório modelo para todos os países com populações interétnicas? Significa que os segmentos não-brancos através de um processo alienador interiorizaram os valores brancos das classes dominantes que os colocaram como sendo inferiores, num trabalho subliminar cujo resultado foi conseguir que essas populações queiram fugir do seu ser, da sua concretude étnica, refugiando-se numa identidade simbólica e deformada. Isto quer dizer, por outro lado, que a miscigenação não democratizou a sociedade brasileira nem aceitou os padrões culturais e étnicos não-brancos como iguais. Criou em cima dessa população miscigenada uma escala de valores discriminatória da qual ela procura neuroticamente fugir (MOURA, 1994, p. 157).
Isso que Clóvis Moura denominou como “fragmentação cromática” é o resultado perverso de uma incorporação negativa de afirmação de africanidade no país. As 136 definições diferentes refletem a carga negativa de se definir como negra ou negro, simples assim. O termo “moreno”, por exemplo, largamente utilizada para se definir ou definir outrem, carrega consigo possibilidades múltiplas de significado, desde se referir a uma pessoa negra de maneira menos explícita até um jeito de classificar a pessoa negra de pele mais clara. Assim chegamos à verdadeira natureza da grande quantidade de designações de cores: o eufemismo. A carga pejorativa de palavras como “negro”, “preto” e “escuro” faz com que qualquer uma dessas expressões seja tradicionalmente um insulto; gasta-se, desse modo, considerável esforço para evitá-las educadamente. Por outro lado, a noção geralmente pejorativa da africanidade é cuidadosamente extirpada da identidade nacional brasileira, com exceção de algumas instâncias muito específicas como a música, a culinária, o folclore e os esportes, onde é definida em grande parte por aqueles que não a criaram e onde é exibida como “prova” da harmonia racial e da tolerância da diversidade. Já que a identidade africana continua a ser vagamente considerada uma ameaça à unidade nacional, as expressões intimamente associadas à africanidade são evitadas, em parte por questão de lealdade de cidadania, e assistimos aos freqüentes protestos de que alguém não é negro nem afrodescendente nem de origem africana, mas brasileiro (NASCIMENTO, 2000, p. 17).
Abdias do Nascimento (2000, p. 3), em ensaio mais recente, do início dos anos 2000, tece críticas à atual classificação dúplice “pretos e pardos” por seu conteúdo subjetivo e arbitrário e ressalta que, apesar de reunirem 48% das auto-declarações, “as estimativas
125 atingem os 70% a 80%, quando se leva em conta a distorção que resulta do ideal de embranquecimento”. Esta situação toda gera um enorme desafio de fortalecimento da identidade étnica. De um lado, uma histórica intolerância às religiões de matriz africanas, do batismo forçado dos escravos nos portos ao saque policial dos terreiros; a arte africana tida como folclórica, que, de acordo com Abdias, manifesta-se por um paternalismo que “primitiviza, aquele nos acha interessante pela curiosidade e exotismo de nosso trabalho” (NASCIMENTO, 2016, p. 143). De outro lado, a resistência que brota como lírio nos escombros, da construção do dialeto das senzalas; da resistência quilombola durante e após a escravidão; do movimento de conservação cultural por meios religiosos; do candomblé que preserva seu vigor e corpo doutrinário mesmo com séculos de perseguição criminal; da dança do congo, do coco de roda, bumba-meu-boi; do orgulhar-se de seu cabelo black; e a lista é longa... Evandro Piza Duarte sintetiza a reflexão ao afirma que marca negra nas práticas culturais brasileiras “diz muito pouco sobre a ‘integração racial’, mas poderia dizer muito sobre as lutas sociais dos negros pelo direito à liberdade de expressão, à autonomia na produção, gestão e consumo de bens culturais, ao uso do espaço público, ao reconhecimento etc” (DUARTE, 2017, p. 20). Talvez o sentido mais delicado da compreensão do caráter genocida brasileiro seja este, que alcança todas as camadas da carne humana, que expõe seus ossos e fragilidades. É corrosivo, para quem oprime – inclusive quem oprime sem saber que o faz –, mas principalmente para quem é oprimido. Até que ponto a política do dominador permitiu que se guardassem reservas de resistência étnica suficientes para criar e desenvolver uma contra-ideologia de afirmação do negro como segmento étnico e agente social sem escamoteações, capaz de evitar que o não-branco de um modo geral fugisse da sua própria realidade, sem a necessidade de criar uma realidade simbólica alienadora? (MOURA, 1994, p. 156)
Por isso, o genocídio negro brasileiro passa também pela negação da memória africana e pela falta de representatividade negra nos veículos de comunicação e nos espaços de poder. Por fim, vale destacar que, neste massacre cultural, a tentativa de desviar todas as questões de opressão racial para um problema genericamente social – também praticada por amplas parcelas dos setores progressistas organizados no país, bem como por pensadores e pensadoras críticos – é daninha para o alcance da compreensão de nossos problemas estruturais.
126 Isso significa que, considerados sociologicamente, o preconceito e a discriminação de cor são uma causa estrutural e dinâmica da “perpetuação do passado no presente”. Os brancos não vitimizam consciente e deliberadamente os negros e os mulatos, Os efeitos normais e indiretos das funções do preconceito e da discriminação de cor é que o fazem, sem tensões raciais e sem inquietação social. Restringindo as oportunidades econômicas, educacionais, sociais e políticas do negro e do mulato, mantendo-os “fora do sistema” ou à margem e na periferia da ordem social competitiva, o preconceito e a discriminação de cor impedem a existência e o surgimento de uma democracia racial no Brasil (FERNANDES, 2007a, p. 93).
Essas barreiras invisíveis, não protocoladas e anunciadas pelos órgãos oficiais, mas construídas vigorosamente por séculos, sob diferentes mecanismos difusos, que alcançam o absurdo de convencimento da própria negritude de uma sua inferioridade, espirram seus efeitos em uma maioria negra governada por um grupo branco, na segregação espacial, nas diferenças no mundo do trabalho que revelam uma competitividade desigual que veladamente permite uma maior exploração da pessoa negra e na diminuição dos salários dos trabalhadores no seu conjunto. Portanto, a questão racial dá sentido à realidade social brasileira. Isto é fundamental na construção de um olhar interseccional. v.
Sobre a adaptação jurídico-penal e o aprofundamento dos métodos violentos das instituições componentes do sistema penal – (ou “Sistema penal com vocação de extermínio - ato 4).
Neste espaço do trabalho pretendemos reunir elementos que nos possibilitem compreender a consolidação da racionalidade penal iluminista atrelada a uma prática genocida subterrânea que, combinadas, configuram aspecto fulcral do mito da democracia racial no país. Este é o quinto elemento da caracterização genocida do Estado brasileiro e que, ainda que impossível de ser compreendido sem todas as demais construções teóricas, é o que mais diretamente importa à construção do raciocínio do objeto desta tese. Ana Flauzina (2006, p. 70), comentando sobre as características do Código Penal de 1940, diz que o mesmo: (...) está em consonância com os apelos de um Estado previdenciário, alinhado às exigências do bem-estar social, além de fortemente influenciado por um tecnicismo jurídico, que, circunscrevendo a atividade do jurista à elaboração e interpretação dos tipos penais, serve necessariamente aos propósitos da democracia racial, na medida em que promove a assepsia completa da raça no texto legal e isola o escopo normativo das práticas por ele desencadeadas e sustentadas, impedindo, por consequência, uma visão global do sistema em que o racismo emerge como base fundamental (...) o discurso racista criminológico não poderia mais ser assumido de maneira aberta, seguindo, entretanto, vigoroso na orientação das práticas punitivas na direção dos corpos negros, pelo implícito do formalmente aceito ao subterrâneo das práticas inconfessáveis.
127 Traçaremos os principais elementos do positivismo criminológico e como se deu o processo de sua tradução para a realidade brasileira, especialmente a partir do médico Nina Rodrigues, bem como buscar entender as razões do discurso arianista – que sustentou ao longo de boa parte de sua vida – não ter sido absorvido pelas instâncias legislativas, porém ter embasado a prática e o raciocínio instrumentalizador das práticas do sistema de justiça criminal brasileiro, em alguma medida até os dias atuais. Evitando
qualquer
descrição
de
escolas
criminológicas
com
pretensão
cronológica/evolutiva, registramos apenas que as ideias pautadas na racionalização e codificação do direito penal, desde o princípio da proporcionalidade e justificadas as condutas incriminadas a partir da noção de livre-arbítrio – elementos caracterizantes do que se denominou Escola Clássica –, serviram ao momento de consolidação do capitalismo como modo de produção, com o necessário disciplinamento da mão-de-obra dos países centrais e o controle do poder político e, portanto, também o de punição. Feita a advertência, podemos notar que nas entrelinhas classicistas, portanto, encontrava-se todo um sistema sócio-político norteado pelas expectativas e objetivos da burguesia ascendente que gestava o Estado moderno, em suas bases contratuais, com divisão de poderes, legalidade e humanidade, que agora necessitava de uma redefinição em favor de seus ‘incansáveis defensores’ (GOÉS, 2016, p. 41).
Entretanto, conforme o desenvolvimento do capitalismo, com o aumento da mão-deobra excedente, era preciso encontrar argumentos essencializantes para justificar as diferenças, pois o livre arbítrio já não era suficiente. A consolidação da Escola Positiva, ao final do século XIX, foi a estratégica instrumentalização das teorias das raças desenvolvidas naquele século, pautadas no argumento da inferioridade racial, com o objetivo “de construir diferenças e de fazê-las coincidir com características das populações não-europeias que foram oprimidas pelo colonialismo” (DUARTE, 2016, p. 507), para justificar a operacionalização das instituições de controle penal, principal veículo de reprodução do racismo. Os teóricos dessa fase complementaram o Direito Penal, substituindo o ‘fato’ (o delito enquanto fato jurídico previsto em norma abstrata) defendido pelo jusfilósofos (situado na razão e na defesa do indivíduo contra as arbitrariedades), por questões chaves para o funcionamento de um Direito Penal condizente com os objetivos e saberes produzidos à época: a preponderância do social em detrimento do individual e a importância da empiria, elevada à principal fonte do saber após a avalanche provocada pelo ‘descobrimento’ de um ‘novo mundo’, a relação observador-objeto impulsionava a necessidade de um conhecimento cada vez mais profundo e específico (GOÉS, 2016, p. 43).
Sem inventar a roda, este paradigma criminológico essencializador do dito “criminoso” bebe em fontes antigas de diferenciação hierárquica e categorização de seres humanos, com a retomada de elementos nítidos da perseguição inquisitória da Idade Média,
128 que desenvolveu uma complexa tecnologia punitiva pautada na superioridade biológica patriarcal (especialmente das mulheres desviantes da moral sexual, rotuladas como bruxas). Luciano Goés remonta a genealogia do racismo a 1500 A.C, com a invasão da Índia por tribos arianas em território que hoje se situa o Paquistão, trazendo outros elementos sobre o imperialismo helênico-romano, até alcançar o discurso racista no Ocidente, a partir das grandes navegações e a descoberta de novos povos em um novo continente, marcando aí a “origem da questão sobre a desigualdade e diferenciação humana, sendo tratada a partir da ‘tipologia’, ou, o uso de ‘tipos’, uma postura resultante da conjunção entre o saber científico e a política (ou vice-versa)” (GOÉS, 2016, p. 73). Então poderíamos afirmar que o que diferenciaria o fenômeno do pensamento racista que se forja no XVIII, fortalece-se no XIX e domina no XX é a sua qualificação enquanto científico. A ciência moderna reúne diferentes campos disciplinares (especialmente a Antropologia e medicina) para, a partir de um método empírico e que se pretende verdadeiro, estabelecer diferenças hierárquicas fisiológicas entre seres humanos, decorrentes de processos evolutivos: O mundo burguês, estruturado no racismo e elevado à superioridade pelo saber científico antropológico, surgido da fusão de duas disciplinas sensivelmente diferentes: a “antropologia física” (oriunda de interesses anatômicos e similares) e a “etnografia” (descrição a partir da comparação dos ‘Outros’), trazia consigo o conceito de ‘raça’ e com ele, diretamente, a inferioridade, já que as diferenças raciais eram indiscutíveis e comprovadas empiricamente (GOÉS, 2016, p. 76).
Houve as disputas de explicações desde os argumentos poligenistas (de que a humanidade possuía vários centros de origem) e monogenistas (seguidores dos ensinamentos bíblicos), mas o pensamento de Darwin marca a construção científica de diferentes áreas, partindo da suposição de uma ancestralidade una. Lombroso surfa nesta onda e desenvolve uma teoria, calcada no método indutivo, tendo as prisões italianas como laboratórios de seus estudos, com elementos fortemente evolucionistas, desde a ideia do atavismo como expressão de uma característica física regressiva (que teria sido superada pelo processo evolutivo de gerações) expressa nos sujeitos taxados de “criminosos natos”. Para Lombroso, as pessoas brancas teriam superado os traços primitivos, já as negras os teriam preservado com mais força. Isso se verificaria em uma investigação essencialmente fisiológica. Os estudos destes darwinistas sociais partiam da identificação de realidades ontológicas de grupos e não meramente de sujeitos, a partir de fatores fisiológicos e climáticos.
129 Os fatores geo-climáticos influenciariam sobremaneira a diversificação humana haja vista que atuariam, por sua vez, na qualidade da alimentação, no uso e desuso de órgãos, preferências amorosas, existência de inimigos naturais, etc., refletindo, por fim, na seleção natural e sobrevivência do mais forte e apto, superando a ação do tempo a partir desse cadeamento independente da força hereditária. A independência genética é chave explicativa de como, para Lombroso, a raça caucásica, mesmo sendo originária da evolução da raça negra (processo de embranquecimento evolutivo), não traz consigo o gene selvagem/primitivo (GOÉS, 2016, p. 93).
Portanto, é com base no que foi posteriormente denominado como “tríptico lombrosiano” - atavismo, epilepsia e loucura moral – que o autor classifica os criminosos natos e os criminosos de ocasião (cujo ato delituoso não possui relação com características intrínsecas ao sujeito, mas sim com elementos circunstanciais – essas pessoas seriam, não por acaso, brancas), garantindo a essencialização das condutas de um determinado grupo humano, mecanismo racional/“científico” reforçador e legitimador de um racismo já existente socialmente e praticado pelas instituições componentes do sistema de justiça criminal. Ao final do século XIX a teoria do criminoso nato foi traduzida para a realidade brasileira, tendo Nina Rodrigues como principal representante deste esforço. Como explica Lilia Schwarcz, no início do século XIX havia uma narrativa romântica sobre o “encontro das três raças”, porém, “surgindo em oposição ao projeto romântico, os autores de final do século inverterão os termos da equação ao destacar os ‘perigos da miscigenação’” (SCHWARCZ, 1996, p. 87). A ideia de que a miscigenação fazia perder o que havia de melhor – a questão racial passa a ser “um tema central para a compreensão dos destinos dessa nação” (SCHWARCZ, 1996, p. 87). A saída foi criar uma originalidade nesta cópia teórica. Lilia Schwarcz descreve a relação das escolas de Direito de São Paulo e Recife, bem como de Medicina do Rio de Janeiro e Bahia. Os dois cursos se complementavam na fixação das diretrizes científicas racistas, ainda que cumprindo funções diferentes em cada área e região. Quanto aos primeiros, Recife era a escola com pensamento mais explicitamente ligado ao darwinismo social. São Paulo constituía tradição mais liberal, formando menos os dogmáticos e mais os políticos, ainda que, complementarmente, “se partiram de Pernambuco as grandes teorias sobre a mestiçagem, foi São Paulo, como veremos, que se preocupou em implementá-las, a partir dos projetos de importação de mão-de-obra europeia” (SCHWARCZ, 1996, p. 91). Quanto aos segundos, “enquanto o Rio de Janeiro atentará para a doença, na Bahia tratava-se de olhar para o doente” ” (SCHWARCZ, 1996, p. 92). Complementando que o Rio de Janeiro estava investigando as grandes epidemias e a Bahia as teses de medicina
130 legal, pautadas nos sujeitos enquanto desviantes, tendo Nina Rodrigues como principal expoente. Os exemplos de embriaguez, alienação, epilepsia, violência ou amoralidade passavam a comprovar os modelos darwinistas sociais em sua condenação do cruzamento, em seu alerta à ‘imperfeição da hereditariedade mista’. Sinistra originalidade encontrada pelos peritos baianos, o ‘enfraquecimento da raça’ permitia não só a exaltação de uma especificidade da pesquisa nacional, como uma identidade do grupo profissional (SCHWARCZ, 1996, p. 92).
Nina Rodrigues foi quem desenvolveu, no Brasil, a crítica da igualdade jurídica. Diante da intrínseca inferioridade das negras e negros, defende que não poderiam ter sua responsabilidade penal definida pelos critérios de livre arbítrio definidos no Código Criminal, mas sim que deveriam receber um tratamento penal diferenciado, cuja operacionalização ficaria a cargo do magistrado, de maneira arbitrária e casuística. O livre-arbítrio transformava-se, portanto, em um pressuposto espiritualista, em uma falsa questão, como se a igualdade fosse criação própria dos ‘homens de lei’, sem nenhum embasamento científico. A partir de inícios do século, são os estudos de alienação e a defesa dos ‘manicômios judiciários’ que passam a fazer parte da agenda local, aliando a ‘certeza do caráter negativo da miscigenação’, à incidência de casos de loucura nessas populações (SCHWARCZ, 1996, p. 93).
Para Nina Rodrigues, a raça negra “pura” não seria nem melhor nem pior que a branca, estaria apenas em outra etapa de desenvolvimento. Por estas explicações essencializantes das raças, ele acredita que a miscigenação seria causa de degeneração. A relação das escolas fluminense e baiana na política concreta é bem direta. O projeto autoritário e higienista de intervenção na cidade se vincula com o perfil criminológico da escola baiana: O passo para a eugenia e para o combate à miscigenação racial foi quase imediato. Afinal, as doenças teriam vindo da África, assim como o nosso enfraquecimento biológico seria resultado da mistura racial. É assim que a partir de inícios do século, uma série de artigos especializados passam a vincular a questão da higiene à pobreza e à população mestiça e negra, defendendo métodos eugênicos de contenção e separação da população (SCHWARCZ, 1996, p. 94).
A tentativa de Nina Rodrigues de inferiorização ontológica da população negra no país passava, inclusive, pelas religiões que, até o período em que tomou contato com o conteúdo da Revolta dos Malês23, acreditava que eram todas politeístas e, portanto, inferiores, propondo um “controle psiquiátrico dos terreiros”, mas que, como razão não dita, estava a busca por controle do saber médico negro, como ressaltamos ao tratar da criminalização da maconha. 23 Na qual, para sua surpresa, tratavam-se de africanos muçulmanos e, portanto, monoteístas, o que negava a sua afirmação absoluta de que um dos traços determinísticos da inferioridade negra era o caráter poligenista e “primitivo” de suas religiões.
131 Em um aparente contraponto, o que se percebe é que o início do século XX, no Brasil, período de mudanças no padrão acumulativo do capital, com o aprofundamento do assalariamento e um ascendente processo de industrialização, também consolida a legislação penal pautada na racionalidade, equidade e proporcionalidade formal, instituindo um direito penal do fato. Na margem brasileira, onde o racismo é estruturante, estrutural e condicionante, a questão racial, no finais do século XIX e início dos XX, ganha status protagônicos dentre a elite nacional, pois o futuro e a ruptura com o passado da nação passavam indiscutivelmente por ela, e no caldo heterogêneo que se amalgamavam as teorias raciais centrais nossos cientistas iriam buscar a legitimidade para manter intacta a estrutura racialmente estabelecida sob a bandeira do liberalismo tardio (GOÉS, 2016, p. 144).
Portanto, em que pese o mito harmônico se alastrando enquanto discurso ideológico oficial, a desigualdade racial apenas se aprofunda e as ideias criminológicas etiológicas determinam o modus operandi das instituições que compõe o sistema penal, como razões nãoditas, que determinam ações seletivas e violentas, perpetuadoras do caráter eminentemente racista do sistema penal, porém ardilosamente apresentadas como coincidência ou condutas individualizantes e nunca como política de Estado. Evandro Piza Duarte (2016, p. 519) reflete abaixo nesse mesmo sentido: Logo, a desigualdade diferia da desigualdade atual, garantida pelo funcionamento real do sistema penal, mediante a operacionalização de estereótipos que não estão inscritos na lei, mas nas “teorias de todos os dias” dos agentes do sistema, em especial, das agências policiais. Na teoria jurídica e na lei, restam os conceitos que permitem operacionalizar tais formas de sujeição, como o conceito de suspeição. Assim, as novas representações substituem o medo das raças inferiores pelo conceito laico e “impessoal” de periculosidade .
Nina Rodrigues poderia ser taxado como um lunático racista cuja “pureza” das ideias não seriam cabíveis de serem assumidas oficialmente. Ocorre que se faz importante destacar que o autor possuía real influência na formação do corpo policial e mesmo do Judiciário. Nina Rodrigues se aproxima dos agentes responsáveis pela manutenção do controle racial enquanto as ilusões de igualdade e liberdade não passa(va)m de armadilhas teóricas: o Judiciário e a polícia, que conheciam suas teorias (legitimantes de suas práticas diferenciadas). Em relação ao aparato policial, Mariza Corrêa ressalta suas relações pessoais e diretas que, oficialmente, começaram em 1905 por iniciativa sua em um acordo firmado entre a Secretaria de Polícia e de Segurança Pública e a Faculdade de Medicina, representada por Nina (GOÉS, 2016, p. 272).
Nina Rodrigues, ao final de sua vida, flexibiliza em algum grau sua teoria eugênica, partindo da defesa da necessidade da “mensuração da quantidade de degeneração que cada indivíduo, localizada naquela subdivisão racial negra, poderia transmitir aos mestiços brasileiros, mantendo, assim, sua posição degenerativa da nação, mas adotando, agora, a
132 mestiçagem como solução” (GOÉS, 2016, p. 264). Parte desta flexibilização advém do seu auto-reconhecimento de limites e erros teóricos, ao se aproximar, especialmente, da complexidade e pluralidade das religiões e culturas de matriz africanas. Os seus seguidores foram aperfeiçoando sua herança, como Oscar Freire, incluindo elementos sociais e culturais ao invés dos raciais para demarcar as diferenças. Sendo assim, o olhar crítico ao sistema penal racista deste período em diante constituise desde a compreensão de uma prática que parte de uma suspeição generalizante da população negra e, portanto, “o uso da raça pelos agentes públicos para a identificação de criminosos é denunciado como uma dimensão do racismo, um aspecto da seletividade desse sistema. Os conceitos de vulnerabilidade e seletividade passam a ser decisivos nesse contexto” (DUARTE, 2016, p. 503). Portanto, os elementos reunidos neste tópico oscilam entre uma construção argumentativa explicitamente racista e um desenrolar legal pautado na igualdade formal, calcado no fato e não na pessoa. Esta aparente dualidade se trata, na essência, de uma complementariedade que, desde a concretude do sistema penal, é parte da materialidade das barreiras invisíveis que constituem o racismo gelatinoso brasileiro. Esta dupla racionalidade penal – declarada e não declarada – mantém-se intacta até os dias atuais. A inauguração do “sujeito suspeito” do período da República, selecionado desde o fundamento da “periculosidade”, que apenas por acaso – mera coincidência do universo – são predominantemente negros constitui a tônica do funcionamento do sistema penal nos dias atuais.
2.12 Capitalismo dependente e questão racial no Brasil
Nesta tonteante costura entre as três dimensões que se entrecruzam na explicação do fenômeno em análise – a questão racial no país; a sua relação com a perpetuação do sentido colonial; e as características e o papel do sistema penal em cada etapa – desejamos, neste momento, alinhavar certa síntese sobre o que caracterizaria a etapa do capitalismo dependente brasileiro e alguns elementos sobre a questão racial neste período, ancorados, essencialmente, nas formulações de Florestan Fernandes. O desenrolar da trajetória industrializante demonstrou, mais do que nunca, que o desenvolvimento capitalista em países como o Brasil ocorre de maneira diferenciada dos
133 países capitalistas centrais e a sua classe dominante não assumirá para si a realização das possíveis tarefas de uma democracia burguesa, como a reforma agrária, urbana, entre outras. Pode-se dizer o que se quiser a respeito de tais sociedades capitalistas: “Nações proletárias” ou “Nações de lumpemburguesias” – a verdade é que elas possuem um enorme espaço interno para as revoluções dentro da ordem. Transformações, que foram desencadeadas em outras sociedades capitalistas avançadas (“clássicas” ou “atípicas”) a partir de iniciativas das classes altas ou das classes médias burguesas, nelas terão de transcorrer a partir de iniciativas das classes despossuídas e trabalhadoras: os condenados da terra têm o que fazer e, se eles não fazem, a história estaciona (FERNANDES, 2007b, p. 50).
Florestan Fernandes explica que o caráter conservador é inerente à classe burguesa em si, não se tratando de uma peculiaridade brasileira, porém, diferentemente do período de ascensão fundado no lema da “igualdade, liberdade e fraternidade”, nos países colonizados apresenta suas vestes apropriadas a seu momento de consolidação, não assumindo qualquer caráter revolucionário. Desta maneira, compreender as especificidades da nossa formação burguesa é fundamental para interpretarmos o dilema de nosso desenvolvimento e a impossibilidade da própria ideia de nação. Florestan Fernandes justifica que, em “nações com desenvolvimento capitalista induzido e controlado de fora”, a dominação burguesa se estabelece em dois âmbitos, o interno e o externo. O segundo, mais facilmente compreensível, trata-se da interferência “organizada”, “direta” e “contínua” da burguesia dos países centrais e o primeiro seria a complexa metamorfose da elite brasileira, que habilmente mantém as estruturas patriarcais e autocráticas e as potencializa sob os moldes da nova etapa de acumulação do capital, representada por “classes dominantes que se beneficiam da extrema concentração da riqueza, do prestígio social e do poder, bem como do estilo político que ela comporta, no qual exterioridades ‘patrióticas’ e ‘democráticas’ ocultam o mais completo particularismo e uma autocracia sem limites” (FERNANDES, 2008, p. 35). Portanto, estruturas coloniais econômicas, culturais e políticas coabitam com os novos padrões capitalistas. Houve um casamento entre uma nova oligarquia interna, dominada por esta ascendente burguesia industrial e o capital estrangeiro; casamento concedido e consentido pela oligarquia latifundiária tradicional. A nossa burguesia, portanto, forja-se desde um profundo autoritarismo, calcado em absurdos privilégios e tendo o Estado como garantidor de seus próprios interesses. E, mais do que isso, para que tal façanha exclusivista se realize, precisa de um Estado que funcione como braço de repressão e violência.
134 Isso tudo significa dizer que o gradual processo de proibição do tráfico negreiro, Independência, abolição da escravidão, republicanismo, estímulo à imigração e processo de industrialização por substituição de importações de fato significou, nos termos de Florestan Fernandes, “uma revolução burguesa de tipo especial”, uma verdadeira “revolução dentro da ordem”, profundamente conservadora e dependente: O que ela colima, a criação de condições e meios para o aparecimento e a sobrevivência do capitalismo dependente, tem sido atingido, às vezes suscitando até a ideia do “milagre econômico”. Sob outros aspectos, ela cai na categoria das transformações capitalistas conseguidas por vias autocráticas (FERNANDES, 2008, p. 38).
Neste modelo não há possibilidade de um nacionalismo soberano, autônomo e democrático. As transformações foram significativas em todos os planos – econômico, político e cultural e se mostram com o assalariamento e consequente organização do mercado capitalista moderno, a reorganização político-administrativa do Estado e a crescente expansão urbanoindustrial. E tais transformações se conformavam com as tradicionais formas coloniais, como “uma espécie de afluente, que desaguava em um rio velho, sinuoso e lerdo” (FERNANDES, 2008, p. 48). Há mais de um século e meio depois da Independência e há mais de três quartos de século da universalização do trabalho livre e da Proclamação da República, a mudança social ainda não se dá para a sociedade brasileira como um todo, mas para uma minoria privilegiada (FERNANDES, 2008, p. 50).
E dentro desta especificidade em nossa construção peculiar de modernidade, conjugando, de maneira combinada, relações sociais coloniais com modelos competitivos capitalistas, a questão racial adquire característica estratégica, pois a sua mutação – da condição de escravo para de liberto e suposto cidadão em uma sociedade dita harmônica racialmente – é garantidora da consolidação desta nova etapa de acumulação capitalista no país, profundamente marcada pela concentração de capitais e pela desigualdade social/racial em níveis abismais. O passado e o presente foram reconstruídos conjuntamente e interligados nos pontos de junção, em que a sociedade de classes emergente lançava suas raízes no anterior sistema de castas e estamentos ou nos quais a modernização não possuía bastante força para expurgar-se de hábitos, padrões de comportamento e funções sociais institucionalizadas, mais ou menos arcaicos (...). A intenção foi ligar a desintegração do sistema de castas e estamentos à formação e à expansão do sistema de classes, para descobrir como variáveis independentes, constituídas por fatores psicossociais ou socioculturais baseados na elaboração histórica da ‘raça’ ou da ‘cor’, poderiam ser e foram realmente recalibrados estrutural e dinamicamente (FERNANDES, 2007a, p. 26).
135 Como já se torna perceptível, Florestan Fernandes nos é uma das fortes inspirações na compreensão das permanências coloniais de nosso destino enquanto nação fraturada e esta sua interpretação do amálgama entre “moderno” e “arcaico” materializado em nosso processo de industrialização por substituição de importações é fundamental. Porém, percebemos que, ainda que o autor explicite que a modernização só se dará nesses parâmetros autoritários e exclusivistas, parece-nos que há nele, em certos momentos, um quê de fé na modernização capitalista enquanto gradual superação desses parâmetros, como quando, ao se referir à herança cultural colonial, diz que “há evidente ligação entre esse padrão, que ainda não foi neutralizado pela ordem social competitiva, e a mentalidade mandonista, exclusivista e particularista das elites das classes dominantes” (FERNANDES, 2007a, p. 43, grifo nosso). Este aspecto é ainda mais explícito e problematizado por muitas e muitos intelectuais e militantes quando se trata de suas interpretações sobre a questão racial. Isso nos faz pensar que Florestan Fernandes aponta e, ao mesmo tempo, precisa ser transcendido, quanto à impossibilidade de equiparar o elemento econômico ao racial. Isso significa que não se tratava – e a história provou essa afirmação cabalmente – de mera herança histórica, superável progressivamente com o máximo desenvolvimento capitalista, mas sim de uma ressignificação do preconceito, imprescindível para o próprio consolidar desta ordem social. O trecho abaixo é um dos que escapa esta vacilante “fé evolucionista” do autor: À parte o que haja de verdade em tais verbalizações, o fato é que ainda hoje a miscigenação não faz parte de um processo societário de integração das ‘raças’ em condições de igualdade social. A universalização do trabalho livre não beneficiou o ‘negro’ e o ‘mulato’ submersos na economia de subsistência (o que, aliás, também aconteceu com os ‘brancos’ que fizessem parte desse setor); mas, nas condições em que se efetuou, em regra prejudicou o ‘negro’ e o ‘mulato’ que faziam parte do sistema de ocupações assalariadas, mais ou menos vitimados pela competição com o emigrante. O resultado foi que, três quartos de século após a Abolição, ainda são pouco numerosos os segmentos da ‘população de cor’ que conseguiram se integrar, efetivamente, na sociedade competitiva e nas classes sociais que a compõem. As evidências a respeito são conclusivas e indicam que ainda temos um bom caminho a andar para que a ‘população de cor’, sob hipótese de crescimento econômico contínuo e de persistência da livre competição inter-racial, alcance resultados equivalentes aos dos brancos pobres que se beneficiaram do desenvolvimento do país sob o regime do trabalho livre” (FERNANDES, 2007a, p. 46).
Estas conclusões geram uma imediata dúvida sobre a sua confirmação desta combinação do colonial com a modernização como intrínseca ao nosso desenvolvimento capitalista ou como uma crença de que a desigualdade racial pode ser superada no país com a superação dos elementos arcaicos de nossa estrutura social, possível através do desenvolvimento da ordem do capital.
136 Esta vacilação ou certo otimismo extrapolante, apesar das adversidades estruturais concretas, transborda em suas explicações subsequentes sobre os elementos potenciais de superação desta situação (a economia de subsistência; a nova etapa de desenvolvimento econômico a partir de 1945; e possibilidade temporal de superação da “persistência do antigo padrão tradicionalista de relações raciais” (FERNANDES, 2007a, p. 47) fazendo-nos concluir que, ao menos no período em que o autor escreveu estas linhas, havia de fato esta “fé na modernização”. O parágrafo seguinte é a demonstração mais explícita disto, ao dizer que “essas potencialidades são significativas e, se continuarem a se expandir, o Brasil poderá converter-se na primeira grande democracia racial do mundo criado pela expansão da civilização ocidental moderna” (FERNANDES, 2007a, p. 48). Entretanto, frases depois, assume que o Brasil corre o risco “da persistência de estruturas arcaicas que atravessam mais ou menos incólumes as grandes transformações que estão afetando a sociedade brasileira”. O sociólogo vai descrevendo nas páginas seguintes o quanto esta potencialidade estava, àquela época, bloqueada, por diferentes fatores, especialmente o desenvolvimento desigual entre regiões, com uma alta concentração de riquezas e de poder em São Paulo e Rio de Janeiro, que envolvia prestígios econômicos e sociais permeados por elementos raciais cada vez mais agudizados, com “novos focos de dinamização do preconceito de cor” e a economia de subsistência apenas funcionando como um nivelamento por baixo. Para ele, a “revolução burguesa” brasileira foi danosa aos negros e mulatos até a década de 30, garantindo relativo ascenso social posteriormente. A sua pesquisa empírica demonstra que os negros e mulatos desses territórios de súbito desenvolvimento tiveram mais dificuldades de inserção e da própria sobrevivência. Esse rápido bosquejo permite assinalar alguns aspectos essenciais da situação de contato racial imperante no Brasil. As áreas que atingiram seu clímax de prosperidade econômica no período colonial ou em conexão com a emancipação política do país ofereceram melhores condições adaptativas às populações negras e mulatas. Doutro lado, as áreas que permitiram a preservação ou a instalação das várias formas de economia de subsistência, conhecidas no Brasil, também ofereceram boas condições adaptativas a essas populações. As áreas afetadas por modernização súbita e intensa, como sucedeu com o Sul, por exemplo, tornaram-se menos favoráveis ao elemento negro e mulato, que ou retorna para as regiões de origem (no período de desagregação do trabalho servil e de consolidação do trabalho livre) ou precisa aceitar condições de existência extremamente duras, em particular se vivesse nas cidades (FERNANDES, 2007a, p. 66).
Em uma comparação de variadas estatísticas da realidade social de São Paulo e Bahia, o pesquisador percebe que, no caso baiano, “a predominância demográfica do negro e do mulato não afeta profundamente a estrutura socioeconômica nem a persistência dos
137 privilégios sociais associados à desigualdade racial” (FERNANDES, 2007a, p. 70), trazendo exemplos como a porcentagem de 83% das pessoas diplomadas em curso de nível médio e 88% em nível superior serem brancas. Apesar disso, o autor acredita que, com os riscos do exercício de prospecções, considerando uma continuidade das transformações, os negros e mulatos dos estados do norte/nordeste possuem mais chances, coletivamente falando, de superarem segregações e dificuldades. Como dito acima, para ele, a aceleração econômica dos estados do sul-sudeste não mudou estruturalmente a questão racial, porém forja uma pequena parcela de “novos negros”, “pessoas imiscuídas centralmente em tendências igualitárias que se refletem na estrutura de sua personalidade, no teor de sua visão de mundo e na organização de suas posições sociais” (FERNANDES, 2007a, p. 71). Esta interpretação do autor quanto a uma parcela da população negra que revoluciona sua auto-estima racial e reivindica um lugar de igualdade e de oportunidades pode ser entendida enquanto certa inferiorização cultural e retirada de elementos concretos de resistência das negras e negros em nossa história, desde o período da escravidão. Desta maneira, para nós, fixa-se a compreensão de que Florestan Fernandes desenvolve uma hipótese abstrata do desenvolvimento econômico competitivo ter alguma potencialidade de transcender disparidades raciais e igualar oportunidades. Entretanto, sua interpretação das características concretas do capitalismo dependente brasileiro, verificada, neste aspecto específico, a partir de pesquisas empíricas, faz com que conclua que esta seria uma impossibilidade de ser gerada espontaneamente em nosso país. Abaixo, importante síntese da natureza do capitalismo dependente e a perpetuação de desigualdades sociais e, especificamente, as raciais: É necessário, todavia, não esquecer que esse resultado não faz parte apenas de um processo de atraso cultural. Sob o capitalismo dependente, o sistema de classes é incapaz de exercer todas as funções destrutivas ou construtivas que exerceu nos países capitalistas desenvolvidos. Dois processos se verificam conjuntamente – a modernização do arcaico e a arcaização do moderno, como fator normal de integração estrutural e de evolução da sociedade (FERNANDES, 2007a, p. 92).
É preciso caracterizar a burguesia brasileira. Um elemento já retratado é o fato de ser particularista, atendendo seus interesses como se fossem de toda a nação, fato que muito se relacionada com as interpretações de Fabio Campos suscitadas anteriormente no que tange até mesmo ao perfil da industrialização aqui, pois havia muita dificuldade em projetar investimentos a longo prazo, uma vez que o “umbiguismo” burguês nacional demandava respostas vantajosas imediatas e individuais.
138 Essa burguesia brasileira, com perfil autocrático, transfere a potência de decisões estratégicas para fora e se apresenta como impotente para garantir autonomia estatal e democracia. Por isso, no Brasil a única possibilidade de conciliar uma ordem social competitiva com uma estrutura social pautada em privilégios de todas as dimensões, dos culturais aos econômicos, seria através da coerção e violência institucionalizadas. Para Florestan, havia (e acrescentamos esta perpetuação nos dias atuais) uma convicção das elites de seu potencial de controlar esta modernização conservadora sem significativas perturbações da ordem e é justamente por este perfil que, para o autor, “as classes privilegiadas e suas elites agravam, por medo histórico, as propensões porventura atuantes de resistência sociopática à mudança, enxergando em qualquer ‘abertura da ordem’ um cataclismo social” (FERNANDES, 2008, p. 24). Tal interpretação estrutural parece-nos mais do que confirmada pelos elementos conjunturais contemporâneos. Assim, para o sociólogo, a dominação burguesa na realidade do capitalismo dependente se faz com o uso ainda mais central da força do Estado “e de seus mecanismos de atuação direta sobre os dinamismos econômicos, socioculturais e políticos da sociedade de classes” (FERNANDES, 2008, p. 56). Politicamente, o capitalismo dependente se constituiria desde uma polarização política e uma democracia restrita. Para Florestan – e esta é uma questão latente e polêmica entre os intelectuais do pensamento social brasileiro – é em decorrência deste perfil que o estado brasileiro se constitui enquanto um Estado patrimonialista, pois: A modernização dependente nunca desencadeou ameaças verdadeiramente sérias à ordem econômica, social e política emergente. E, de outro lado, o principal efeito desse processo, a modernização institucional do Estado, coincidia com a renovação e o reforçamento das técnicas oligárquicas e autocráticas de dominação patrimonialista, elevadas da esfera privada à órbita da ação político-burocrático do estado (FERNANDES, 2008, p. 58).
Se, anteriormente, tratamos da característica da burguesia interna, enquanto cúmplice do papel exercido pela burguesia central no locus subalternizado destinado ao país, entendendo, portanto, que a condição dependente é um projeto compartilhado por estes setores da classe dominante, neste momento destacamos que a pressão e exploração sobre a classe trabalhadora em nossa realidade são ainda mais intensificadas, já que a porção de trabalho, para além do necessário, deve ser distribuída entre estes setores. Florestan compreende que, para tanto, demanda-se mecanismos permanentes de sobreapropriação e
139 sobreexpropriação. Portanto, é necessário aumentar o nível de exploração para dividir o resultado obtido entre as frações da burguesia envolvidas no processo. Por isso, este esgarçamento exploratório precisa ter como correspondente uma drástica redução da democracia. O nível de exploração é tamanho que qualquer mínima abertura democrática pode ser ameaçadora. Portanto, constitui-se, como regra característica, uma democracia de baixa intensidade, classificada por Florestan Fernandes como um estado autocrático burguês. Em nossa realidade, ao contrário de histórias oficiais, não vivemos longos períodos amplamente democráticos, acompanhados de curtas exceções, mas sim a restrição democrática como regra. A característica autocrática do Estado brasileiro significa pânico do poder popular e de mobilizações reivindicatórias. Isto também nos auxiliar a explicar o caráter autoritário do sistema penal brasileiro, desde seus primórdios coloniais, como elemento importante de funcionamento do controle social colonial, que se aperfeiçoa na etapa capitalista dependente. Bem sabemos do regime de torturas e violências do período da ditadura empresarialmilitar, com legislações instituindo prisão perpétua e estabelecendo uma doutrina de segurança nacional. Trata-se de um momento no qual a truculência é admitida institucionalmente e sua burocratização aperfeiçoada, bem como o espectro da seletividade ampliado aos eleitos inimigos políticos do regime. Entretanto, é importante situar que este período aprofunda formas e pressupostos de funcionamento violento do sistema penal presentes desde suas origens. O golpe de 1964 e suas decorrências foi o selar da vitória de um projeto autocrático e autoritário de funcionamento do Estado brasileiro e de dinâmica das relações sociais, tendo importância no aprofundamento punitivista e racista das instituições de segurança pública e do sistema de justiça criminal como um todo.
2.13 Raça determina classe, classe determina raça.
Assim, Octavio Ianni, abaixo, sintetiza interpretação da formação brasileira compartilhada neste trabalho, de negação da ideia de hierarquia de gravidades – entre pobreza e racismo – ou como um único fenômeno homogeneamente explicável –, ou seja, da noção de que combatendo a pobreza está se combatendo o racismo, mas sim defendendo a perspectiva de uma simbiose das dimensões de raça e classe, descritas pelo autor ao delinear o que seria a “fábrica da dominação e da alienação”:
140 O preconceito racial e o preconceito de classe mesclam-se em intolerâncias de vários tipos, manifestas em várias linguagens, com as quais se excluem, confinam ou administram os que são obrigados a vender sua força de trabalho para viver. Esta é a realidade: a raça e a classe são constituídas, simultânea e reciprocamente, na dinâmica das relações sociais, nos jogos das forças sociais. Essa é a fábrica da dominação e da alienação, que pode romper-se quando uns e outros, assalariados de todas as categorias, simultaneamente negros e brancos, em suas múltiplas variações, compreenderem que sua emancipação implica a transformação da sociedade: desde a sociedade de castas até a de classes, desde a sociedade de classes até a sociedade sem classes (IANNI, 2005, p. 14).
Elisa Larkin Nascimento (2016, p. 209) confirma este entendimento ao dizer que possuímos uma “escandalosa desigualdade econômica com nítidos contornos raciais” e que, por isso, “as desigualdades raciais não se explicam unicamente por fatores econômicos; a discriminação racial se confirma como fator estruturante”. Abdias complementa esta interpretação ao destacar que olhar para o Brasil também deve significar olhar para as suas profundas diferenças regionais, uma vez que “talvez a maior expressão da desigualdade social seja o abismo que separa os residentes de regiões urbanas desenvolvidas das populações rurais miseráveis nas quais os afro-brasileiros constituem maioria” (NASCIMENTO, 2000, p. 4). Ao traçarmos estas linhas com um olhar muito atento à centralidade da questão racial na constituição do capitalismo dependente brasileiro não significaria qualquer hierarquização ou negligenciamento do debate de classe ou da condição das pessoas brancas e pobres. A questão é perceber como a ordem colonial e, posteriormente, nossa modernização capitalista, foram erguidas desde o privilégio branco. Este é um elemento que conduz nossas relações sociais – desde a hierarquização, diferenciação, concessão de benesses e negação do valor econômico, cultural e subjetivo da população não-branca brasileira – o que não significa que homens/mulheres brancos e pauperizados sejam incluídos no desfrute desta ordem desigual, ou seja, esta ordem beneficia, integralmente, os brancos privilegiados (não todos os brancos), como bem explana Florestan Fernandes abaixo: O argumento segundo o qual muitos brancos ficaram à margem do mundo social que se criou pelo branco e para o branco – com a exploração sistemática das outras raças e dos mestiços, que se classificavam (ou se desclassificavam) através delas – possui pouco valor nesta discussão. Socialmente falando, ele não era branco e, a julgar por conhecimentos que obtive ao longo de minha carreira profissional, continua a não ser considerado socialmente como branco (FERNANDES, 2007a, p. 33).
Assim, podemos dizer que a concentração de renda e do prestígio social são racialmente permeadas. O mesmo raciocínio se dá ao pensar na influência negra nesta constituição societal e no quanto precisa ser influenciado pelo privilégio branco para sua
141 excepcional inserção: “para participar desse mundo, o negro e o mulato se viram compelidos a se identificar com o branqueamento psicossocial e moral. Tiveram de sair de sua pele, simulando a condição humana-padrão do ‘mundo do branco’” (FERNANDES, 2007a, p.33). Isso, desde o fim da escravidão, garantiu alguma mobilidade restrita àqueles(as) negros e negras que aceitaram o código moral branco. Portanto, se estamos lidando com uma sociedade que foi historicamente estruturada desde a profunda desigualdade racial/social e que transiciona de um modelo colonial a uma modernização capitalista sem alterar a premissa anterior e garantindo, por meio dela, uma profundíssima concentração de riquezas, essa sociedade terá como regra e, portanto, como permanência, o uso de aparatos repressivos do Estado: a violência é a sua língua oficial. Isso significa que a violência é prática política permanente e não episódica, tendo em vista que a manutenção de uma ordem social nesses termos – racista e concentradora de riquezas – só é possível por meio da permanência de instrumentos de repressão continuada. As demandas sociais são tratadas como “casos de polícia”, o espaço para a negociação é reduzido e a criminalização dos movimentos sociais se mostra uma constante. E é por isso que o Estado autocrático brasileiro tem o racismo como um de seus fundamentos.
2.14 “Era uma vez um país com destino autônomo...”: o acachapante impacto das mudanças globais da década de 1970 no Brasil
Amparados em elementos da história brasileira, não visamos reconstruí-la em detalhamento, mas sim buscar demarcar os momentos-chave de aprofundamento do capitalismo dependente a partir das lentes da construção do sistema penal racista. Caberia nos perguntar se o processo de redemocratização e da constituinte e, posteriormente, no decorrer dos 14 anos de gestão do executivo federal pelo Partido dos Trabalhadores, poderiam também significar momentos-chave de alteração dessas tendências de dependência/subdesenvolvimento. Arriscamos afirmar que não, nem no que tange às escolhas econômicas e políticas, ocorrendo, na realidade, um paulatino efeito reverso de reprimarização da economia, e nem mesmo nos aspectos referentes à segregação social, para nós aqui especialmente no tocante à desigualdade racial.
142 O país com a indústria mais complexa da América Latina sofre uma regressão profunda das suas forças produtivas. A nossa desindustrialização acompanhada de reprimarização, intensificada nos últimos quinze anos, precisa ser entendida desde as opções político-econômicas do país, mas também as situando nas condições estruturais das transformações mundiais do padrão de acumulação do capital, nas quais “aquele sistema industrial que sustentava determinada rota desenvolvimentista seria substituído por uma regressão produtiva” (CAMPOS, 2017, p. 248). O rentismo e a especialização marcam o papel de países de capitalismo dependente com desenvolvida estrutura econômica, como o Brasil, nesta nova etapa de divisão internacional do trabalho. A indústria pesada que começa a ser forjada em nossa realidade após a segunda guerra mundial interessava às burguesias centrais, uma vez que cabia nos planos acumulativos e expansivos do capital o desenvolvimento econômico nacional com alguma autonomia, inclusive nas realidades periféricas, sob a batuta das empresas multinacionais. Entretanto, as transformações globais após a década de 70 nos afetam de um modo peculiar: Metamorfoseando-se no futuro, este padrão mundial de acumulação, ao determinar uma inserção global das corporações inscrita numa lógica cada vez mais financeirizada e antagônica do desenvolvimento de sistemas econômicos nacionais, reconfiguraria transnacionalmente o domínio imperialista, de modo a impor a regressão da indústria pesada que ele próprio havia criado no Brasil (CAMPOS, 2017, p. 258).
O desenvolvimento tecnológico do período gera uma corrida global por mais eficazes tecnologias e por um processo de trabalho capaz de aumentar a produtividade do trabalho, fazendo com que as potências imperialistas e as empresas transnacionais alterem suas relações com os países que até então vivenciavam o ascenso industrial, pois este desenvolvimento não mais interessa ao grande capital. De acordo com Plínio de Arruda Sampaio Junior (2017, p. 16), “os Estados nacionais ficaram sujeitos a pressões para ajustar a organização da economia e da sociedade aos novos desideratos do capital internacional”. Fabio Campos nos ensina que o caráter perene de imediatismo e oportunismo da burguesia nacional fez com que não fosse captado que a crise dos anos 1970 não se tratava apenas de uma crise do petróleo, mas sim de uma mudança de patamar dos padrões de acumulação internacional, que implicaria a regressão de nosso complexo industrial. (…) o mais-valor gerado nesta estrutura industrial internacionalizada não seria canalizado para investimentos produtivos capazes de estender a substituição de importações para os setores de mais alta complexidade, como bens de capital, mas para viabilizar a modernização do consumo diferenciado da classe dominante com o auxílio do Estado (CAMPOS, 2017, p. 260).
143 Portanto, as mudanças globais com a cataclismática década de 1970 possuem características específicas na realidade periférica, como a latino-americana e a brasileira, mais precisamente. A adoção de saídas neoliberais – com a revolução tecnológica (microeletrônica), acompanhada de uma reestruturação produtiva das grandes corporações e a unificação dos mercados nacionais à lógica do capital financeiro (com o fim do Acordo de Bretton Woods) passou por uma aguda flexibilização das relações de trabalho e o desmonte de políticas sociais já estruturadas anteriormente com debilidade. O choque dos juros estadunidense é o principal fator da crise da dívida das economias latino-americanas. As respostas são desiguais e pesadas para os países periféricos, uma vez que os governos assumem os estoques em dólares e as filiais quitavam seus passivos em moeda estrangeira. A crise da industrialização, cujos primeiros sintomas remontam à primeira metade da década de setenta, tornou-se patente na década de 1980 com a crise da dívida externa e o colapso do sistema monetário nacional. Uma década de estagnação da renda per capita, obsolescência das forças produtivas e desmantelamento dos mecanismos de intervenção do Estado na economia desarticularam as bases do movimento de substituição de importações. Sem condições de enfrentar os desafios da concorrência internacional, o Brasil ficou sujeito às pressões de interesses econômicos, externos e internos, que comprometem a capacidade do Estado de fazer políticas públicas e defender a soberania nacional (SAMPAIO JÚNIOR, 2017, p. 18).
Este mesmo autor reúne dados escandalosos sobre o que significou materialmente o aprofundamento do caráter rentista da economia brasileira. Segundo ele, o passivo externo da economia brasileira, em 1955, estava na casa dos US$3 bilhões, somando a dívida externa, o investimento estrangeiro direto e as aplicações financeiras do capital internacional. Em 1981, este número saltou para US$82 bilhões e atingiu “a gigantesca magnitude de mais de US$600 bilhões em 2006” (SAMPAIO JÚNIOR, 2017, p. 23). Um dos aspectos da tradução destes números é que este aumento estratosférico corresponde a uma equivalente concentração de renda, pois há um desequilíbrio profundo entre o percentual do lucro e do salário na totalidade do PIB. Portanto, alimenta-se a dívida externa brasileira para regular superficialmente a economia e responder aos ditames do Consenso de Washington, empréstimo esse que nunca foi investido fortemente na produção, mas boa parcela em transações financeiras e que, como bola de neve, foi se multiplicando artificialmente no perigoso esquema do Sistema da Dívida, que cria mecanismos legais e ilegais de sua retroalimentação, quinhão fundamental para o grande capital.
144 A crise da dívida externa impôs uma política de geração de divisas a qualquer custo, não só expandindo as exportações, mas comprimindo as importações, de tal maneira que se abria uma contração violenta do mercado interno, resultando em drásticas quedas nos investimentos, onde a indústria de transformação seria a principal atingida (…) A estratégia foi esperar a economia brasileira começar as reformas neoliberais que teriam sua última etapa com a estabilidade da moeda, e daí sim internalizar os novos padrões de organização industrial que provocariam a regressão produtiva a partir dos anos 1990, com privatizações, desnacionalizações e destruição de importantes cadeias produtivas montadas desde os anos 1950. Foi uma crise da própria formação econômica brasileira – não mais determinada pelo desenvolvimento industrial em um regime centralizado de acumulação, mas por uma especialização regressiva (CAMPOS, 2017, p. 267).
Imiscuindo elementos políticos na compreensão desta transição regressiva, a derrota das “Diretas já” em 1984, bem como a da candidatura de Lula, em 1989, contribuíram na consagração no país da absorção desta nova etapa do projeto capitalista, na era do capitalismo financeiro. Para além dos elementos políticos dantes e em seguida anunciados, vale ressaltar que esta derrota marca uma etapa de refluxo e desesperança e desnorteio populares. Assim, ainda que ameaçada pelas forças sociais, a democracia brasileira permaneceu profundamente autocrática. Essas derrotas políticas somadas às transformações decorrentes da neoliberalização do país alteraram em muito a correlação de forças. A estabilidade da moeda, garantida com o Plano Real de Fernando Henrique Cardoso em meados dos anos 1990, não era necessariamente para conter a inflação enquanto um anseio popular. Era também para acalmar e docilizar o povo, mas principalmente para garantir as condições do novo negócio que o Brasil poderia se tornar, pela “especulação com juros da dívida pública e de estoques com o câmbio em permanente desvalorização nos anos 1980” (CAMPOS, 2017, p. 268). Durante os governos Fernando Henrique Cardoso é consolidado este locus do país na geoeconomia e o mecanismo complementar da estabilização da moeda é a adoção de medidas draconianas nas ações sociais de cunho estatal. FHC sacrificou as condições de vida da população e hipotecou o futuro da nação para manter os preços sob controle, adotando uma política econômica que asfixiou o crescimento econômico, aumentou dramaticamente a vulnerabilidade externa e comprometeu a dívida interna como instrumento de financiamento de políticas públicas. A defesa da estabilidade como um fim em si camufla o caráter antissocial, antinacional e antidemocrático do Plano Real, cujo verdadeiro objetivo é defender os interesse do grande capital nacional e internacional e promover a modernização dos padrões de consumo de uma exígua parcela da sociedade brasileira (SAMPAIO JÚNIOR, 2017, p. 25).
145 O pacote draconiano foi engolido devido a promessas de que privatizar faria com que o investimento se ampliasse. A sua não concretização pode ser traduzida em números, com p crescimento do PIB a menos de 2% como média e a renda per capita sendo diminuída. Diminuição do investimento na produção nacional, incentivo à importação e introdução de novas tecnologias: o resultado não poderia ser outro que não o aumento significativo de desemprego e um desequilíbrio na balança de pagamentos, aumentando em demasia os ativos estrangeiros no país. O crescimento do desemprego veio acompanhado de uma forte deterioração dos rendimentos. A natureza altamente regressiva do modelo econômico brasileiro fica demonstrada na sua absoluta incapacidade de transferir os aumentos na produtividade do trabalho para o salário real. O comportamento da indústria de transformação é emblemático. Enquanto entre 1994 e 2001 a produtividade por trabalhador registrou um aumento superior a 50%, a renda real média dos ocupados registrou uma diminuição de 8%. Nesse contexto, não é de estranhar que a participação do salário na renda nacional tenha sofrido expressiva diminuição, caindo de 36% do PIB em 1993 para 27% em 2000 (desempenho que contrasta com o comportamento dos lucros, que aumentaram de 35% para 41% do PIB) (SAMPAIO JÚNIOR, 2017, p. 26).
O que estes autores nos evidenciam é que este desequilíbrio das contas, com forte incentivo de acúmulo de capitais estrangeiros, seja pela dívida externa, por investimento direto ou aplicações financeiras, acompanhado de um intenso processo de privatização e de desindustrialização, gera também um aumento do endividamento público interno, como mecanismos de manutenção dos recursos externos, e isso ocorre pela elevação dos juros dos títulos públicos, em comparação com juros externos. Assim, o mercado fica protegido de riscos e os possíveis prejuízos são socializados. Plinio de Arruda Sampaio Júnior (2017, p. 28) traduz o raciocínio em números abaixo: Na gestão Malan, a evolução da dívida pública brasileira apresentou trajetória explosiva, passando de R$153 bilhões no início de 1995 (30% do PIB) para nada menos do que R$820 bilhões em agosto de 2002 (63% do PIB). Responsável por aproximadamente 85% da elevação da dívida pública líquida, o governo central foi o grande agente do descontrole do processo de endividamento. Apesar de a União ter obtido cerca de 49 bilhões de dólares (R$150 bilhões ao câmbio atual) com o programa de privatização, recursos que foram utilizados para abater a dívida interna, o estoque de títulos públicos sob responsabilidade da União saltou de R$62 bilhões no final de 1994 para um patamar de R$674 bilhões em Agosto de 2002 (37% deste total atrelado à variação cambial) (...). O contraste entre o comportamento dos gastos reais (que passam de R$155 bilhões em 1995 para R$254 bilhões em 2001) e o das despesas com juros e amortizações (que saltam de R$142 bilhões em 1995 para R$328 bilhões em 2001) evidencia uma dinâmica eminentemente financeira de expansão da dívida.
A conclusão do autor ao final da citação revela uma das maiores falácias do discurso político-econômico hegemônico, qual seja a de que se há aumento da dívida é porque o
146 Estado brasileiro gasta muito e gasta mal. O que se percebe pelos números acima é que a dívida não aumentou para se converter em obras, serviços ou qualquer outra prestação social, mas sim como se estivesse se retroalimentando. Portanto, a mundialização do capital perpetua a condição dependente ao redirecionar o papel econômico e a condição política do país, garantido também pela maneira dependente como se deu a nossa modernização, com amplo poder às multinacionais. Desde o início da década de 80, quando o país ingressa nessa atualização dos mecanismos de acumulação e expansão da ordem do capital, nós tivemos um desmonte da crescente indústria nacional, associado ao desemprego, subemprego e precarização do emprego, desnacionalizações e privatizações e nenhuma sequer esperança de crescimento ou progresso, como a cartilha neoliberal vendia, muito pelo contrário. Abaixo, Plinio de Arruda Sampaio Júnior (2017, p. 15) traz e analisa alguns dados quanto a isso: Interrompendo um longo ciclo de expansão, desde a eclosão da crise da dívida externa no início da década de oitenta, a economia brasileira encontra-se estagnada. Entre 1981 e 2005, a renda por habitante aumentou apenas 0,7% ao ano, desempenho muito inferior à média de 4,7% dos vinte cinco anos anteriores. O medíocre desempenho da atividade econômica veio acompanhado de uma drástica contração da taxa de investimento, que ficou em 16,5% do PIB, nível bem inferior ao patamar de 20% do PIB registrado durante o ciclo expansivo impulsionado pelo processo de industrialização por substituição de importações (1955-1979). A queda na taxa de investimento diminui a eficiência da economia nacional. Após a crise da dívida externa, a produtividade média do parque produtivo brasileiro sofreu expressiva regressão, tanto em termos absolutos como relativos. Entre 1980 e 2003, a evolução do produto por pessoa ocupada registrou queda de 11%, deterioração só comparável, entre os países subdesenvolvidos de maior porte, à ocorrida na Argentina e no México. Tal resultado é o inverso do que havia ocorrido no quartel anterior (1950-1980), quando o ganho de produtividade da economia brasileira ficou em torno de 71%, resultado equivalente ao da Coreia do Sul.
Os elementos acima narrados constituem a base do entendimento da razão da perpetuação de nossa condição dependente nesta etapa específica do capitalismo ter gerado um processo de aprofundamento do que alguns autores denominarão como “reversão neocolonial”, que se inicia com os governos estritamente neoliberais de Collor e Fernando Henrique Cardos e se perpetua com Lula e Dilma. Acerca destes últimos, compreenderemos melhor as especificidades e permanências em tópico desenvolvido adiante.
2.15 Austeridade e conquistas de direitos: os desafios das lutas por reconhecimento em tempos de crise estrutural do capital
147 No aspecto racial, o período aqui classificado como Nova República, marcado com o processo
de
redemocratização,
apresenta,
paulatinamente,
significativos
avanços
institucionais no que se convencionou denominar como políticas de promoção de igualdade racial. Ao mesmo tempo, tais conquistas, a serem melhor descritas abaixo, conviveram com o aprofundamento do específico e estratégico papel do país na geopolítica da guerra às drogas, com o crescimento vertiginoso do encarceramento de mulheres, com o recrudescimento da política punitivista para adolescentes, com o aprofundamento do papel político das prisões provisórias como importante pilar do encarceramento massivo no Brasil, com processos de criminalização primária inflados e mudanças na execução penal e no processo penal, tendentes a uma mais profunda caracterização neoinquisitória e de direito penal do inimigo, com o estágio de barbárie de nossas unidades prisionais alcançando o insuportável e inimaginável. Tais contradições seriam um paradoxo? Pensamos que não, mas sim expressões das resistências e embates políticos e da persistência escandalosamente presente do mito da democracia racial que nos cega frente ao papel genocida ainda cumprido pelo sistema penal, talvez a mais potente fonte de reprodução racista no país. Pensemos sobre esta indagação desde dois momentos. Em primeiro lugar, sobre o significado dos movimentos e pressões sociais que resultam na implantação de políticas públicas antidiscriminatórias. A mobilização popular que se intensifica ao redor do processo da Constituinte significou um fortalecimento do movimento negro no país, bem como das pautas de igualdade racial nos movimentos progressistas em geral, após o autoritário período militar. Foram muitos os aspectos de visibilização disso. Desde o mundo do trabalho, com intensas campanhas e denúncias contra a discriminação no emprego e na remuneração, encampadas tanto por sindicatos de trabalhadores, como por estes últimos de maneira autoorganizada. Neste mesmo sentido, simbólicas conquistas ocorreram desde fins da década de oitenta, como o reconhecimento oficial da rejeição do dia 13 de Maio como marco da resistência negra e a afirmação do dia 20 de novembro, em memória do herói quilombola Zumbi dos Palmares: Talvez a mais visível expressão dessa tendência tenha sido a efetiva substituição do 13 de maio, aniversário da abolição da escravatura, pelo 20 de novembro, aniversário da morte de Zumbi ao defender a República de Palmares, como dia nacional de comemoração afro-brasileira. Desde a década de 1980, o país passou lentamente a seguir a liderança do movimento negro nesse assunto; hoje em dia, a
148 mídia, as escolas públicas e particulares, as instituições culturais e organizações comunitárias agregam-se à celebração do 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, uma mudança que demonstra o poder da voz afro-brasileira unida (NASCIMENTO, 2000, p. 20).
Neste mesmo sentido, as conquistas da refutação do centenário projeto de desumanização da população negra, nitidamente perceptível ao tratarmos das dezenas de classificações raciais e sutilmente captado em outros elementos deste massacre cultural, podem ser identificadas na afirmação do orgulho negro e da auto-definição cada vez mais presente e firme: O levantar da voz afro-brasileira fez-se acompanhar da autodefinição. As designações de cores foram progressivamente substituídas por termos que unem em vez de dividir, como “afro-brasileiro”, “negro” e “afrodescendente”. O movimento negro e seus aliados instituíram a convenção de se usar a soma das categorias oficias de cor “pretos” e “pardos” para quantificar a população negra. Deixando de lado os resquícios de fascinação acadêmica com as categorias de cor, os afrodescendentes do Brasil escolheram o próprio nome e procederam a tarefas mais importantes (NASCIMENTO, 2000, p. 20).
Estas mobilizações também resultaram em maior participação da população negra em espaços de poder, como partidos políticos, cargos eletivos e agências governamentais. O tema da representatividade ganha relevo, ainda que sua representação esteja infinitamente aquém do desejado e necessário. Os dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre as eleições de 2016 destacam que a quantidade de candidatos negros eleitos segue inferior à quantidade de candidatos brancos. São 29,11% dos prefeitos autodeclarados negros e 70,29% dos candidatos brancos. O mesmo ocorre para o cargo de vereador: 42,07% negros e 57,13% brancos. Quanto às eleições de 2014, os dados revelam que, à Presidência da República, eram 10 candidatos brancos e 1 negro. Para governador, havia 110 candidatos brancos, 20 eleitos e 51 candidatos negros, 6 eleitos. A Senador, dos 112 candidatos brancos, 22 foram eleitos e dos 49 candidatos negros, 5 foram eleitos. Para deputado (estadual, federal e distrital), dos 11.701 candidatos brancos, 1185 foram eleitos e dos 9274 negros, 384 eleitos. Nas eleições de 2016, para prefeito, dos 10530 candidatos brancos, 3895 foram eleitos, dos 5138 candidatos negros, 1604 eleitos. Para vereador, foram 222217 candidatos brancos, com 33057 eleitos e 212106 candidatos negros, com 24325 eleitos. Estes números todos traduzidos significam que hoje “Dos 513 deputados federais, 24 são negros. Dos 81 senadores, três são negros. Dos 5.570 prefeitos, 1.604 são negros. Dos 57.838 vereadores, 24.282, são negros. Dos governadores dos estados e do DF, nenhum é negro. Dos ministros do STF, nenhum é negro” (AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO, 2018).
149 As explicações passam de falta de oportunidades políticas, priorização, desigualdade financeira nas campanhas, combinadas a todos os elementos estruturais explicativos das desigualdades raciais em todos os aspectos da vida. Há muito o que se avançar, mas a problemática está escancarada. Em meios às reivindicações do movimento negro, havia o entendimento da importância da construção de órgão e políticas especializadas, capazes de permear as políticas gerais, mas reconhecendo necessidades históricas especiais a serem observadas ou sanadas. Em âmbito federal, neste período da constituinte, constituiu-se uma Assessoria para Assuntos Afro-Brasileiros, ligada ao Ministério da Cultura, e depois uma Comissão para o Centenário da Abolição da Escravatura (1988), nascendo, desde estas iniciativas institucionais, a Fundação Cultural Palmares, “uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura (MinC) e tem por objetivo consolidar parcerias com as áreas e esferas de governo, gestores, artistas e representantes das diversas manifestações da cultura afro brasileira” (GELEDES, 2018). A Constituição Federal, ainda que com todos os embates e permanências conservadoras, resultou em uma série de previsões específicas fundamentais para a construção de um projeto de igualdade racial. Como é amplamente sabido, foi nesta carta constitucional que se passou a prever o racismo como crime inafiançável e imprescritível (art. 5º, par. XLII), regulamentado pela Lei Caó (Lei n. 7716/89). Neste documento também se prevê a proteção estatal das manifestações da cultura afro-brasileira (art. 215, par. 1º), o reconhecimento dos locais dos antigos quilombos como patrimônio nacional (Art. 216, par. 5º), bem como a demarcação das terras quilombolas (art. 68, disposições transitórias) e a inclusão da história e cultura africana e afro-brasileiras nas matérias de história do currículo escolar (Art. 242, par. 1). No campo da organização popular, o país vivenciou um marcante momento político com a ocorrência da Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, ocorrida em 1995, na ocasião do tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares. A Galeria dos Heróis da Pátria, na Praça dos Três Poderes, fica marcada com a inscrição do nome de Zumbi dos Palmares. Para além da mobilização, do mostrar o povo negro e suas lutas ao Brasil e ao mundo, o grupo operativo da Marcha entregou ao então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, um documento com a síntese das principais reivindicações do povo negro organizado.
150 De acordo com Abdias Nascimento e Elisa Nascimento (2000, p. 22), a resposta oficial do governo à Marcha foi a criação do Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra (GTI). Ademais, constitui-se: (...) dentro do Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), que trabalha em proximidade com o GTI e inclui nas suas Propostas de Ação Governamental uma seção sobre a População Negra composta de 22 objetivos de curto, médio e longo prazos (PNDH, 1998: 61). Essas propostas incluem o apoio à “discriminação positiva” e a “políticas compensatórias” para combater a desigualdade racial e melhorar a posição socioeconômica da comunidade afrobrasileira. Aliás, o GTI patrocinou uma série de seminários sobre ação afirmativa, e o Ministério da Justiça também organizou um evento internacional.
Daí em diante, alguns foram os importantes marcos de conquista legal e mecanismos de pressão por mudanças. Por exemplo, a Lei n.10639/03, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e torna obrigatório o ensino de história da África e de cultura africana e afro-brasileira no ensino básico. Esta alteração foi acompanhada previamente da exigência de revisão crítica dos livros didáticos e de literatura, bem como a inclusão destes temas nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Outro marco, mais recente, foi a promulgação do Estatuto da Igualdade Racial (Lei n.12288/10). Abaixo, trechos de um texto de balanço após sete anos do Estatuto, da Fundação Cultural Palmares: O Estatuto da Igualdade Racial reúne um conjunto de regras e princípios jurídicos para coibir a discriminação racial e definir políticas que promovam a mobilidade social de grupos historicamente desfavorecidos. Essa legislação trata de pontos fundamentais como o direito à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à terra, à moradia adequada e ao trabalho. Outro ponto importante do Estatuto diz que a herança cultural e a participação da população negra na história do Brasil precisam aparecer na produção veiculada nos órgãos de comunicação. Ainda sobre este aspecto, a Lei 12.288, sancionada em 2010, destaca que a produção de filmes e programas nas emissoras de televisão e em salas cinematográficas deve dar oportunidades de emprego a atores, figurantes e técnicos negros, com a proibição de qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. Coube ainda ao Estatuto criar o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), para organizar e articular políticas e serviços do poder público federal para vencer as desigualdades étnicas do país. O Sistema prevê parceria com estados, Distrito Federal, municípios, iniciativa privada e sociedade civil (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2017).
No que tange às políticas de cotas e ação afirmativa, foram muitas as tentativas de introdução, desde 1983, retomada no Senado em 1997. Porém, a implantação das cotas sociais nas universidades federais ocorre em 2012, por meio da Lei n.12711/12, com a reserva de 50% das matrículas a alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio público, seja em cursos regulares ou de educação de jovens e adultos, respeitando um percentual mínimo a
151 pretos, pardos e indígenas e as cotas raciais para os concursos públicos em 2014, por meio da Lei n.12990/14, reservando 20% das vagas para aqueles que se autodeclararem negros. Estas políticas foram antecedidas e fortalecidas/sucedidas com as inúmeras iniciativas de pré-vestibulares para pessoas negras e pobres, objetivando o aumento do acesso ao ensino superior destes jovens e seu fortalecimento coletivo. Estas conquistas e mudanças foram acompanhadas de iniciativas e denúncias sobre trabalho, oportunidade e igualdade salarial, bem como programas específicos de saúde dirigidos à população negra, levando em consideração enfermidades características deste grupo - como a anemia falciforme, por exemplo – além daquelas com maior incidência social e impacto, como miomas, hipertensão e doenças ocupacionais. Distante de esgotar o tema, este exemplificativo panorama é aqui problematizado pelo outro lado da moeda destacada anteriormente, ao tratar da imprescindibilidade da questão racial para pensar os dilemas da luta de classes no país. A classe trabalhadora é enegrecida no país e o racismo é estratégico para a sua exploração diferenciada/intensificada. E aqui complementamos o raciocínio afirmando que, neste mesmo sentido, a luta por igualdade racial, no limite, esvazia-se de sentido, ou, ao menos, perde sua força, se não for compreendida de maneira atrelada a uma perspectiva anti-capitalista. Por mais necessária em termos imediatos que pareça estar a conquista de direitos no cenário atual das lutas emancipatórias, a luta política não pode encerrar-se no âmbito da legalização, pois o direito civil que confere status de sujeito de direito à mulher e ao negro é o que mantém os privilégios daqueles que gozam dos benefícios de acumulação do capital e de seu entesouramento individual (DEVULSKY, 2016, p. 30).
Esta é uma reflexão necessária, ainda que delicada. Neste último período histórico, fortaleceu-se a reivindicação de reconhecimento das especificidades de certas pautas do movimento e sua transformação em bandeiras por políticas públicas. De acordo com Dennis de Oliveira, houve um significativo avanço, pois “o combate ao racismo transcendeu da denúncia para o reconhecimento de sua existência e, finalmente, para ser incluído na dimensão institucional da formulação das políticas públicas” (OLIVEIRA, 2016, p. 32). O que se denota é que, progressivamente, principalmente após a vitória do Partido dos Trabalhadores no executivo federal, houve uma priorização da luta antirracista para a perspectiva institucional e o horizonte de mudança passou a ser medido na maior ou menor eficiência das políticas públicas. A delicadeza do tema é que, por mais que conquistas imprescindíveis tenham sido arrancadas, as políticas continuam sendo marginais – orçamentos ínfimos e recursos
152 humanos insuficientes - dentro da estrutura do Estado e o racismo institucional sendo ainda reinante. O raciocínio de parte do movimento é de que as mudanças seriam paulatinas, expansivas, com maior ocupação de negras e negros nas instituições, diminuindo o racismo institucional e, ao mesmo tempo, como decorrência do enraizamento das políticas, a possibilidade de formação dos agentes públicos. Entretanto, nesta etapa do capitalismo, os desafios históricos encontram ainda mais dificuldades. Com os ajustes fiscais impostos com rigor na realidade do capitalismo dependente, com uma política econômica que se rende ao capital financeiro e ao pagamento dos juros da dívida, garantindo superávit primário à custa do congelamento ou redução do orçamento destinado a políticas públicas deste perfil, é perceptível que canalizar as lutas e esforços prioritariamente na esfera institucional e na conquista de direitos civis, de maneira desconectada das mobilizações pela superação da própria ordem capitalista, é equivalente a enxugar gelo. Com isso, a luta contra o racismo sinaliza para uma ação contra o capital que remete tanto a uma reconstrução da esfera política, esvaziada pela ação direta do capital, como por sua apropriação no sentido de uma profunda reforma do Estado nas perspectivas contrárias a sua formação histórica: desconcentração de renda e patrimônio, universalização plena da cidadania e desmonte dos aparatos de violência sistêmica. O racismo deve ser enfrentado não apenas na dimensão comportamental e relacional, mas fundamentalmente como mecanismo estruturante do autoritarismo social que sustenta as várias lógicas do capital (OLIVEIRA, 2016, p. 37).
Isto não significa, desde nossa concepção, que as lutas por reivindicações de direitos, reconhecimento de opressões e reparações sejam pouco importantes. O que ocorre é que, se estiverem desconectadas das demais pautas radicais, tendem a ser engolidas desde uma adaptação à ordem posta, limitando-se a ações compensatórias e instrumentalizadas para a ideia de empregabilidade e preparação de negras e negros para o mercado. E o ponto é simples: não há incorporação à ordem possível sem racismo. O capitalismo, especialmente em realidades como a nossa, é estruturalmente racista. Em tempos neoliberais, há uma inclusão pelo mercado e a conformação de uma pequena classe média negra, elemento sustentador do discurso meritocrático individualista. Portanto, as pautas por igualdade de direitos e ações afirmativas são vitais como caminho de abertura democrática e fortalecimento coletivo para horizontes mais estratégicos de mudanças desde a totalidade. Ademais, o segundo momento do raciocínio é o contraponto do avanço nas conquistas de direitos: a política de extermínio da guerra às drogas e o encarceramento em massa. O período de redemocratização, este mesmo de avanços no reconhecimento de
153 fundamentais bandeiras do movimento negro, coincidiu com a intensificação da política genocida do estado brasileiro. Diante destes elementos, com o cuidado devido, buscando evitar o risco de generalizações comparativas inadequadas, neste momento crucial do trabalho, bem como no desenrolar de nosso terceiro capítulo, estabeleceremos alguns comparativos da análise de Michele Alexander sobre a realidade estadunidense de encarceramento em massa com a realidade brasileira. Michele Alexander afirma que nesta fase o país vivenciaria um terceiro sistema de castas. O primeiro teria sido a escravidão, o seguinte o Jim Crow – período pós escravidão no qual foram regulamentadas previsões de segregação racial nos estados do Sul estadunidense, por quase um século: de 1876 a 1965 -, e agora o hiperencarceramento decorrente da guerra às drogas. Para ela, apesar do termo “castas” não ser tão preciso sociologicamente para a sociedade e o tempo atual, utiliza-o “para denotar um grupo racial estigmatizado e preso em uma posição de inferioridade pelo direito e pelos costumes. O Jim Crow e a escravidão foram sistemas de castas. E o atual sistema de encarceramento em massa também o é” (ALEXANDER, 2017, p. 50). A sua tese é de que é justamente difícil sustentá-la porque o racismo estadunidense se constituiu historicamente desde um caráter explicitamente legalista e este terceiro sistema de castas teria como marca maior estar situado em um período pós conquistas de direitos civis às negras e negros - fruto de uma resistência negra que marcou a história mundial – caracterizado por uma aparente neutralidade racial, capaz de eleger um Presidente da República negro. Entretanto, para ela, a neutralidade agora posta é uma enorme falácia e a fase de nova segregação, via encarceramento em massa, possui semelhanças com o Jim Crow, inclusive diante das restrições legais de cidadania após o aprisionamento, constituindo-se “uma cidadania de segunda classe” ocultada. Estas características mais específicas serão trabalhadas no terceiro capítulo, junto a uma construção paralela do que, para nós, seriam os elementos basilares da onde punitiva neste último período no Brasil. O racismo brasileiro se constitui enquanto uma guerra não declarada e, como toda guerra, vê-se sem possibilidade de ser verdadeiramente fundamentada. O que se tornou nos Estados Unidos, neste último período, um racismo estrutural disfarçado de neutralidade entre as raças é o nosso problema desde sempre e sempre, conforme pudemos constatar nas tantas páginas prévias. A “neutralidade racial” das leis e ações institucionais escamoteiam as práticas sociais e estatais marcadas pelo racismo.
154 Se o discurso oficial estadunidense é atualmente pautado na ideia de uma neutralidade racial e, por outro lado, o discurso e práticas sociais brasileiras foram secularmente constituídos desde a noção de democracia racial, é perceptível que o impacto da conquista de ações afirmativas possui efeitos políticos diferentes em cada um dos países. Neste sentido, Ana Flauzina (2017, p.16) disserta: Nesse tocante, cabe situar que as políticas de ação afirmativas são estabelecidas com sinais invertidos nos países em questão. Enquanto nos Estados Unidos se estabelecem ações afirmativas como forma de responder ao racismo abertamente declarado, inaugurando-se um novo momento social e político que tem por base a noção da ‘neutralidade racial’, no Brasil as políticas vêm ajudar a romper o mito da democracia racial, que historicamente nega a própria existência de racismo no país (FLAUZINA, 2017, p. 16).
A citação de Ana Flauzina é importante por informar a diferença significativa e os perigos da possível encruzilhada que se encontram ambos os países. Conforme melhor descreveremos no capítulo seguinte, Michele Alexander posiciona-se de maneira crítica quanto às escolhas do movimento negro no país de priorizar a luta por direitos civis e se satisfazer com elas, cegando-se quanto à nova perversidade que se constituía a olho nu, ao seu lado, que era a própria condenação de morte ou de morte-em-vida através do encarceramento. Para ela foi um erro esta priorização, sendo uma falta de percepção da falácia da ideia de neutralidade e de perda de força política. Já o que Ana Flauzina (2017) pontua é que, desde as peculiaridades de nossa história, as ações afirmativas cumpriram e cumprem um papel imprescindível de pôr sobre a mesa, arrancar o véu, mostrar a essência de uma relação social profundamente racializada e desigual. Podemos afirmar que conquistas como as cotas raciais na entrada de estudantes nas universidades públicas e em concursos públicos foram os principais mecanismos de denúncia do mito da democracia racial. Fundamentais. O ponto que atualmente estamos, utilizando novamente as palavras de Flauzina (2017, p. 17), é aquele no qual é preciso atenção, pois, “apesar de sua importância, as políticas de ação afirmativa não devem ser tomadas como a medida central para calcular avanços em termos de igualdade racial, devendo-se levar em conta o direito à liberdade e à vida como parâmetros fundamentais”. Deste modo, o balanço do histórico estadunidense trazido por Alexander nos serve de alerta para o que devemos temer e evitar. A encruzilhada que afirmamos acima se mostra nos desafios de identificação do racismo definidor de uma política genocida não declarada nestes termos, em ambos os países. A passagem abaixo de Michele Alexander (2017, p. 36) identifica o elemento crucial disto.
155 (...) em vez de nos servirmos de raça, usamos nosso sistema de justiça criminal para pregar nas pessoas não brancas o rótulo ‘criminoso’ e, com isso, nos permitimos prosseguir com as mesmas práticas que supostamente teríamos deixado pra trás. Hoje é perfeitamente lícito discriminar criminosos nos mesmos termos que antes era lícito discriminar afro-americanos. Uma vez que você tenha sido rotulado de delinquente, as velhas formas de discriminação – no momento de conseguir um emprego ou moradia, no momento de supressão do direito de voto, na restrição de oportunidades educacionais, na exclusão do programa de vale-alimentação e de outros benefícios públicos ou na exclusão da participação de júris – tornam-se subitamente legais.
Esta é uma grande sacada desmobilizadora do sistema que se vivencia no Brasil, em algum grau, desde o início do século XIX, período que relatamos anteriormente, no qual, nas disputas de narrativas e práticas, o discurso penal clássico pautado na igualdade formal vence nas previsões legais e aquele pautado na discriminação racial e na necessidade de tratamento diferenciado é o maior influenciador das práticas policial e de outras instituições componentes do Sistema de Justiça Criminal, como o Judiciário. Assim, no Brasil, os argumentos da periculosidade e do “indivíduo suspeito” são usados para colocar em prática uma política criminal racializada. Portanto, isto significaria que as práticas do sistema penal não seriam contra o negro, mas sim contra o criminoso, o sujeito dotado de periculosidade. Vera Malagutti nos define muito bem que estereótipo se trará de construções mentais que, em parte, são inconscientes, uma vez que “nas representações coletivas ou individuais ligam determinados fenômenos entre si e orientam as pessoas nas suas atividades cotidianas, influenciando também a conduta dos juízes” (BATISTA apud GOÉS, 2016, p. 126). Se antes apontávamos o quanto as ideias declaradamente racistas – até mesmo eugênicas – de Nina Rodrigues influenciaram as polícias e magistratura brasileiras, isso não foi diferente num processo de retroalimentação de um senso comum discriminatório. Este estereótipo acima descrito, que orienta comportamentos individuais e coletivos no cotidiano, no caso do rotulado “sujeito delinquente” foi construído com inegáveis bases racistasetiológicas. Portanto, o estereótipo do sujeito delinquente no país é negro. Tudo isso torna o discurso jurídico e político desfocado. É como se o grito fosse abafado, como se fôssemos lunáticos por nossas razões. Este cenário apresenta duas importantes questões. Uma é a percepção de que, desde esta classificação de sistemas segregacionistas, não se faz necessária a explicitação do elemento racial para que seu racismo vigore e domine. A outra é que esta escamoteação gera mais um entrave: a quebra da solidariedade interclasse. Esta ação racializada, porém velada, faz com que a culpabilização seja despolitizada e individualizada. Esta escamoteação divide a classe, torna um o delator do outro, um o algoz do outro. A questão não é entendida como um
156 mecanismo político de criminalização, mas sim como um desvio moral/individual, a manchar todo um grupo racial. Há um pleno acordo comum quanto ao rechaço do eleito “inimigo social”. Com todos os elementos trabalhados neste item, suscitamos algumas das principais dificuldades e dualidades em pensar a defesa da promoção racial no capitalismo e, mais ainda, na sua atual etapa de acumulação. Como pedaço do retalho que constitui este capítulo, saltaremos, em seguida, a uma reflexão mais detida sobre uma possível caracterização das três gestões do PT dentro do período da Nova República, com a detecção dos elementos de permanências da história já contada. A mesma linha, em curvas tortas. Sem cortes, sem pontos finais.
2.16 Principais impactos da política social-liberal dos governos petistas entre 2003-2016.
Dessa maneira, no final do século XX, com a implementação de políticas neoliberais iniciada por Itamar Franco, Fernando Collor e ganhando ainda mais corpo e impacto nas duas gestões do executivo federal sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), aprofunda-se esta tendência de construção de um projeto inautêntico e dependente de país, calcado na forte exploração e no controle dos pobres. No início do século XXI, mais precisamente de 2003 a 2016, nas gestões presidenciais do Partido dos Trabalhadores, o processo continua, com novas roupagens, mas com características semelhantes, pois, conforme Boito Junior (2012, p. 5), “esse é um programa ou política econômica e social que busca o crescimento econômico do capitalismo brasileiro com alguma transferência de renda, embora o faça sem romper com os limites dados pelo econômico neoliberal ainda vigente no país”. Foram anos de administração por uma frente política, coordenada partidariamente pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que alguns denominam como pós-neoliberal, social-liberal, outros como neodesenvolvimentista ou simplesmente a continuidade da política neoliberal, com suas especificidades. Aqui buscaremos traçar alguns elementos e se posicionar quanto ao seu perfil. Está colocado a nós o desafio de compreender as transformações e as tendências do Estado Brasileiro nesse período, com a preocupação de fugir das defesas apaixonadas e míopes de um suposto governo progressista e, ao mesmo tempo, buscando compreender os
157 fatores explicativos dos sinais de esgotamento do ciclo do petismo que se abre em 2016 com o golpe político-jurídico-midiático à Presidenta Dilma Rousseff. Diante de um rótulo redistributivo atribuído a essas últimas três gestões governamentais, capazes de diminuir pobreza, aumentar salário mínimo e fomentar políticas assistenciais e, paralelamente, de uma constatação acerca do favorecimento e fortalecimento das elites e de um intenso processo de acumulação, é preciso que sejam esmiuçadas quais as configurações que caracterizaram a gestão do Estado brasileiro nesse período e a impossibilidade de uma prorrogação da tentativa de uma gestão conciliatória de classes. Dentro dos marcos do capitalismo dependente, as opções da sociedade ficam reduzidas à possibilidade de combinar maior ou menor crescimento econômico, maior ou menor concentração de renda, maior ou menor controle sobre os centros internos de decisão, sem, contudo, colocar em questão os problemas estruturais responsáveis pelas mazelas do povo – a situação de dependência externa e as estruturas que perpetuam a segregação social (SAMPAIO JÚNIOR, 2017, p. 21).
Portanto, o rumo dependente e reprimarizador se perpetua, mas com alteração de ritmo, que pode ser compatível ou não com o momento de acumulação global e a condição do Brasil neste processo. Existem estudos que apontam a adaptação à tática eleitoral “a qualquer custo” da direção do Partido dos Trabalhadores, partindo de coligações e coalizações mais díspares, que, somada a uma vontade social de mudança grande em decorrência da avalanche neoliberal da década de noventa e enxergando no partido, na sua história e na simbologia do seu líder popular, permitiram a eleição de Lula à presidência em 2002. Daí em diante, aprofunda-se um modelo social-liberal que aposta em reformas do Estado capazes de intensificar processos de acumulação, garantindo crescimento econômico e aperfeiçoando a possibilidade de uma gestão do pauperismo em um dos países mais ricos e mais desiguais do mundo. No bojo deste processo ocorre – o que muitos autores vão corroborar da tese de Carlos Nelson Coutinho e Francisco de Oliveira – uma “hegemonia às avessas”, com a administração estatal também sendo pautada pela administração daqueles que originariamente não compunham as franjas da burguesia, o que fundamentalmente se dá pela gestão de fundos de complementação de aposentadoria, burocratizando e despolitizando setores tradicionalmente combativos da sociedade brasileira: No Brasil, décadas de luta contra a desigualdade e por uma sociedade alternativa à capitalista desaguaram na incontestável vitória lulista em 2002. Quase que imediatamente, o governo Lula racionalizou, unificou e ampliou o programa de distribuição de renda conhecido como Bolsa Família, transformando a luta social contra a miséria e a desigualdade em um problema de gestão das políticas públicas.
158 Chico diz que Lula instrumentalizou a pobreza ao transformá-la em uma questão administrativa (BRAGA, 2010, p. 8).
A desmobilização popular se dá em muitos sentidos, desde este acima, de transformar lutas sociais em questões administrativas; em garantir políticas de renda mínima voltadas ao consumo e não a uma nova conscientização popular baseada em igualdade e justiça; em cooptar importantes lideranças de movimentos sociais, seja as incluindo na máquina burocrática ou concedendo-lhes certas pautas reivindicadas; e, talvez o mais grave, a criação de uma nova condição social de privilégio a parte da burocracia sindical, que inclusive passa a participar da gestão do capital financeiro, por meio dos fundos de pensão: Estas cúpulas da aristrocracia operária, formadas majoritariamente por dirigentes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), cumprem hoje o papel de gestores do capital portador de juros nos fundos de pensão, apoiando perdas de direitos trabalhistas e previdenciários e estimulando a superexploração da força de trabalho, medidas necessárias para garantir o retorno dos seus investimentos (CASTELO, 2013, p. 133).
Nesta sopa de possíveis conceitos para caracterizar a forma de gestão petista do Estado, adere-se à concepção de que o neoliberalismo foi regido no Brasil, especialmente nas gestões capitaneadas pelo Partido dos Trabalhadores, por uma ideologia social-liberal, que ganha forma a partir das seguintes diretrizes: No Brasil, a ideologia social-liberal gira em torno de três proposições políticas e analíticas: 1) o crescimento econômico, por si próprio, não traria a redução das desigualdades, havendo a necessidade de políticas públicas específicas e direcionadas para este problema; 2) os gastos sociais não seriam baixos, ao contrário: eles deveriam tornar-se mais eficientes com a melhora da alocação de recursos com sua focalização nos estratos sociais miseráveis; 3) propostas de desenvolvimento baseadas no investimento em capital humano, reformas tributárias, previdenciárias e trabalhistas e ampliação do microcrédito (CASTELO, 2013b, p. 356).
Desse modo, promove-se uma gestão do Estado que parte da ideia de crescimento econômico alinhado com a garantia de medidas sociais, a partir da inclusão no mercado e incentivo à educação da parcela da população dela historicamente alijada, deslocando-se, assim, de qualquer proximidade com a consolidada reflexão acerca da formação social e econômica brasileira, que funda a possibilidade de libertação popular desde dimensões estruturais de exploração e opressões. Vale destacar que esta proposta foi exitosa na primeira gestão do Governo Lula devido à conjuntura externa favorável, especialmente o crescimento chinês e as suas demandas daí derivadas:
159 À época do primeiro mandato de Lula, no entanto, uma mudança da conjuntura econômica mundial – especialmente no que diz respeito aos termos de troca internacionais – permitiu a retomada parcial do crescimento. Foi, sobretudo, a subida do preço das matérias-primas, em parte devido à demanda chinesa, que viabilizou o chamado “espetáculo do crescimento” e o “pacto social” da era Lula. A industrialização chinesa absorveu grande parte das commodities agrícolas e do cimento e minério de ferro brasileiros (BOTELHO, 2016).
Consideramos importante explicitar alguns conceitos e possíveis diferenciações neste momento. Conforme Rodrigo Castelo desenvolve, a noção do social liberalismo surge dos centros imperialistas diante da impossibilidade de empurrar algumas contradições geradas pelo neoliberalismo, devendo este incorporar também uma agenda social. Em linhas gerais, o social-liberalismo reconhece que o mercado, apesar de suas falhas pontuais e episódicas, ainda é a melhor forma já inventada na história de organização social para a produção da riqueza. Suas falhas, principalmente no tocante à má distribuição e à destruição ambiental, tendem a se agravar em momentos de crise, o que requer uma regulação estatal seletiva. O Estado socialliberal é, portanto, convocado a ter uma atuação ativa nas expressões mais explosivas da ‘questão social’, tais como a pobreza, a degradação ambiental, doenças contagiosas, violência etc., programa mínimo que ficou consagrado internacionalmente nas Metas do Milênio. (...) Este ajuste complementar pode ser chamado de social-liberalismo, que muda certos aspectos do neoliberalismo para preservar a sua essência, a saber, a retomada dos lucros dos grandes monopólios capitalistas via o novo imperialismo, a financeirização da economia, a reestruturação produtiva e precarização do mundo do trabalho, o aumento das taxas de exploração de força de trabalho, a reconfiguração das intervenções do Estado ampliado na economia e na “questão social”, o apassivamento e cooptação da classe trabalhadora e, em determinados casos, a decapitação das suas lideranças mais combativas (CASTELO, 2013b, p. 122).
As pessoas estudiosas do tema demonstram como mesmo durante a campanha eleitoral de 2002 – confirmada com a “Carta ao povo brasileiro” – já estava anunciado que Lula iria respeitar os ditames neoliberais, com sua faceta social-liberal, porém sem colocar em risco os setores hegemônicos do capital, inclusive fazendo-lhes promessas de bons ventos. O anúncio seria de ausência de ruptura e de uma transição pactuada, a qual Castelo explica abaixo: Vale dizer, o pacto foi selado com as novas e antigas classes dominantes (capital financeiro e suas novas frações rentistas e o agrobusiness) que participam do bloco de poder em posições de destaque, como a presidência do Banco Central, ministérios e autarquias, para garantir a governabilidade do país conforme a lógica dos dirigentes do PT (CASTELO, 2012, p. 627).
Para Leda Paulani, o governo petista perpetua aí um discurso de “estado de emergência permanente”, que serviria como justificativa para sua continuidade da ortodoxia econômica neoliberal: (...) quando Lula assume e abraça com determinação inimaginável o receituário ortodoxo de política econômica, o discurso oficial justificou tudo isso com a tese de que estávamos à beira do abismo, a economia derretia como manteiga e desfazia-se
160 como gelatina, ou seja, estávamos num típico estado de emergência que implicaria a admissão, mesmo por um governo “de esquerda”, mesmo por um governo do PT, de medidas o mais duras possível (e, até um mês antes, injustificáveis), a saber: - elevação do superávit primário, para além do exigido pelo FMI (de 3,75% para 4,25% do PIB); - enorme aumento da então já elevadíssima taxa básica de juros (de 22% para 26,5% ao ano); - brutal corte de liquidez (pelo aumento do compulsório dos bancos), que, da noite para o dia, tirou de circulação 10% dos meios de pagamento) (PAULANI, 2010, p. 123).
E daí em diante muitas outras medidas seguiram este caminho, sendo algumas delas: i. pagamento do serviço da dívida ultrapassando 8% do PIB, ao mesmo tempo em que se repetia que não havia recursos para outros investimentos públicos; ii. transformação do sistema previdenciário brasileiro, abrindo espaço para as previdências privadas; iii. aprovação da lei de falências, atendendo, especialmente, aos interesses dos credores; iv. defesa da independência do banco central; v. ausência de uma reforma tributária que altere a desproporcionalidade da incidência de tributos entre ricos e pobres, inalterando a Lei de Responsabilidade Fiscal; vi. privatizações de rodovias, portos, hidrelétricas, bem como as sofisticadas privatizações indiretas da saúde, educação, cultura e outras áreas sociais via administração terceirizada por organizações sociais e fundações; v. defesa e sustentação do agronegócio, com a aprovação da Lei de Biossegurança, autorizando a comercialização dos transgênicos; entre outros pontos. Aquele cenário descrito em item prévio sobre o boom do passivo externo brasileiro e o seu significado para maior concentração de renda apenas se intensifica com o Partido dos Trabalhadores representando o poder executivo federal. Segundo Plinio de Arruda Sampaio Júnior (2017, p. 79), “estudo recente registra que, entre 2003 e 2006, o montante do lucro líquido de 176 empresas privadas e 22 bancos de capital aberto teve um aumento real de 250% e 81%, respectivamente. Tal fato contrasta com a contração de 13% no rendimento médio da população entre 1995 e 2005 e de mais de 33% no rendimento dos trabalhadores que fazem parte dos 10% mais pobres”. Quanto ao item iv, sobre a independência do Banco Central, ela se torna não apenas de fato, mas juridicamente colocada já nos primeiros momentos do primeiro governo. Cabe ao Banco central tomar decisões financeiras que possuem nelas inseridas, necessariamente, concepções de planejamento e, portanto, com impactos políticos diretos, como a definição da taxa de juros, o controle dos movimentos de capitais, a supervisão dos mercados de câmbio e derivativos, o financiamento de bancos, e por aí vai. Como ensina Plínio de Arruda Sampaio Júnior (2017, p. 41), “o Banco Central é a instituição que estabelece as condições de acesso dos capitalistas e do Estado à moeda nacional e às divisas internacionais. Ela funciona, assim,
161 como quartel general do capitalismo”. Isto tudo significa dizer que pelo Banco Central passam definições determinantes para se medir o grau de autonomia e soberania nacional frente aos interesses do capital financeiro e internacional. Para se ter ideia da ausência de neutralidade desta decisão, a presidência do Banco, desde então, ficou a cargo de Henrique Meirelles, anteriormente vinculado ao BankBoston e que havia sido eleito deputado federal pelo PSDB. Plinio de Arruda Sampaio Júnior. (2017, p. 69) complementa este diagnóstico dizendo que, ademais, “os cargos estratégicos do Ministério da Fazenda responsáveis pela formulação da política macroeconômica, a Secretaria do Tesouro e a Secretaria da Receita, foram entregues a técnicos da confiança do FMI, totalmente desconhecidos do PT e do ministro Palocci”. A crise social gerada após oito anos de medidas neoliberais estritas com Fernando Henrique Cardoso era pulsante. O custo da adesão ao pacote neoliberal foi uma intensificação da desigualdade social no país. A nossa adesão tinha um lugar específico e significava uma abertura econômica sem controle e direção internos. Esta política falida é necessariamente combinada com a falência do Estado brasileiro em implementar políticas públicas e muito menos realizar reformas estruturais. A adesão acrítica da primeira gestão Lula a esta política econômica falida era uma negação de suas promessas ao eleitorado e uma confirmação das expectativas de muitas das forças políticas e financeiras com quem deu (e sujou) as mãos para poder alcançar este lugar de poder. E então podemos nos perguntar qual é a função e o impacto das políticas públicas de combate ao pauperismo, ampliadas significativamente a partir deste primeiro mandato. A crítica acima não seria um cerrar de olhos para a relevância destas políticas, mas apenas uma percepção de que impactam os efeitos dos problemas sociais gerados por essa escolha histórica (e não rompida) de desenvolvimento do país, não tocando em suas causas. A crise social teve um brando armistício neste período, seja pelo impacto inicial de programas de combate à miséria, tendo o Bolsa Família como carro-chefe, seja pela possibilidade de perpetuar a ortodoxia econômica com a garantia de taxas de crescimento econômico, que eram traduzidas ao povo como desenvolvimento. A política econômica é tão a mesma que os juros brasileiros alcançaram fama como os maiores do mundo, sendo um paraíso para a especulação financeira. O que se concretiza é uma política pautada no “melhorismo”, pois atende a redução dos efeitos provocados pela própria perpetuação de um modelo e desde uma combinação individual e pelo consumo, distanciando-se das reivindicações coletivas de direitos e, principalmente, das mudanças nos processos de produção e trabalho. E não é apenas o
162 instrumento partidário que se burocratiza, mas também o sindical, perdendo sua radicalidade e se rendendo ao papel negocial limitado. Aos mais pauperizados, tais políticas compensatórias. Aos movimentos sociais historicamente aliados, o atendimento de demandas pontuais, porém fundamentais à sua própria existência. À significativa parcela de líderes partidários, sindicais e populares, cargos e privilégios nas estruturas do Estado. Aos representantes dos interesses do capital, a perpetuação intocada da reestruturação produtiva dos anos 1990 e da política econômica. Esta conjuntura econômica favorável e a implementação deste pacote econômico apoiado na ideologia social-liberal explicam como a crise política de 2005, com a investigação e processamento dos casos de corrupção do Mensalão, não chegaram a atingir profundamente a popularidade de Lula. Faz-se interessante observar que, neste momento, a estabilidade do governo foi também respaldada pelos grupos financeiros que articularam a queda de Dilma seis anos depois, destacando-se a Fiesp. Além disso, estudos como o de André Singer (2009) apontam que entre o primeiro e o segundo mandato de Lula houve uma mudança considerável de perfil de eleitorado, diminuindo-se os setores intelectualizados e engajados (que com a crise política discordam e se distanciam desse projeto de poder) e ampliando a base de apoio mais pauperizada, diretamente beneficiada pelos programas de redistribuição de renda. O primeiro mandato de Lula significou um balanço determinante para a esquerda brasileira. O cumprimento da Carta ao Povo brasileiro significou o distanciamento da base popular como consequência das leituras táticas de priorização máxima das disputas institucionais, inclusive e principalmente, do Executivo, materializada pela sua direção a qualquer custo. A vitória, nestes termos, em meio a uma crise social gerada no período imediatamente anterior, significou a própria impossibilidade, mais uma vez em nossa história, de romper com os destinos do capitalismo dependente brasileiro e sua fase de reversão neocolonial que se instala ao fim da ditadura empresarial-militar e a imposição de um novo lugar ao país na divisão internacional do trabalho. As derrotas das últimas cinco décadas são evidências suficientes que comprovam que Florestan Fernandes estava correto quando afirmava que, depois do golpe militar de 1964, o Estado burguês passou a funcionar como uma contrarrevolução permanente, reproduzindo os obstáculos estruturais que impediam a possibilidade de conciliar acumulação, democracia e soberania nacional. A novidade do governo Lula da Silva é a constatação de que, na era neoliberal, o espaço de mudanças dentro da ordem, que já era mínimo, tornou-se praticamente inexistente (SAMPAIO JUNIOR, 2017, p. 61).
163 O Programa de Aceleração do Crescimento (mais conhecido como PAC) aumentou a rentabilidade dos investimentos na esfera produtiva e reduziu um pouco os juros. Existiu como reflexo da desestruturação da economia nacional e do apertar de cintos dos gastos estatais, buscando enfrentar dificuldades nas áreas de energia e transporte e para estimular que a iniciativa privada investisse em produção também, e não apenas na especulação financeira (entendida como menos arriscada). De acordo com Plinio de Arruda Sampaio Júnior (2017, p. 88), tal pacote de medidas não significou uma alteração da política econômica como um todo, mas sim apenas uma complementação da “administração macroeconômica convencional com um arremedo de política industrial, uma verdadeira caricatura de planejamento estatal, posto que destituída de instrumentos efetivos para transformar seus objetivos em realidade”. O ponto é que a iniciativa privada, pelas suas próprias características, especialmente a brasileira e seu caráter egoístico e imediatista – como pudemos desenvolver anteriormente não suprirá a desestruturação estatal. Entretanto, a crise de 2008 que conseguiu ser relativamente administrável nos primeiros anos, por essa condição exportadora e dependente do Brasil, foi sentida com mais força nos anos subsequentes, com taxas menores de crescimento e aumento do desemprego até então estabilizado (ainda que precarizado). A oportunidade de crescer no bojo da crise só foi possível graças à abundância de liquidez no mercado financeiro internacional, ao grande afluxo de investimentos diretos e ao boom nos preços das commodities – fenômenos determinados pelo movimento especulativo de fuga para a frente das grandes massas de capitais excedentes que abandonavam os países centrais em busca de negócios em outras praças. Impulsionado pelo expressivo aumento das exportações, sobretudo de produtos primários e minerais, o Brasil surfou na onda especulativa (SAMPAIO JÚNIOR, 2017, p. 124).
Quanto a esta etapa, as pessoas estudiosas do tema argumentam que neste momento o governo brasileiro - atento aos efeitos que, inevitavelmente e com força, alcançarão em breve o Brasil – aponta para uma política anti-cíclica que alguns chamariam de pós-neoliberal e outros afirmariam que houve, neste momento, um certo fortalecimento do discurso do novo desenvolvimentismo entre os articuladores intelectuais e operadores políticos do governo. Destaca-se, no campo dos estudos críticos de economia brasileira, que o “neo”desenvolvimentismo muito destoa do desenvolvimentismo propriamente dito, ao menos desde os seus clássicos teóricos, que, por muitos anos, especialmente nas décadas de sessenta e setenta, muito contribuíram, junto aos marxistas, para um pensamento econômico e social brasileiro genuíno, criativo e rejeitador de qualquer prolongação de um estado de dependência
164 imperialista do país. Eram autores de diferentes áreas, mas que compartilhavam uma preocupação de pensar um projeto autêntico de país. Suas saídas para a ruptura com a dependência passavam pela implementação de reformas estruturais – promessas da burguesia –, como a reforma agrária, bem como pelo desenvolvimento econômico nacionalista e, portanto, protecionista e anti-imperialista. Ou seja, as reformas da revolução democrático-burguesa tocariam em elementos estruturais do subdesenvolvimento, tendo como base social organizações da classe trabalhadora coligadas com setores progressistas da intelectualidade e com uma burguesia nacional, sob a bênção de um pacto social orquestrado e sancionado pelo Estado. Esta aposta desenvolvimentista para a ruptura com o atraso foi abortada pelo golpe de 1964 (CASTELO, 2012, p. 622).
O conceito de neodesenvolvimentismo surgiu de um texto de nada mais nada menos que Bresser Pereira, importante ideólogo do PSDB. Depois, autores sofisticaram tal entendimento com menos ênfase na política macroeconômica e a necessidade de relacioná-la a programas sociais e reformas. Na versão mais social-desenvolvimentista, a ideia era a “afirmação do mercado interno via ampliação do consumo de massa. O Estado tem um peso maior nas propostas dessa corrente no que nas duas precedentes, e as políticas macroeconômicas devem ser subordinadas às de desenvolvimento” (CASTELO, 2012, p. 626). Para o autor, nesta segunda etapa da gestão de Lula, de fato, a política neodesenvolvimentista ganha destaque no que tange à política externa e a gestão do BNDES, sendo “um dos poucos postos-chave dirigidos por defensores do novo-desenvolvimentismo” (CASTELO, 2013a, p. 129). O BNDES, a partir dos anos 2000, recebeu uma injeção cavalar de recursos advindos do Tesouro Nacional e do FAT (o Fundo de Amparo ao Trabalhador), em uma proporção incomparável, chegando a “mais do que o dobro dos recursos disponíveis do banco Mundial” (CASTELO, 2013a, p. 129). O banco passou a ter um papel estratégico no financiamento direto ou indireto para a concentração e centralização dos capitais nacionais, patrocinando os grandes oligopólios nacionais, especialmente os vinculados ao ramo das commodities. Além dos vultosos empréstimos concedidos ao setor privado, o banco adquiriu ações de empresas privadas, capitalizando-as no mercado de títulos e tornando-se sócio na maior relação público-privada de que já se teve notícia: o banco possuía relações financeiras (empréstimos ou ativos) com mais de 700 das 1000 maiores empresas do Brasil. Também os fundos de pensão de grandes estatais (Petrobrás e os bancos públicos) se tornaram fiadores de investimentos em infraestrutura, amparando antigas empresas privatizadas na década de 1990. Mas a intervenção governamental era tudo menos um retorno ao antigo estatismo do século XX. Esse paradoxal “keynesianismo neoliberal”, que replicava na política econômica o caráter “pósideológico” ou pragmático do lulismo, fez com que uma parte substancial da
165 infraestrutura construída por empreiteiras privadas com financiamento estatal fosse, em seguida, privatizada (BOTELHO, 2016).
Nestas diferenciações entre desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo, o ajuste “por cima” é característico do último, alheio a qualquer mobilização popular ou alterações das instituições fundantes da sociedade brasileira, ao contrário do primeiro. A grande política é, portanto, esvaziada do seu poder transformador, dando lugar a uma política de gestão técnica dos recursos orçamentários, como se a distribuição da riqueza nacional e a apropriação da mais-valia não se tratasse de uma questão de organização e força das classes sociais, tal qual defendiam a economia política clássica e a crítica da economia política (CASTELO, 2012, p. 630).
Talvez a pergunta que fique é se este modelo é de fato um modelo outro que não o neoliberal. Se sim, seria possível essa transição sem que houvesse rupturas? Para tal resposta, talvez importe investigar qual era o papel dos rentistas nestas gestões do Partido dos Trabalhadores e se perderam ou tiveram diminuída sua hegemonia no grupo de monopólio do poder no país. Rodrigo Castelo vai trazendo elementos, da política tributária regressiva, do compromisso com o pagamento dos juros da dívida, com a política monetária do Banco Central para alcançar as metas da inflação e agradar o grande capital, pela política aprofundada de reprimarização, com as privatizações, disfarçadas ou não. Estes e todos os outros elementos já elencados como características do início da jornada petista no executivo federal fazem com que se conclua que o social-liberalismo permaneceu hegemônico em toda a condução da política econômica, “ou seja, o social-liberalismo ainda domina setores-chave do Estado, angariando ganhos multibilionários de renda e riqueza para as frações rentistas da burguesia e demais aliados do bloco de poder dominante” (CASTELO, 2013a, p. 128-129). E complementa em seguida: “O cerne da questão reside na manutenção de uma política econômica que estimula o aprofundamento da economia política da financeirização e do novo imperialismo, processo gestado desde os anos 1990” (CASTELO, 2013a, p. 129). Há um discurso consolidado de que o Brasil teria vivido, nestes 13 anos de análise, um crescimento combinado com desenvolvimento social. Isso seria provado pelo aumento do salário mínimo e a diminuição da pobreza. Abaixo, Plinio de Arruda Sampaio Júnior (2017, p. 141) descreve os elementos que verdadeiramente se alteram nessa conjuntura: Para além de consequência direta da retomada do crescimento, a melhoria nos indicadores sociais é associada: à política de recuperação do valor real do salário mínimo em 60% entre 2003 e 2010 – tendência que já se havia iniciado no governo conservador de Fernando Henrique Cardoso; à ampliação da cobertura da
166 previdência social para os trabalhadores rurais – conquista da Constituição de 1988; e à política social do governo federal, notadamente a Bolsa Família – programa de transferência de renda para a população carente que atendia cerca de 13 milhões de famílias.
Entretanto, é preciso que se compreenda o impacto estrutural (ou não) destas melhorias dos indicadores sociais. Os pilares sustentadores da economia brasileira permaneceram os mesmos: dependência externa, desigualdade social e racial profundas e reprimarização da economia – extrativismo mineral, pré-sal. Profunda dependência de recursos estrangeiros de alta liquidez que podem abandonar o país ante o cheiro de qualquer instabilidade. A economia brasileira cresceu, entre 2003 e 2011, 3,6% ao ano, porém este crescimento se deve, essencialmente, pelo aumento da exportação de bens primários, aprofundando modelo histórico que pode ser capaz de gerar crescimento, mas inegavelmente sem desenvolvimento social concomitante. Isso sem falar na vulnerabilidade externa, tornando o pilar da economia dependente dos fluxos e demandas internacionais. Ademais, o inegável aumento do acesso ao consumo das famílias mais pobres geraria ônus em curtíssimo tempo, pois havia uma desproporcionalidade entre o aumento do salário e das taxas de juros, dificultando o cumprimento das dívidas. Esta base frágil de sustentação deste desenvolvimento faz com que “de uma hora para outra, os empregos gerados desapareçam, o número de pobres volte a crescer e o país volte a amargar draconianos programas de ajuste estrutural impostos pelos organismos financeiros internacionais” (SAMPAIO JÚNIOR, 2017, p. 144). Mesmo com o aumento do salário mínimo, ainda se perpetua no país diferenças muito significativas entre os ganhos de produtividade do trabalho e a melhoria dos salários, “com a distância de quase quatro vezes entre o salário mínimo efetivamente pago aos trabalhadores e o salário mínimo estipulado pela Constituição brasileira e calculada pelo Diese” (SAMPAIO JÚNIOR, 2017, p. 145). Esse aumento do salário mínimo não andou desacompanhado da flexibilização das relações de trabalho, do aumento da informalidade e de uma quantia substancial de desempregados. Por isso, ainda que seja notável este aumento do salário mínimo e a massificação de políticas contra o pauperismo, o impacto das políticas melhoristas dos governos do PT não se deu na diminuição da concentração de renda, mas sim em uma atenuação das rendas da força de trabalho mais e menos qualificadas. Assim como desenvolvido no primeiro capítulo, cabe aqui destacar que na etapa de mundialização do capital ocorre uma forte tendência de fusão do capital financeiro com as
167 grandes transnacionais. Assim, a perpetuação da hegemonia rentista no Brasil não significaria o não fortalecimento da dita “burguesia interna”. Parece-nos que foram processos concomitantes. O que nos parece possível de concluir é que, com as ameaças de 2008, o neodesenvolvimentismo cumpriu um papel importante na condução de alguns setores da economia, o que se conjugou com a política desde sempre implementada e altamente favorável ao capital financeiro. No período seguinte, de diminuição do ritmo da economia chinesa e queda abrupta no mercado das commodities, a situação econômica brasileira se dificulta e os índices de desemprego aumentam. Sobre este aspecto, Botelho (2016) faz interessante análise sobre desemprego e desocupação nos anos anteriores e nestes de maior crise: Diante desse quadro, também é possível ver com mais clareza que a redução nas taxas de desocupação foi conseguida durante os últimos anos não só através dos empregos criados pelos investimentos estatais e por medidas pontuais de estímulo à indústria, mas igualmente por uma relativa redução da procura por trabalho: o governo subsidiou uma grande quantidade de bolsas de estudo e de qualificação que adiou a entrada de muitos beneficiários no mercado de trabalho. Com o corte nos gastos sociais e o fim dos programas de estímulo ao crescimento, o número de desempregados cresceu 40% em apenas um ano e chegou a um número total de 11 milhões em maio de 2016.
Dilma Rousseff iniciou seu primeiro mandato em uma conjuntura já bem mais desfavorável, pois comprovadamente a crise não poderia desviar o país. Como tratamos anteriormente, em um primeiro momento, o Brasil estava em uma posição favorável, recebendo os ativos financeiros que buscavam escapar de outros rincões e surfando na potencialidade das commodities com a força chinesa. As saídas giraram em torno de suporte financeiro do estado aos grandes oligopólios e bancos e imposição de ajustes draconianos, nos países mais fragilizados política e economicamente, como pudemos verificar na Grécia, Portugal e outros. Porém, são saídas artificiais e de curto prazo, pois o estado se endivida com o mercado e não pode investir em políticas públicas; com condições de vida mais precarizadas devido às medidas austeras, as famílias ou reduzem seu potencial de consumo ou não conseguem sanar suas dívidas. De qualquer modo, uma nova crise de superprodução ocorre, com mais força. O Brasil neste turbilhão, como em toda sua história, encontra-se em uma condição um tanto vulnerável, pois tem sua calmaria ou seu desespero nas mãos das flutuações comerciais internacionais, por tender cada vez mais a depender da exportação de produtos primários. Ao mesmo tempo, no período de mais tranquilidade conjuntural, implementou políticas sociais
168 fortemente amparadas pela lógica da inclusão pelo consumo. Esta situação também gerou um boom dos endividamentos familiares mais populares. Quando esta nova etapa da crise mundial se apresenta, o país é mais diretamente afetado. Vale destacar, ademais, que as gestões petistas foram marcadas também pela implementação de grandes projetos e obras, alguns elefantes brancos, com gastos astronômicos, relevância duvidosa e impactos socioambientais incalculáveis, como o seguimento das obras de transposição do rio São Francisco, a Usina de Belo Monte e todas as obras que envolveram a “preparação” do país para ser sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas, permeadas de desvios financeiros e muito arbítrio em suas execuções, com remoções forçadas de bairros populares inteiros – o que, para além do impagável custo emocional e subjetivo, ainda não houve justo reparo financeiro , sem consultas públicas e mecanismos de real participação nas decisões que impactariam sobremaneira as vidas nas cidades-sede. Tudo isso em nome de um compromisso integral com as grandes empreiteiras e com a especulação imobiliária. As dificuldades econômicas, entretanto, projetam-se problematicamente ao se conjugarem com a insatisfação popular com os limites da democracia representativa coronelista brasileira, expressa com a jornada de lutas de Junho de 2013, momento simbólico de reascenso das lutas no Brasil, com o protagonismo de novas franjas do movimento popular, como o movimento de luta por moradia, especialmente o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), da juventude mais precarizada e marginalizada, do movimento secundarista no amplo e radicalizado movimento de ocupação de escolas em diversos estados brasileiros, bem como de um fundamental protagonismo dos grupos oprimidos, especialmente as mulheres, em 2015, nos massivos atos de “Fora Cunha” que rompiam com a dicotomia “governismo versus direita”, pautando os problemas estruturais da política brasileira. O já não tão eficiente controle dos grupos populares, somado a um pacto de conciliação de classes que dificultava um ritmo ainda mais acelerado de ajuste fiscal e retirada de direitos foram o recheio da massa de casos de corrupção, investigados especialmente pela Operação Lava-Jato, alardeados pela mídia e que garantiram uma movimentação da direita mais reacionária brasileira, inclusive com manifestações de rua e apoio amplo das classes médias brasileiras. Dessa maneira, nestes 13 anos, podemos concluir que se implementou no país um processo conservador de desenvolvimento que conjugava políticas assistenciais de distribuição de renda com a maior centralização de capitais da história brasileira, pois, com o
169 fortalecimento e favorecimento da burguesia, o Estado auxilia e subsidia – tendo o BNDES como principal fonte – os processos de fusões e concentrações de grupos econômicos. Os ganhos sociais são mínimos perto da “Bolsa Empesarial” concedida ao longo desses anos, sendo inegável que isso resulta em um fortalecimento não apenas econômico, mas também, e principalmente, político da burguesia brasileira. Mas essa interpretação das políticas de renda compensatória, tal como a do Bolsa Família, ignora que, ao invés de integrar os excluídos, elas consagraram a fratura social: distribuem uns poucos recursos àqueles que jamais conseguirão se integrar, para que se possa dar andamento tranquilo à usual política concentradora e excludente (não por acaso, o criador desse tipo de instrumento é um indivíduo de cujo credo liberal ninguém duvida, o economista monetarista norte-americano Milton Friedman). No caso do Brasil de Lula, essa verdade é facilmente constatada pela simples comparação entre o que vem gastando o Estado com o Bolsa Família e o que vem gastando com o pagamento de juros aos detentores de títulos da dívida pública, ou seja, pelo menos dez vezes mais com o último (PAULANI, 2010, p. 128).
A decorrência dessa aparente conciliação de interesses tão contrapostos foi a sua insustentabilidade, com uma etapa política e econômica subsequente de ainda maior austeridade e mais retirada de direitos e violência.
2.17 Introdução ao ato 5 – considerações metodológicas e iniciais sobre a caracterização do sistema penal brasileiro no período histórico analisado
Ao realizar o projeto desta tese e dialogar com interlocutores acadêmicos, algumas interrogações de máxima pertinência nos foram feitas. Como poderia fazer uma análise do que aponto como aparente paradoxo de uma suposta gestão do Estado mais social e redistributivo e que, ao mesmo tempo, mais encarcerou em nossa história (13 anos do Partido dos Trabalhadores na Presidência da República) – verificando ser uma disruptiva da máxima Estado Penal máximo-Estado Social mínimo –, se falar em política criminal significa tratar de esferas do executivo, do legislativo, do judiciário, da mídia e de outros mecanismos de controle social informal, bem como tratar destes poderes em competência federal, estadual, municipal e local? Explico-me. Afirmar que houve um hiperencarceramento no Brasil neste período de 2003 a 2015 (e que continua até o momento em que tais linhas são digitadas) demandaria apenas uma honesta análise dos dados do INFOPEN para confirmar sua veracidade. A questão é buscar explicar o
170 fenômeno da atual onda punitiva brasileira tendo como fio condutor uma análise históricoestrutural. Para tanto, é pertinente visualizarmos o que seria, como seria, quais as características fundamentais dessa onda punitiva, tendo como ponto de partida a consolidação de dados do INFOPEN – de 2016, mas referente aos dados do encarceramento de 2014 –, informativo do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), vinculado ao Ministério da Justiça, bem como a sua atualização com dados de junho de 2016, disponibilizada no último relatório do INFOPEN, publicizado em dezembro de 2017. Em ambos os períodos houve a publicação, em paralelo, do relatório consolidado específico sobre as mulheres em situação de prisão. Antes que qualquer número astronômico salte em nossas páginas, faz-se importante alertar para os cuidados que ainda temos que ter com os dados existentes. Não por acaso, a negligência com a coleta e sistematização dos dados da realidade carcerária brasileira sempre existiu. Até pouquíssimo tempo atrás as unidades prisionais ainda possuíam armários de arquivos com fichas amareladas, sem acesso a uma mínima tecnologia com possibilidade de alimentar um banco de dados inteligente e interconectado. No último período, com a criação do Sistema Nacional de informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas (SINESP), além da parceria do DEPEN com o IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do aperfeiçoamento dos questionários enviados aos estados e de algumas pesquisas importantes realizadas pelo CNJ, podemos dizer que as informações começam a ser mais completas, complexas e confiáveis, ainda que muito haja para se aperfeiçoar, como em seguida verificaremos. Os dados consolidados pelo INFOPEN foram obtidos por meio de formulários estruturados e disponibilizados aos estados por meio de uma plataforma digital. No último relatório foram 1460 unidades prisionais que, de algum modo, alimentaram esta base de dados. Apenas 31 unidades não colaboraram de nenhuma forma para o último levantamento. Nesta última etapa do relatório, alimentou-se a plataforma também com dados fornecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP referentes às pessoas que cumprem pena nas carceragens das delegacias. Este era um vácuo grave até este momento, pois o número não é pequeno (36.765 pessoas) e as condições de aprisionamento nestes espaços devem ser também monitoradas, visto que tendem a ter uma estrutura ainda mais deficitária. Ainda sobre as limitações dos dados, é impressionante a informação de que a consolidação dos dados pelo DEPEN no relatório divulgado em 2016, o penúltimo, ocorreu sem que o estado de São Paulo devolvesse seus questionários. Este, o maior responsável pelas
171 taxas robustas e alarmantes de encarceramento – concentrando 33,1% da população prisional do país, totalizando, em 2016, 240.061 pessoas –, simplesmente se negou a respeitar a Lei de Acesso às Informações e, mais do que isso, a contribuir na construção de uma política criminal que seja, ao menos, pautada no real. No relatório divulgado em 2017 a situação foi resolvida, o que não enseja acentuação de distorções no objeto de análise, haja vista que no período em que definimos o recorte os critérios seguiram sendo os mesmos. Este problema com os dados gera um nítido entrave para que se possa pensar e garantir uma política pública séria e de qualidade na seara da política criminal no país. Se não tivermos um mapeamento minucioso da realidade estrutural e humana do sistema prisional brasileiro, em que será pautada a construção de respostas estatais aos supostos dilemas criminais? A partir de qual percepção? Obviamente que será aquela clamada pela população na conhecida opinião publicada, ou seja, moldada pela grande mídia que espetaculariza a violência a cada novo episódio em potencial e trabalha lado-a-lado, dia-a-dia com os políticos e sua fábrica de votos pelo medo, assim como – como não poderia deixar de ser –, com o mercado da segurança, que lucra por trás do custoso e danoso preço da política eficientista penal. Entrando diretamente nos dados, a população carcerária brasileira, em junho de 2016, totalizava 726.712 pessoas, passando do quarto para o terceiro lugar em termos de população prisional do mundo – em números absolutos – , ultrapassando a Rússia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e China. Sobre a quantidade total de presos, é importante dizer que este número não inclui os dados obtidos em 2014, em uma consulta (processo n° 2014.02.00.000639-2) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2014), referente às pessoas que se encontram em prisão domiciliar. Em junho de 2014, elas totalizavam 147.937 pessoas. Estes dados também não incluem os das centrais de monitoração eletrônica, sob o argumento oficial de que seriam analisadas em um levantamento próprio, sob o olhar específico das condições das penas e medidas alternativas à prisão no país. Além do número total ser altíssimo, destaca-se que o encarceramento vem crescendo progressivamente no país, fenômeno distinto do que parece ser uma tendência nos outros países que o seguem no lamentável ranking dos mais encarceradores. Nestes, “comparados os anos de 2008 e 2013, os Estados Unidos reduziram em 8% a taxa de aprisionamento, a China em 9% e a Rússia em 24%, segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN” (REDE JUSTIÇA CRIMINAL, 2013), enquanto no Brasil houve o “impressionante aumento de 33% de sua taxa de aprisionamento em cinco anos, chegando
172 hoje à média de quase 300 pessoas presas para cada cem mil habitantes” (REDE JUSTIÇA CRIMINAL, 2016). A evolução da população carcerária proporcional no Brasil e nos EUA segue uma dinâmica bastante semelhante até determinado ponto: crescem durante a década de 1990 e atingem um momento de aparente estabilidade até que em 2003, aproximadamente, o Brasil retoma a linha ininterrupta de crescimento do volume de encarceramentos – algo que ainda hoje não possui indicação de modificação. O resultado disso é o incremento da população prisional proporcional do Brasil em aproximadamente 321% num período de quinze anos, enquanto a dos Estados Unidos (mesmo com o maior número de presos no mundo) aumenta apenas 61% no mesmo lapso temporal (MOTTA, 2015, p. 197-198).
Segundo o INFOPEN (2017, p. 12) “entre 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento aumentou em 157% no Brasil. Em 2000 existiam 137 pessoas presas para cada grupo de 100 mil habitantes. Em junho de 2016, eram 352,6 pessoas presas para cada 100 mil habitantes”. Este crescimento é mais de dez vezes superior ao crescimento experimentado pela população brasileira como um todo. No mesmo sentido, o último relatório revela que houve “um aumento da ordem de 707% em relação ao total registrado no início da década de 90” (INFOPEN, 2017, p. 9). De cima para baixo, baixo para cima, ponta cabeça, o avesso, o avesso do avesso, temos acima uma série de informações, sob diferentes perspectivas, que evidenciam mais do que sustentarmos uma das maiores multidões mundiais privadas de liberdade, o que por si só seria o troféu da vergonha ao país, bem como o atestado de falência das próprias funções declaradas do sistema. Mais do que isso, o que os dados acima nos revelam é que o país se torna, definitivamente, na última década, a maior referência das consequências da política encarceradora, pois a velocidade do seu encarceramento não encontra paralelo mundial. Os países com mais de milhão de pessoas presas – China e Estados Unidos – estão na contramão rítmica do Brasil. Isto deve significar, no mínimo, a insustentabilidade desta política ad eternum. Como há tempos é sabido – e especialmente evidenciado no ano de 2017 com os massacres em presídios de Manaus, Boa Vista e Natal, que resultaram em mais de 125 mortes nas duas primeiras semanas do ano –, o problema da superlotação das unidades prisionais no país é calamitoso24. 24 No primeiro de janeiro um conflito entre facções resultou na morte de 56 pessoas em situação de prisão no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, a maioria decapitados e com seus corpos esquartejados. No dia seguinte, mais 4 mortos em Manaus, mas dessa vez na Unidade Prisional de Puraquequara. Em 4 de Janeiro, 2 pessoas foram mortas na Paraíba, no Presídio Romero Nóbrega, em Patos. Em 6 de Janeiro, 33 pessoas em situação de prisão foram mortas em uma rebelião na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima. Em 8 de Janeiro, mais 4 mortos em Manaus, dessa vez na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. 14 de Janeiro, mais um triste episódio, dessa vez localizado na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, foram 26 mortos em decorrência de uma rebelião e uma provável disputa
173 O sistema declara ter 368.049 vagas e um déficit de 358.663 vagas. E, ao contrário do grande veículo de ganho de votos por parte de políticos sensacionalistas, não se trata de um problema de insuficiente construção de presídios: Temos quase 2 presos por vaga. Diante deste dado alguém poderia argumentar que a situação prisional é precária porque houve negligência na construção de presídios e abertura de novas vagas. No entanto, a realidade dos dados se impõe. O relatório do Depen informa que de 2000 a 2014 o número de vagas triplicou, e mesmo assim o déficit do período mais do que dobrou! (REDE JUSTIÇA CRIMINAL, 2016).
A questão é perceber que “a população prisional cresceu, em média, 7,3% ao ano” entre os anos de 2000 e 2016. O último relatório organiza uma tabela de entradas e saídas de pessoas no sistema prisional durante o primeiro semestre de 2016 e nos serve de bom exemplificativo do problema de fundo que estamos lidando ao tratar de superlotação nas unidades prisionais brasileiras. O estudo demonstra que nos 73% dos estabelecimentos penais que disponibilizaram esta informação no banco de dados “foram registradas 266.133 entradas de pessoas ao longo do semestre e 193.789 saídas no mesmo período, assim, poderíamos dizer que a cada 100 pessoas que entraram no sistema prisional brasileiro no primeiro semestre de 2016, 73 saíram” (INFOPEN, 2017, p. 28). Vale destacar que a observação dos dados oficiais demonstra a característica tendencial dos fenômenos em cada unidade da federação, mas também, em cada item, algumas de suas especificidades. Os tons mais e menos problemáticos se apresentam bem distribuídos em cada unidade e cada item, ou seja, para cada olhar, um e outro canto do país revelam que o problema específico lá pode ser ainda mais grave ou que, surpreendentemente naquele quesito o estado possui um bom índice. O que nos demonstra a importância de pesquisas quantitativas e qualitativas em cada localidade. Neste quesito em específico, por exemplo, podemos trazer o caso do Amazonas, detendo 48 pessoas em um espaço destinado a 10 delas. A questão não deve se guiar em necessidade de mais prédios e sim no enxugamento, no desencarceramento, passando pelo mais imediato, que se dá sanando ilegalidades e irregularidades, até o mais estruturante, com medidas de descriminalização de condutas. E sim, garantia de vida com um lastro de dignidade, enquanto houver prisão. Quanto ao aspecto de estrutura e recursos humanos, nesta oportunidade não nos atentaremos a todas as suas dimensões, como assistência jurídica e psicossocial, de saúde, entre o PCC e o Sindicato do Crime, todos foram decapitados. No mesmo dia, houve 2 mortes em presídios de Santa Catarina e outras 2 em uma penitenciária na região metropolitana de Curitiba. 4 dias depois, mais um morto no mesmo estado, mas na Penitenciária Estadual do Seridó. No início de Abril mais 8 mortes foram contabilizadas na Unidade Prisional de Puraquequara, em Manaus.
174 oportunidades e espaços de esporte e lazer, estrutura física em geral. Destacaremos apenas três pontos: funcionários/agentes penitenciários, educação e trabalho. São 105.215 profissionais em atividade, incluindo os responsáveis pela custódia (74%), os administrativos (8%) e os da área da saúde (6%), da educação (3%) e advogados e assistentes sociais (1% cada). Especificamente quanto aos agentes penitenciários, o relatório informa que: No geral, temos 8,2 presos para cada agente no sistema prisional brasileiro, o que viola a Resolução n.9, de 2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que indica a proporção de 1 agente para cada 5 pessoas presas como padrão razoável para a garantia da segurança física e patrimonial nas unidades prisionais, a partir de parâmetro oferecido pela Estatística Penal Anual do Conselho da Europa, data-base 2006. No estado de Pernambuco, observamos a maior proporção do país, com 35 presos para cada agente de custódia. Já nos estados do Amapá, Minas Gerais, Rondônia e Tocantins, o limite estabelecido pelo CNPCP é observado e existem até 5 presos, no máximo, para cada servidor em atividade de custódia (INFOPEN, 2017, p. 48).
Ainda sobre eles, o relatório informa que 75% são efetivos, 18% temporários e 5% terceirizados, com excepcionalidades, como Pará e Goiás, cada um com 88% e 60% de funcionários temporários, respectivamente. A execução penal brasileira é permeada pela moral do trabalho e pelo discurso ressocializador. Exige-se inserção no mercado de trabalho para concessão e manutenção de benefícios processuais. Da mesma forma, estar empregado formalmente antes da prisão é o principal atestado de ausência de periculosidade. Como pudemos reforçar em outros momentos, ainda que o direito penal pátrio seja predominantemente pautado pela responsabilização geral/universal de uma conduta previamente imputada como crime, de acordo com uma proporcionalidade pautada em uma suposta hierarquia de gravidade das lesões a bens jurídicos mais ou menos vitais à ordem social posta, momentos cruciais de sua materialização são permeados por apreciações subjetivas – por nós entendidas como arbitrárias – fortemente guiadas pela moral do trabalho. De outro lado, a Lei de Execução Penal concebe o trabalho do preso ou da presa como direito – nos termos da lei, “condição de dignidade humana” – e também como dever. Isso somado à obrigatoriedade do oferecimento do ensino fundamental e da orientação de implementação do ensino médio e outras formações – em observância ao preceito constitucional da universalização escolar –, compõem os principais pilares ressocializadores anunciados (inseridos como orientação da individualização da pena garantida pelo regime próprio de progressão de regime da pessoa apenada).
175 Do cárcere como complemento das piores condições de trabalho, para o adestramento da mão-de-obra. Do trabalho como divisor entre o bom e o mau proletário, entre o pobre disciplinado e o vadio no país da Ordem e do Progresso. Do trabalho como linguagem ressocializadora ao trabalho como retórica disciplinar. Ao observar a realidade prisional, constata-se quão corroídos se encontram tais pilares, sendo que “apenas 12% da população prisional no Brasil está envolvida em algum tipo de atividade educacional, entre aquelas de ensino escolar e atividades complementares” (INFOPEN, 2017, p. 53) e
15%
“em atividade laborais, internas e externas aos
estabelecimentos penais, o que representa um total de 95.919 pessoas”(INFOPEN, 2017, p. 56), sendo que, destes, “75% da população prisional em atividade laboral não recebe remuneração ou recebe menos que ¾ do salário mínimo mensal”(INFOPEN, 2017, p. 58), o mínimo estabelecido pela legislação, já por si só questionável em seu sentido. Deste raio-X do sistema prisional, o que se pode perceber é o aumento do ritmo de encarceramento sem precedentes e sem nível de comparação internacional, somado a uma estrutura que também não está inerte, ocorrendo uma verdadeira reprodução ampliada do modelo de institucionalização penal, porém sempre de maneira insuficiente e baseada na extrema precariedade de recursos humanos e espaços físicos adequados e dignos. Os múltiplos elementos para sua mais profunda compreensão serão traçados no capítulo que a seguir se inicia, porém, neste curto espaço de anúncio e de diagnóstico quantitativo da realidade prisional, destacamos dois elementos centrais: o impacto da política de drogas no funcionamento do sistema penal e o uso irregular e abusivo – o uso político – das prisões provisórias. Portanto, é fundamental que se especifique que 41% dos presos, atualmente, são provisórios e, destes, quase metade estão presos há mais de 90 dias (levando em conta também que apenas 45% das unidades enviaram especificamente esta última informação). Ainda, ressalta-se que 13 estados contém percentual ainda maior do que esta média nacional, como o emblemático caso do Ceará, com 66% de pessoas presas provisórias, destas, 100% com mais de 90 dias de aprisionamento. Quanto à superlotação e a prisão provisória, destaca-se que o déficit de vagas nos equipamentos destinados aos provisórios é bem maior, com “uma taxa de ocupação da ordem de 247%, enquanto para os condenados em regime fechado a taxa é de 161%. Para o semiaberto, temos taxa de ocupação de 170%” (INFOPEN, 2017, p. 23). E sobre o tempo de prisão provisória, cabe aqui brevemente declarar que a Nova Lei de Medidas Cautelares no Processo Penal (Lei 12.403/2011), apesar dos debates e tentativas
176 ao longo da tramitação, não estabelece um tempo máximo para a sua vigência, mas apenas parâmetros objetivos e princípios legitimadores ou não da sua continuidade, conforme descreveremos mais detidamente no capítulo seguinte. Uma medida necessariamente excepcional e breve pode perdurar por meses e mais meses, inclusive, em muitos casos, sendo maior do que o tempo de pena estabelecido ao final do processo, isso sem falar nos casos de absolvição. O tempo de 90 dias é baseado no tempo máximo estabelecido para a fase preliminar do Júri e por um cálculo médio dos prazos no procedimento comum ordinário. Este foi um critério delineado desde um entendimento doutrinário e jurisprudencial de que seria um tempo máximo razoável para a sua duração, o que está bem longe de ser respeitado na prática forense cotidiana. Afirmamos, sem medo de errar, que a compreensão do papel político desempenhado pelas prisões provisórias nos países latino-americanos é elemento fulcral do encarceramento massivo nesses países, com destaque nosso para o Brasil. Se nos Estados Unidos, por exemplo, é a própria realidade ímpar e negocial do processo que explica parte da “facilidade” jurídica de encarcerar, como poderemos perceber na descrição de Michele Alexander no início do capítulo seguinte, no Brasil é o uso não-cautelar de uma medida cautelar pessoal (que é a prisão provisória) que se transforma em pena antecipada, ilegalmente aplicada aos quatro cantos dos país. A Lei de Medidas Cautelares no Processo Penal (Lei 12.403/2011), ao ser aprovada, foi encarada como uma mudança legislativa que geraria um desencarceramento inevitável, por reforçar as características de provisoriedade e provisionalidade das medidas cautelares; por criar nove medidas cautelares alternativas à prisão, enquanto substitutivas, isolada ou cumulativamente, da prisão preventiva; por reforçar a característica de excepcionalidade de todas as medidas e da prisão preventiva, em especial; por reformular o regime jurídico da fiança. Por todos estes motivos havia uma esperança de que algum impacto no encarceramento provisório existiria, ainda que a forma final da lei fraquejou ao rejeitar o estabelecimento de um prazo máximo fixo de tempo da prisão ou ao menos um prazo de reavaliação do seu cabimento, bem como ao incluir a garantia da ordem econômica e da ordem pública como hipóteses de periculum libertatis. O que se denota é que, especialmente neste exemplo, a responsabilidade do judiciário pela perpetuação deste “estado de coisas inconstitucional” – conforme tese absorvida pelo Supremo Tribunal Federal durante julgamento da ADPF n. 347 referente ao grau profundo e
177 generalizado de violações aos direitos fundamentais das pessoas em situação de prisão25–, é flagrante. No mesmo sentido, dados dos relatórios consolidados demonstram uma característica importante daquelas pessoas atualmente já condenadas e que se encontram em regime fechado: 53% das pessoas cumprindo pena nas unidades prisionais brasileiras foram sentenciadas a penas de até 8 anos de reclusão, patamar que autoriza, por lei, a concessão de regime semiaberto ou aberto de cumprimento de pena. Entretanto, apenas 18% desses sentenciados foram efetivamente condenados em regimes mais brandos. Isso significa dizer que os juízes brasileiros vêm impondo o regime fechado, mais gravoso do que a hipótese permitiria, sem amparo legal (REDE JUSTIÇA CRIMINAL, 2016).
Assim, a formação punitivista e anti-garantista das e dos juízas(es) explica situações como estas26 e as de, diante da falta de vagas no semiaberto, juízas e juízes de 1ª instância desrespeitarem jurisprudências e manterem as pessoas em regime mais gravoso. Ainda sobre o estado de barbárie no sistema como um todo, houve a inclusão no questionário do Ministério da Justiça aos estados, apenas em 2014, de pedido de informações sobre mortalidade no sistema, distribuídas entre óbitos por motivos de saúde, óbitos criminais, óbitos por suicídios, óbitos acidentais e por causas desconhecidas. Os dados – como não poderiam deixar de ser, e mesmo antes do ponto agudo atingido em 2017 – são impressionantes, com o cômputo de que se tem seis vezes mais chance de morrer dentro de uma unidade prisional do que fora. Os dados do primeiro semestre de 2016 revelam 13,6 mortes para cada 10 mil pessoas privadas de liberdade. Já quanto aos dados do período anterior: Mesmo sem a apresentação dos dados de São Paulo e Rio de Janeiro, o número de mortes nas unidades prisionais brasileiras assusta: apenas no primeiro semestre de 2014 foram registradas 565 mortes, sendo que aproximadamente metade delas foi classificada pelos agentes públicos como violentas intencionais (REDE JUSTIÇA CRIMINAL, 2016).
Este dado nos leva ao primordial raciocínio que antecede qualquer debate sobre direitos na execução penal, que é a própria garantia do direito à vida. Ainda referente aos problemas com os dados, outro problema histórico são as diferenças qualitativas de dados de homens e mulheres. 25 O mesmo Tribunal que, pouco tempo depois, admitiu a execução da pena após a condenação em segunda instância, relativizando o basilar princípio liberal de inocência e garantindo mecanismo impactante de maior inchaço prisional, ou seja, a maximização do “estado de coisas inconstitucional”. 26 Ainda que não tenhamos aqui informações precisas sobre o grau de reincidência desta população, o que também define a possibilidade do regime inicial mais brando.
178 A título de comparação, o Infopen possui dados sobre raça para 53% das mulheres e sobre estado civil, para 51%. Em relação aos homens, esses números são, respectivamente, de 68% e 61%. Em relação ao tempo total de pena das pessoas condenadas, a distância é abismal: foram fornecidas informações sobre 65% dos homens e somente 27% das mulheres (...) o que mais chama atenção é a variação de 5% entre os dois relatórios (um geral e um lançado poucos meses depois especificamente sobre mulheres, C.B) sobre o envolvimento de mulheres no tráfico: enquanto no relatório de junho correspondia a 63% dos casos, no de novembro corresponde a 68% (INSTITUTO SOU DA PAZ, 2016).
A desproporção qualitativa nos dados das mulheres reflete a ainda forte invisibilidade sofrida pelas mesmas. Segundo este mesmo relatório, a média brasileira é de 5,8% de mulheres presas para 94,2% de homens, sendo que 62% das mulheres estão presas por crimes de drogas, quase o dobro da porcentagem dos homens. Como teremos oportunidade de analisar em detalhes em um momento próprio no terceiro capítulo, a proporção de mulheres presas vem subindo em um ritmo de progressão geométrica, o que deve ser observado por nós especialmente diante do dado da feminização da pobreza e da divisão sexual do trabalho (lícito e ilícito) que leva as mulheres a estarem em postos vulneráveis do tráfico e serem filtradas mais facilmente pelas lógicas seletivas penais. Em que pese essa aceleração, ainda são minorias no sistema prisional e um sistema que é feito por homens e para homens tende a invisibilizá-las em dados, em estrutura física, em direitos básicos, em direitos especiais, sendo múltiplas e complexas as violências que sofrem coletiva e cotidianamente no sistema penal. Outros dados importantes que enriquecem esta nossa percepção inicial sobre as características do encarceramento em massa brasileiro permeiam o perfil da população prisional, sendo de maioria jovem, como 55%, sendo destes 30% entre 18 e 24 anos e 25% entre 25 e 29 anos e negra. A informação sobre raça está disponível no que se refere a 72% da população prisional total. A partir desta referência, 64% da população prisional é composta por pessoas negras. De acordo com dados do último PNAD27, resgatados pelo relatório “Na população brasileira acima de 18 anos, em 2015, a parcela negra representa 53%, indicando a sobre-representação deste grupo populacional no sistema prisional” (INFOPEN, 2017, p. 32). Nos 28% faltantes de informações, incluem-se todas as unidades dos estados de Maranhão, Pernambuco e Mato
27 Os dados de 2016 indicam um aumento da autodeclaração como pardo ou negro, totalizando 54,9%. Quanto ao aumento proporcional, o comparativo se dá entre quatro anos: “Entre 2012 e 2016, enquanto a população brasileira cresceu 3,4%, chegando a 205,5 milhões, o número dos que se declaravam brancos teve uma redução de 1,8%, totalizando 90,9 milhões. Já o número de pardos autodeclarados cresceu 6,6% e o de pretos, 14,9%, chegando a 95,9 milhões e 16,8 milhões, respectivamente. A pesquisa mostra que, entre 2012 e 2016, a participação percentual dos brancos na população do país caiu de 46,6% para 44,2%, enquanto a participação dos pardos aumentou de 45,3% para 46,7% e a dos pretos, de 7,4% para 8,2%”. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017).
179 Grosso e, considerando especialmente os dois primeiros, com população destacadamente negra, é possível afirmar que a porcentagem total seria ainda maior. Quanto ao grau de escolaridade, 51% possui o ensino fundamental incompleto, 14% o fundamental completo, 15% o médio incompleto, 9% o médio completo e 1% o superior completo. As informações do IBGE abaixo, referentes ao módulo temático da PNAD-Contínua sobre Educação, com dados até 2016, revelam-nos a diferença significativa dos dados da população nacional relacionados ao da população prisional, bem como comparativos entre proporções, em cada nível de escolaridade, entre brancos e negros, destacando-se o curso de ensino superior no país: Em 2016, cerca de 66,3 milhões de pessoas de 25 anos ou mais de idade (ou 51% da população adulta) tinham concluído apenas o ensino fundamental. Além disso, menos de 20 milhões (ou 15,3% dessa população) haviam concluído o ensino superior. (...) Ainda entre a população com 25 anos ou mais, no Brasil, apenas 8,8% de pretos ou pardos tinham nível superior, enquanto para os brancos esse percentual era de 22,2%. O nível superior completo era mais frequente entre as mulheres (16,9%) do que entre os homens (13,5%). (...) A taxa de analfabetismo no país foi de 7,2% em 2016 (o que correspondia a 11,8 milhões de analfabetos), variando de 14,8% no Nordeste a 3,6% no Sul. Para pessoas pretas ou pardas, essa taxa (9,9%) era mais que duas vezes a das brancas (4,2%). (...) A taxa de analfabetismo para os homens com 15 anos ou mais de idade foi de 7,4% e para as mulheres 7,0%. Entre as pessoas de cor preta ou parda (9,9%) a taxa foi mais que o dobro das pessoas de cor branca, (4,2%) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016).
Estes dados quase falam por si mesmos. Desde nossa perspectiva, conjugados com os dados abaixo sobre tipificação das condutas atribuídas à maioria das pessoas em situação de prisão, estes elementos apenas revelam o resultado da atuação seletiva das instituições policiais e do sistema de justiça criminal como um todo em determinados territórios e determinados perfis populacionais. Como afirma Felipe Motta (2015, p. 92) “ter baixa escolaridade no Brasil eleva brutalmente as chances de seleção, enquanto um curso universitário significa praticamente a imunidade ao sistema de justiça criminal”. Assim, de acordo com o relatório, das pessoas presas no último período, 11% tiveram supostas condutas suas classificadas penalmente como homicídios, 37% como roubo ou furto e 28% os crimes de tráfico (maioria de pequenos traficantes, sem associação com o crime organizado, de acordo com estudos qualitativos (INSTITUTO SOU DA PAZ, 2013; INSTITUTO SOU DA PAZ, 2012; JESUS, 2011), o que reforça o perfil político e de classe da seleção penal, pois, ainda que tenhamos processos de criminalização primária intensificados, com muitos projetos e muitas aprovações no Congresso de novos tipos penais
180 e menos garantias processuais, não chegam a dez os tipos penais que classificam a grande maioria das condutas de quem se encarcera. A singela análise dos dados acima já nos revela uma série imbricada de forças e poderes que entram em cena para moldar o comportamento do sistema penal no país. Para citarmos alguns exemplos: - o papel fundamental do legislativo e sua saga e sua sanha por intensificar processos de criminalização primária, com proposição e aprovação de leis mais criminalizadoras e mais endurecedoras do regime penal; - a relação intrínseca deste primeiro elemento com os discursos políticos policialescos, alimentados pela cultura do medo e do ódio difundida pela grande mídia; - a cultura punitiva impregnada por promotores de justiça, procuradores da república e juízes, que se “confundem de profissão” e pensam ser seu papel o combate à criminalidade e a resposta aos clamores populares de lei e ordem; - o papel fundamental das políticas públicas estaduais na gestão da política criminal, desde o modelamento das polícias até o funcionamento do sistema prisional. Este era o ponto mais questionado acerca do objeto da tese, especialmente com a exemplificação de São Paulo. Corretamente as pessoas questionavam que não haveria maneira de pensar o encarceramento em massa no Brasil sem pensar no impacto que tem o estado de São Paulo que, inclusive, ao longo destes anos todos de análise foi gerido pelo PSDB, com uma política de segurança pública orgulhosa e declaradamente punitivista. A nossa hipótese que buscou ser demonstrada no trabalho é que todos estes elementos são de fato fundamentais para a composição desta onda punitiva brasileira e não há como apreender tal fenômeno com homogeneidade, como se um pacote de maldades fosse imposto por uma força superior em cada país. Entretanto, ao nos propormos a analisar a gestão do Estado brasileiro pela frente política capitaneada pelo Partido dos Trabalhadores, a partir da indagação apresentada anteriormente, também queremos perceber concretamente qual foi a ousadia ou a capacidade de mudanças estruturais da política criminal em âmbito federal, em todos os níveis cuja influência, intervenção e alteração de política e de cultura punitiva lhe eram possíveis: - Quais foram as intervenções do governo federal nestes 13 anos para alteração do papel do Brasil na geopolítica de drogas? - Quais foram as iniciativas para alteração da composição e funções das polícias? - Até onde foi o esforço pela desmilitarização das polícias e da política?
181 - Como se comportou o governo federal no que tange à criminalização das lutas e dos movimentos sociais, especialmente em momentos delicados socialmente, como as Jornadas de Junho de 2013, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo? - Qual foi a política federal para o crime organizado? - E para a calamidade penitenciária? - No que tange à cultura punitiva, qual foi a política pública de conscientização de outro tipo? E o combate aos oligopólios midiáticos, sustentadores da política a ser combatida? - O Estatuto do desarmamento foi um importante acerto político? Quais mais foram as políticas para o controle de armas? - A política de avanço na coleta e sistematização de dados da rede de segurança pública foi inovadora? - As promessas eleitorais quanto à segurança pública foram sendo concretizadas? As promessas foram se rebaixando ao longo das gestões? - O que seria (e existia?) um programa descarcerizante desde a concepção destas quatro gestões petistas? - O modelo implementado de redução de desigualdades sociais radicalizava cidadania, mudava cultura política e promovia menos violência individual, institucional e estrutural? Mas, para além de buscar captar elementos cruciais de todas estas perguntas – que não deixam de estar entrecruzadas com as que nos questionaram nestes tempos – , nossa maior interrogante está na pergunta final em destaque, ou seja, é preciso que se discuta o projeto de sociedade buscado nestas quatro gestões (ou melhor, três e parte de uma quarta interrompida por um golpe jurídico-midiático-parlamentar em abril de 2016), o quanto ele estava atrelado a mudanças mais ou menos impactantes no campo econômico e da organização da produção e do trabalho e, consequentemente, na mudança radical de uma cultura política e social brasileira. O nosso objetivo é perceber o que este projeto de governo tem a ver com o funcionamento de mecanismos de controle penal aprofundados neste período. Temos que analisar as peças, mas também, e principalmente, as regras do jogo, a composição do tabuleiro. Esta é a difícil, mas necessária, tarefa que aqui nos propomos.
182
Foto 1 - Ensaio de Wellington Amorim. Fotos de Janssen Cardoso para o Projeto Other Colors, 2018
183
Foto 2 - Ensaio de Wellington Amorim. Fotos de Janssen Cardoso para o Projeto Other Colors, 2018
184
Foto 3 - Ensaio de Wellington Amorim. Fotos de Janssen Cardoso para o Projeto Other Colors, 2018.
185
Foto 4 - Ensaio de Wellington Amorim. Fotos de Janssen Cardoso para o Projeto Other Colors, 2018.
186
Foto 5 - Ensaio de Wellington Amorim. Fotos de Janssen Cardoso para o Projeto Other Colors, 2018.
187 3
O
TSUNAMI
ENCARCERADOR:
ANÁLISE
DOS
ELEMENTOS
DETERMINANTES DA ONDA PUNITIVA BRASILEIRA (2003-2016)
Nesta etapa do trabalho pretendemos descrever concretamente qual foi a realidade do controle penal no período histórico detidamente analisado, buscando responder as tantas perguntas já elaboradas ao final do segundo capítulo, tendo como fio condutor o questionamento se houve matriz progressista na política criminal brasileira durante as gestões do Partido dos Trabalhadores e quais eram as possibilidades de rupturas com um padrão global e engolidor de encarceramento. Para
tanto,
conforme
anunciamos
na
Introdução,
buscaremos
analisar,
pormenorizadamente, elementos que são por nós entendidos como os principais para a caracterização da onda punitiva brasileira atual. Partimos do acúmulo de que o sistema penal se tornou engrenagem fundante da construção de um racismo estrutural com especificidades brasileiras. Pudemos perceber a simbiose do discurso etiológico com o positivismo jurídico para o funcionamento de um sistema seletivo racialmente e que cumpre papel central no momento do projeto genocida de branqueamento populacional. Diferentemente de outras realidades, foi preciso muito grito rouco e muita formulação para apontar que o que aparenta harmonia carrega extermínio. Com isso queremos dizer que o racismo brasileiro não precisa se anunciar para se efetivar com profundidade. Nunca precisou ser declarado, ser legalizado, ser explicitado. Historicamente, o racismo alimentou o sistema penal e o sistema penal alimenta o racismo em nosso país. O racismo permeia, profundamente, cada um dos elementos a serem analisados como componentes centrais da onda punitiva brasileira. O racismo fundamenta, reforça, reproduz as possibilidades criminalizantes e punitivas no país. Outro elemento que foi constantemente questionado ao longo da escrita desta tese era se seria possível provar esta determinação racial. Entendemos que sim e que não. Não apresentaremos aqui um dado revelador, para além de todos aqueles já sabidos sobre a racialização e diferenciação no mercado de trabalho, nos atendimentos de saúde, no sistema educacional, de assistência social e, talvez o mais alardeado, na atuação dos órgãos de segurança pública e na realidade do sistema socioeducativo e prisional brasileiros. Destes dados estamos armados.
188 O desafio é perceber o funcionamento e o impacto dessa mecânica pautada na discriminação racial. O sistema penal não é racista apenas porque seleciona mais negros do que a sua proporção na população brasileira total. O desafio é perceber a sua produção de racismo. Como disse Michele Alexander (2017, p. 38), “não se tratava apenas de mais uma instituição infectada por preconceito racial, mas de um monstro completamente diferente”. É de “um monstro” engolidor de esperanças que silenciosamente atacou justo em tempos de conquistas de direitos e institucionalização de políticas públicas de reconhecimento. No segundo capítulo tratamos da encruzilhada comum que Estados Unidos e Brasil vivenciam com o encarceramento em massa enquanto política genocida racista não declarada nestes termos. Neste momento, retomamos a tese de Michele Alexander, trazendo agora alguns elementos sobre o seu caminho, como bússola metodológica para a reflexão que pretendemos inaugurar neste capítulo. Já explicitamos anteriormente a sua tese de que o encarceramento em massa, movimentado pela guerra às drogas, inaugura uma nova etapa de segregação racial no país, com características específicas que tem na privação da liberdade apenas um momento do seu efeito de produção de subcidadanias. A autora destaca como, originalmente, “a Guerra às drogas, mascarada por uma linguagem racialmente neutra, ofereceu aos brancos que se opunham à reforma racial uma oportunidade única de expressar a sua hostilidade aos negros e ao progresso negro sem serem acusados de racismo” (ALEXANDER, 2017, p. 103). Desta forma, desenvolve a ideia de o encarceramento em massa se desenvolver como um sistema de controle social racializado abrangente e bem disfarçado. Para se ter noção do impacto desta afirmação, a derrubada do Jim Crown se deu com, em suas palavras, “o maior movimento de massas por reforma racial e de direitos civis do século XX”. Ao mesmo tempo em que se reivindicava igualdade de direitos, organizava-se marchas como a “Marcha em Washington por Empregos e Liberdade Econômica, de agosto de 1963”. Organizavam-se “boicotes, piquetes e manifestações para atacar a discriminação no acesso a empregos e a negativa de oportunidades econômicas” (ALEXANDER, 2017, p. 81), Um momento, inclusive, de possibilidade de união da classe trabalhadora. O movimento por direitos civis, no seu auge, sabia que a luta por reconhecimento não seria plena se não fosse também por redistribuição. O ponto é que este período histórico no país provocou uma verdadeira inflexão, porém, sub-repticiamente, o atual sistema de controle impede um percentual gigantesco da comunidade afroamericana de fazer parte da economia e da sociedade. O sistema opera por meio de
189 nossas instituições de justiça criminal, mas ele funciona mais como um sistema de castas do que como um sistema de controle (ALEXANDER, 2017, p. 51).
Um negro chega à Presidência. Negras são destaque em Hollywood. A mobilidade social e de classe é vendida como possível e o fracasso depositado no indivíduo. Inclusive, nesta nova etapa segregatória, depende-se da excepcionalidade negra para provar a meritocracia como elementos determinante deste sistema. A autora desenvolve uma pesquisa profundamente embasada para demonstrar, em primeiro lugar, como se operacionaliza a seletividade do sistema penal, com ênfase na análise das práticas policiais militarizadas e arbitrárias – e o seu sustentáculo governamental – e no papel da Justiça, analisando marcos decisórios e o funcionamento de processos arbitrários. Com isso demonstra como a seletividade penal é racializada e esta é sua determinante funcionalidade política. Em segundo lugar, demonstra como a mera passagem pelo sistema, não importando a circunstância e a quantidade de tempo, cria subcidadania, com restrições a vale-alimentação, programa habitacional, empregos, direito a voto, participação em júri, entre outros. E mais, tristemente, descreve de maneira responsável e sensível o quanto este sistema massacrante, imposto em tempos de esfacelamento dos laços sociais, gera vergonha, silêncio e ausência de solidariedade entre os negros. Quanto ao primeiro aspecto, a passagem a seguir sintetiza seu cerne: o primeiro passo é conceder aos policiais e promotores uma discricionariedade extraordinária no que tange a quem parar, revistar, apreender e acusar por crimes de drogas, assegurando assim rédea solta a crenças e estereótipos raciais conscientes e inconscientes. Discricionariedade ilimitada inevitavelmente cria disparidades raciais gigantescas. Em seguida, o passo condenatório: fechar as portas dos tribunais a todas as alegações de réus e litigantes privados de que o sistema opera de maneira discriminatória (ALEXANDER, 2017, p. 164).
Para quem fecha os olhos para Guantánamo e para as 2,3 milhões de pessoas presas e ainda acredita que Estados Unidos é a terra da liberdade, o convite ao livro de Alexander é precioso. A autora descreve, pormenorizadamente, como a ausência de limites ao exercício policial arbitrário foi, literalmente, patrocinado pelo governo nas últimas décadas, inclusive com investimentos extras do governo federal na estrutura daquelas unidades que assumissem, com prioridade, o combate ao tráfico de drogas. O caso Terry versus Ohio gera a autorização da Suprema Corte da “stop-and-friskrule” (regra de parada e revista), inaugurando uma nova etapa de varredura incriminadora policial sem precedentes e sem limites, autorizando blitz corriqueiras e de máxima proporção, abertura de bolsas e outras condutas do tipo.
190 A questão se escandalizou ao ponto de se introduzir a noção de “buscas autorizadas”, com o questionamento imediatamente prévio à realização do procedimento, para o qual dificilmente alguém ousaria negar. As paradas-pretexto, assim como as revistas autorizadas, são as ferramentas favoritas dos agentes da segurança pública na Guerra às Drogas. Uma paradapretexto clássica é a parada de trânsito motivada não por algum desejo de fazer cumprir leis de trânsito, mas motivada por um desejo de caçar drogas na ausência de qualquer evidência de atividade ilegal de drogas. Em outras palavras, os policiais usam pequenas violações de trânsito como desculpa – um pretexto – para efetuar revistas em busca de drogas, mesmo que não haja a mínima evidência de que o motorista esteja violando alguma lei. As paradas-pretexto, como as revistas autorizadas, haviam recebido da Suprema Corte uma bênção unívoca (ALEXANDER, 2017, p. 118).
A metáfora de Alexander é que se beija muitos sapos até encontrar um príncipe. estimou-se que em 95% das paradas da Pipeline não foram encontradas drogas ilegais. Um estudo descobriu que mais de 99% das paradas de trânsito feitas pelas forças-tarefa de narcóticos financiadas pelo governo federal não resultaram em abertura de processo e que 98% das revistas realizadas por forças-tarefa durante paradas de trânsito são revistas discricionárias, nas quais o policial revista o carro com a ‘autorização’ verbal do motorista, mas não tem autoridade legal para fazer isso (ALEXANDER, 2017, p. 123).
O complemento, bem familiar a nós, é onde, predominantemente, são realizadas tais operações (forças-tarefas). A autora responde, taxativamente que “os métodos de segurança pública descritos no capítulo 2 têm sido empregados quase exclusivamente em comunidades não brancas pobres, resultando em números impressionantes de afro-americanos e latinos ocupando as prisões dos Estados Unidos todos os anos” (ALEXANDER, 2017, p.156). Os brancos também são presos em escala elevada, mas não se compara proporcionalmente aos negros. Para a autora, o combate às drogas é o carro-chefe do encarceramento e, ainda que tanto pessoas brancas como negras usem e vendam drogas ilegais em proporção completamente similar, “os mercados de drogas, como a sociedade estadunidense em geral, refletem as fronteiras raciais e socioeconômicas da nação. Os brancos tendem a vender a brancos; e os negros aos negros” (ALEXANDER, 2017, p. 159). Com isso, não há relação necessária entre aumento de taxas de violência e aumento de encarceramento, mas sim entre prioridades em termos de política criminal, o modus operandi policial e o funcionamento da Justiça. Quanto a este aspecto, vigora no país um processo rotineiramente arbitrário e massificante, no qual prevalece a presunção de culpabilidade, pois “eles se confessam
191 culpados porque são ameaçados com sentenças mínimas obrigatórias duríssimas caso ousem desafiar suas acusações” (ALEXANDER, 2017, p. 20). Quase ninguém vai a julgamento. Praticamente todos os casos criminais são resolvidos por meio de negociação de acordos – em que o réu assume a culpa em troca de alguma forma de leniência do promotor. Embora não se saiba muito a esse respeito, o promotor é o agente mais poderoso do sistema de justiça criminal. Alguém poderia pensar que os juízes são os mais poderosos, ou mesmo a polícia, mas na verdade o promotor é quem dá as cartas. É ele, mais do que qualquer outro agente de justiça criminal, quem fica com as chaves da porta da cadeia” (ALEXANDER, 2017, p. 143).
Complementando em seguida que “apenas réus extremamente corajosos (ou tolos) recusam a oferta” (ALEXANDER, 2017, p. 143). Com isso a autora está demonstrando como a lógica processual penal negocial em uma cultura punitiva estimulada pode se tornar um rolo compressor sobre certos grupos populacionais. A cena é roubada para as franjas do processo e o juiz não mais cumpre o papel de observar cautelosamente as situações materiais do caso. Entre o Executivo, os órgãos de segurança pública, o Legislativo e o decisivo papel do Judiciário, a autora aponta as tramas e tragédias deste sistema de controle social avassalador. Desde este exemplo, o exercício neste capítulo é o de trazer pistas das especificidades desta etapa de criminalização no Brasil, tentando captar elementos das razões de ser o sistema penal estruturalmente racista em sua atual forma. O resultado final deste exercício será situar a economia política da pena no Brasil contemporâneo, desde os aportes do primeiro capítulo.
3.1 A marola progressista latino-americana e sua relação com o encarceramento
Maximo Sozzo, criminólogo argentino, trata em sua obra de uma onda de governos por ele denominados como pós-neoliberais na América Latina – percebendo semelhanças, mas também diferenciando processos como o venezuelano, o boliviano e o equatoriano, com, por exemplo, o brasileiro ou argentino –- que, em todos eles, o fenômeno de altas taxas e aumento do encarceramento se apresenta: Na Venezuela, entre 1998 – último ano antes do início do processo de mudança política – e 2014 – em um período de 16 anos – a taxa de encarceramento cresceu 65%. No Brasil, entre 2002 e 2014, em um período mais breve do que no caso venezuelano, de 11 anos, a taxa de encarceramento cresceu 119%. Na Argentina, entre 2002 e 2013, em um período similar ao caso brasileiro, a taxa de encarceramento cresceu 24%. No Uruguai, entre 2004 e 2014, em uma década, a taxa de encarceramento cresceu 36%. Na Bolívia, entre 2005 e 2014, em nove anos,
192 a taxa de encarceramento cresceu 84%. E no Equador, entre 2006 e 2014, em oito anos, a taxa de encarceramento cresceu 59% (SOZZO, 2017, p. 16).
No primeiro capítulo destacamos um elemento estruturante que pode ser traduzido pelo que Sozzo afirma ser “uma mudança epocal” e “global” (SOZZO, 2017, p. 17) do controle penal, que parece independer das escolhas e ações dos agentes concretos e que se mostra à direita e à esquerda. No capítulo seguinte, narramos a lente histórica brasileira para termos condições de perceber as possibilidades de rupturas com esta tendência epocal (ou não haveria mais possibilidades históricas de transcendência?). Ao final deste, concluímos que não houve, durante os quase 14 anos de gestão federal petista, uma ruptura das raízes determinantes do capitalismo dependente brasileiro. Esta afirmação poderia explicar o porquê desta tendência global do controle penal ser confirmada e reafirmada em nossa realidade, ainda que sob o jugo de um governo conhecido por seu cunho progressista. Entretanto, neste derradeiro capítulo iremos mapear os elementos determinantes desta onda punitiva, respondendo desde as especificidades do tema em estudo, as motivações da ausência de rupturas. Nas indagações introdutórias feitas por Maximo Sozzo (2017, p. 16) em seu livro, ele se questionava se tais permanências comuns a todos estes governos “progressistas” latinoamericanos seria fruto de uma “falta de ideias originais” ou de um “temor de debilitar sua posição política caso pareçam demasiado brandos com relação ao delito”, seguindo o raciocínio de que poderia haver certo “temor de confrontar as forças de segurança estatais, que são muito poderosas e das quais muitos membros permanecem muito apegados a métodos e ideias provenientes dos regimes autoritários” (SOZZO, 2017, p. 16). Para aproximar a realidade destas hipóteses, reuniu alguns autores de alguns destes países para traçarem possíveis aproximações (ou não) desta aposta. Pedimos licença para nos somar neste exercício. Até aqui pudemos raciocinar as características destes mais de 13 anos de análise desde uma percepção do campo político-econômico mais amplo, agora o desafio é recolher elementos desde os agentes específicos do campo penal. Se, por um lado, prezamos pela compreensão histórico-estrutural dos fenômenos, por outro assumimos a necessária credibilidade do agir político transformador. É esta tensão que norteia nossa leitura do objeto da pesquisa.
3.2 Elementos para captação das tendências da política criminal brasileira no período estudado
193
Rompemos com a lógica causal-explicativa de supostos fenômenos de criminalidade desde a primeira linha deste trabalho. Ao revés, construímos nosso raciocínio desde a noção de processos de criminalização, cujos fluxos e refluxos são definidos por múltiplas determinantes. Há o entendimento de um aumento significativo da criminalidade urbana da década de oitenta em diante, com a generalização do tráfico de drogas e a substituição de armas por novas mais potentes. Rodrigo Azevedo e Ana Cláudia Cifali (2017, p. 29) constatam que o crescimento das taxas de homicídios se estabilizou a partir de 2003 em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, tendo aumentado no sul e nordeste. Como exemplo da impossibilidade de uma razão única para explicações de fenômenos deste porte, seguem algumas das possíveis explicações dos autores: De qualquer forma, daquele momento em diante, há uma clara mudança na curva de homicídios, que tem sido tratada por pesquisadores como fruto de diferentes políticas e dinâmicas sociais, entre as quais se destacam a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento, que estabeleceu uma política efetiva de controle de armas e proibiu o porte para a população civil, assim como a consolidação, em São Paulo, do Primeiro Comando da Capital, facção criminal surgida no interior dos presídios paulistas e que passou a monopolizar o mercado de drogas naquele estado, contribuindo assim para a redução dos homicídios provocados por disputa de território em torno do tráfico (AZEVEDO; CIFALI; p. 29).
O fato é que, ainda que múltiplos os fatores determinantes deste boom da “criminalidade” de rua da década de oitenta em diante, posta sob fortes holofotes pela mídia e outras instituições de controle social informal, um elemento é inconteste: passamos a vivenciar uma forte crise de segurança pública, com a inegável falta de credibilidade das suas instituições, frente a uma sociedade na qual prevalece a opinião “publicada”, ou seja, forjada pelas lentes e tons dos grandes veículos de comunicação, que têm na venda do medo e da insegurança seu grande negócio. Estes mesmos autores defendem que passa a existir, desde meados da década de noventa, ainda com Fernando Henrique Cardoso sob a presidência, um maior protagonismo do executivo federal nesta pauta, tendo como marcos a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (1996)28, o lançamento do I Plano Nacional de Segurança Pública, nos 28 Quanto ao histórico e ao objetivo da criação da Secretara, Lígia Mori Madeira e Alexandre Rodrigues narram que: “No final da década de 1990, foi criada a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, transformada em seguida em Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). No decreto de sua criação, foi estabelecido que cabe à Senasp assessorar o ministro de Estado da Justiça na definição e implementação da política nacional de segurança pública, e, em todo o território nacional, acompanhar as atividades dos órgãos responsáveis pela segurança pública. A Senasp passou então a atuar buscando a articulação entre as unidades federativas, visando à estruturação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp). Inspirado no sistema único desenvolvido no âmbito das políticas de saúde (SUS), o Susp visava à articulação das ações
194 anos 2000, bem como o Fundo Nacional de Segurança Pública (2001), o que se aprofunda significativamente nos anos seguintes. Como poderemos observar nas próximas linhas, ambos os perfis de governos – PSDB e PT –, ainda que com as diferenças significativas na condução político-econômica que pudemos constatar ao final do capítulo anterior, no plano discursivo da política criminal não possuíram projetos radicalmente distintos. Para decifrar as principais características da política criminal nos anos estudados, aqui se levantará as ações diretas de iniciativa do governo federal, bem como as mudanças legislativas mais relevantes e impactantes nesta seara neste período, percebendo, na medida do possível, como os órgãos operadores do sistema de justiça criminal se comportaram diante de todos estes elementos – os órgãos e os operadores em si. Rodrigo Azevedo e Ana Claudia Cifali (2017, p. 38) fazem importantes considerações sobre as características do sistema presidencialista de coalizão, que seria o brasileiro. Existe uma grande fragmentação do espectro partidário e, por consequência, a necessidade de compor alianças para garantir a maioria no parlamento. Isso significa que a sustentação do executivo é proporcional à construção de uma maioria no parlamento. Há uma tendência dos deputados componentes de partido integrante da coalização de apoio ao presidente seguirem a recomendação de voto do líder do governo. Limongi demonstra, com base em pesquisa empírica, que o governo Lula contou com o apoio médio de 89,1% dos deputados dos partidos da base de apoio ao governo em 164 votações, garantindo assim a manutenção da governabilidade (...). Evidencia-se assim que o sucesso das proposições do Executivo não é resultado de negociações caso a caso, mas sim do fato de o governo controlar a produção legislativa, e esse controle é resultado da interação entre poder de agenda e apoio da maioria (...) Ou seja, como o processo decisório legislativo favorece o Executivo, tornando previsíveis as objeções do Congresso, ele é capaz de estruturar e preservar sua base de apoio, encaminhando ao plenário somente as propostas de provável aceitação, e não enfrentando o debate sobre temas em que há risco de ruptura da coalização de governo (AZEVEDO; CIFALI, 2017, p.38)
O Partido dos Trabalhadores alcançou o executivo federal não por via do fortalecimento do poder popular, capaz de confrontar os herdeiros dos privilégios da representação política no país, mas sim desde minuciosas costuras de alianças com os partidos conhecidos como “partidos da ordem”, componentes do chamado “centrão”. O histórico que permite compreender tal resultado foi desenhado no capítulo anterior e não nos permite nem afirmar uma inevitabilidade do cenário (com raciocínios do tipo: “só se pode alcançar este federais, estaduais e municipais na área de segurança pública, buscando aperfeiçoar o planejamento e a troca de informações para uma atuação qualificada dos entes federados na área” (MADEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 8).
195 lugar de poder a partir de negociações e flexibilizações momentâneas de pautas e bandeiras”) nem um desvio individual e fruto da busca pessoal ou de um pequeno grupo por poder. O histórico nos revela uma caminhada permeada de escolhas por atalhos e vantagens. Trata-se de uma escolha política, de um projeto de priorização da tática de disputa dos espaços institucionais flexibilizadora de princípios, disposta a alianças espúrias. O Partido dos Trabalhadores chega ao poder executivo federal pelo elevador social e só se sustenta através da garantia da governabilidade. Isso se reflete diretamente em nosso objeto de estudos e no seu destrinchar apresentado no presente capítulo. O ponto de partida será o levantamento de alguns recortes quanto aos planos de segurança pública, os discursos, as promessas e as iniciativas federais do Partido dos Trabalhadores, entre os anos de 2003 a 2016, neste campo. Em seguida, serão analisados elementos significativos/exemplares do processo de criminalização primária durante este período histórico, que se traduzem como a máxima expressão do retrocesso legal punitivista, profundamente conectado ao discurso da Guerra às drogas e do combate ao crime organizado. Assim, a busca é por alcançar um panorama da política criminal no período.
3.3 Política de segurança pública: qual a parte que cabe ao executivo federal neste latifúndio?
Conforme anunciado, desde meados dos anos noventa, aprofunda-se no Brasil um novo papel da União como mediadora da política de segurança pública. Esta posição antecede os primeiros anos do governo Lula, em alguma medida como herança do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. A verdade é que parte significativa dos impasses brasileiros no trato da segurança pública é decorrente das heranças autoritárias e da transição democrática extremamente fragilizada nesta seara. O Brasil sempre foi carente de sistematização e análise de dados. Sem informações desta ordem é difícil fazer política pública, que acaba por ser levada pelas emoções, pelos impressionismos, pelo medo distribuído massivamente no cotidiano, que assola lares e ruas. Conforme antecipamos, a década de noventa e o início dos anos 2000 foram marcados por grandes “escândalos” e “tragédias” que mobilizaram emoções coletivas no país. Foi a década do Massacre de Eldorado dos Carajás, com o assassinato de dezenove trabalhadores rurais sem-terra, lutadores sociais, no Pará.
196 Foi a década da Chacina da Candelária, na noite de 23 de julho de 1993, com o assassinato por policiais militares de oito jovens em situação de rua e muitos outros feridos, expressão das mais trágicas da irracionalidade racista em nosso país. Seguida, anos depois – em 12 de junho de 2000 – pelo sequestro do ônibus 174. Sandro Barbosa do Nascimento, uma das vítimas sobreviventes da Candelária, adulto que teve uma infância e adolescência de traumas, violências e invisibilidade profundas, chama atenção do Brasil e do mundo por todo um dia agoniante no sequestro de um ônibus em pleno centro do Rio de Janeiro. Rotulado como “monstro” pela mídia, teve como desfecho da tragédia a imperícia policial ao atirar na refém sob o controle de Sandro, matando-a, bem como o assassinato deste, sufocado por mais de uma dezena de policiais em um camburão. Foi a década do Massacre do Carandiru. Em 02 de outubro de 1992, quando, em decorrência da rebelião na Casa de Detenção de São Paulo, 111 homens em situação de prisão foram assassinados em uma intervenção da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Com posteriores julgamentos e condenações de 74 policiais e anulação das decisões pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, imbróglio que se estende até o ano corrente. Foi a época do assassinato de Galdino Jesus dos Santos, índio da etnia pataxó-hã-hãhãe que, em 20 de abril de 1997, foi queimado enquanto estava descansando sob um ponto de ônibus em Brasília. Estava na cidade em decorrência de uma manifestação no dia anterior, Dia do Índio. Cinco jovens de origens e vidas calcadas no máximo do privilégio colonial argumentaram que a intenção era só de ser uma brincadeira. Estendemos as palavras do mestre Paulo Freire (2000, p. 31) como nossas: “que coisa estranha, brincar de matar índio, de matar gente. Fico a pensar, mergulhado no abismo de uma profunda perplexidade, espantado diante da perversidade intolerável desses moços desgentificando-se, no ambiente em que decresceram em lugar de crescer”. Foi a época que despontaram crimes provocadores de comoção popular, como o estudante de medicina que atira sequencialmente em uma sala de cinema em São Paulo (novembro de 1999); o caso tão alardeado midiaticamente de Suzane von Richthofen e o assassinato de seus pais (outubro de 2001); o assassinato da atriz Daniella Perez (dezembro de 1992) – descrito em outra oportunidade do trabalho. Foi o período de afirmação do crime (des)organizado no país e seus confrontos com o Estado, com uma série de episódios que teremos oportunidade de narrar em passagens posteriores deste capítulo. Um período de turbulência social.
197 E como se pensar uma redemocratização do país a ferro e fogo? Um país de profunda história escravocrata, saindo de mais de duas décadas de regime ditatorial sob um processo ausente de rupturas revolucionárias e, portanto, com mudanças importantes – refletidas no processo da constituinte –, mas com permanências significativas e reações anti-democráticas. Os índices de violências individuais e institucionais estão no bojo deste momento histórico. Momento em que o holofote do “inimigo social” se desloca do lutador político para o traficante. A Guerra às Drogas torna-se o cerne do processo repressivo. Foi neste cenário que o programa e a política de segurança pública nos anos de governo de Fernando Henrique Cardoso oscilam entre: i. a manutenção das estruturas policiais, o fortalecimento dos serviços de segurança privada e uma concepção de Lei e Ordem norteadora das práticas e discursos, ii. um maior enraizamento de uma política de direitos humanos institucionalizada, especialmente com a construção do 1º Programa Nacional de Direitos Humanos, em 1996. Para agravar ainda mais esse cenário, o Ministério da Justiça, centro nevrálgico da política de segurança, conheceu nove titulares ao longo da era FHC! A fim de assegurar maioria parlamentar e garantir a aprovação dos projetos de lei de interesse maior do governo, a pasta da Justiça foi freqüentemente moeda de troca entre partidos de apoio do governo, notadamente o PMDB, o que dificultou em larga medida a adoção de políticas mais conseqüentes e mais duradouras (ADORNO, 2003, p. 114).
No ano 2000, com José Gregori como Ministro da Justiça, aprovou-se o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), uma primeira sistematização da política de segurança pública em uma mediação do Governo Federal com o estadual e do Executivo com o Legislativo. Trata-se de um Plano abrangente, com muitas áreas de enfoque, destacando-se o controle de armas, o controle das fronteiras, o combate ao crime organizado e a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública, iniciativa importante para a maior estruturação da política na área desde iniciativas federais. Sérgio Adorno destaca os principais elementos do documento: Quanto às medidas de competência do governo federal, foram eleitos compromissos relacionados com o combate ao narcotráfico e ao crime organizado; desarmamento e controle de armas; repressão ao roubo de cargas e melhoria da segurança nas estradas; implantação do subsistema de inteligência de segurança pública; ampliação do Programa de Proteção a Testemunhas e Vítimas de Crime; e regulamentação da exposição da violência à mídia. Quanto ao combate ao narcotráfico, as medidas compreendiam tanto operações sistemáticas de repressão, como melhoramento da vigilância nas fronteiras, portos e aeroportos; interdição de campos de pouso clandestinos; combate à lavagem de dinheiro; integração entre as polícias federal e rodoviária, entre as polícias militar e civil; amplo programa de reestruturação dos processos de seleção, recrutamento, treinamento, capacitação e reciclagem dos
198 quadros policiais; criação do sistema prisional federal e de núcleos especiais de polícia marítima (ADORNO, 2003, p. 123).
Houve muitas críticas ao caráter amplo e a ausência de prioridades no documento, que foi sendo aperfeiçoado e alterado conforme a passagem de outros ocupantes no cargo de Ministro da Justiça. Segundo Adorno, o Ministro José Gregori foi substituído por José Carlos Dias, que, segundo o autor, em sua curta passagem pelo Ministério, “corrigiu excessos e ampliou medidas que lhe pareciam de maior possibilidade” (ADORNO, 2003, p.130). Foi substituído por Aloysio Nunes Ferreira, também por pouco tempo. Em seguida, assume Miguel Reale Junior. Ainda segundo o autor, este também efetivou medidas para implementação do Plano e para aceleração legislativa de iniciativas governamentais, como as reformas do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execuções Penais e Lei de Drogas – reformas que, no decorrer do texto, tangenciaremos. Adorno narra que Miguel Reale Jr. se desgastou com o governo e foi desligado após insistir na necessidade de intervenção federal no Espírito Santo “diante de graves problemas de corrupção e da presença de grupos de execução sumária com larga influência no aparelho governamental estadual” (ADORNO, 2003, p.130), sendo esta negada por inconveniência eleitoral. Foi seguido pelo então chefe de gabinete, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro. Em geral, desde a formulação do Plano, as críticas giraram em torno da amplitude das formulações e sua baixa efetividade. Já o balanço oficial foi: Ao aproximar-se do final do mandato, o governo promoveu uma espécie de balanço do Plano, em especial de seu andamento e dos resultados esperados em curto prazo. O balanço indicava o privilégio conferido a algumas ações em detrimento de outras. Algumas pareceram mais exeqüíveis de imediato, enquanto outras envolviam maior empenho governamental no sentido de convencer seus opositores, amainar as críticas e reservas e possibilitar avanços na área. Ações de competência do governo federal andaram com maior fluência, ainda que seus resultados não tenham sido logrados até o final do segundo mandato de FHC. Aquelas que envolveram cooperação com os governos estaduais encontraram maior dificuldade, muitas sequer saíram do papel (ADORNO, 2003, p. 128).
Ao ser eleito, Lula herda o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) e o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), bem como o Programa Nacional de Direitos Humanos (I e II – 1996 e 2002). Em seu primeiro mandato lança um novo Plano Nacional, em alguma medida dando continuidade às diretrizes anteriores, com forte discurso de controle de armas, combate ao crime organizado e qualificação/fortalecimento das polícias, especialmente a Polícia Federal. Como afirma Mello (2015, p.72), o Plano “consistia num conjunto articulado, sistêmico e
199 intersetorial de propostas de reforma das polícias, do sistema penitenciário e de implantação de políticas preventivas”. Luiz Eduardo Soares, antropólogo com vasto acúmulo teórico e experiência na área, esteve como Secretário Nacional de Segurança Pública entre janeiro e outubro de 2003, porém foi desligado neste momento e a interpretação consolidada é de que seria “por pressões de grupos ligados aos órgãos de segurança pública, notadamente da Polícia Federal, interessada em manter seu papel central na articulação das políticas na área” (AZEVEDO; CIFALI, 2017, p. 43). Como incansavelmente se repete e se repetirá nestas páginas, foi mais um episódio a demonstrar a força política das instituições policiais no país, que não estão dispostas a transformarem suas raízes. Construir outro modelo de segurança significará, literalmente, enfrentar armas. E a fragilidade da sustentação política do Partido dos Trabalhadores exigia estas flexibilizações de políticas e de princípios. Uma iniciativa ainda neste primeiro mandato do que seria adiante a ponta de lança dos investimentos de caráter preventivo do governo é o avanço sobre formação policial, com a criação da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (RENAESP), que se traduz na construção de uma rede com instituições de ensino superior para fornecer cursos de pós graduação e outros, presencialmente e à distância (EAD), aos policiais e outros servidores das instituições componentes da segurança pública.
3.3.1 O impacto do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) inserido em uma dúbia construção da política de segurança pública
Sem sombra de dúvidas, foi o segundo Plano Nacional de Segurança Pública de Lula, no início de seu segundo mandato, com a Secretaria sob o comando inicial de José Vicente Tavares dos Santos e, posteriormente, de Tarso Genro, que mais impactos trouxe na política pública na área em termos de possibilidades de renovação e mudança. Tarso Genro, já no primeiro ano deste mandato, em 2007, apresentou o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), lançado em 2008, criando uma secretaria executiva específica para o programa, vinculada à secretaria executiva do Ministério da Justiça.
200 Alguns autores afirmam que este Programa inaugurou, enquanto iniciativa formal estatal, uma perspectiva de segurança cidadã no país. A seguir, analisaremos suas principais características, percebendo com olhos moderados esta afirmação, bem como as contradições da política de segurança como um todo e o papel deste Programa. Elementos com os quais teremos condições de entender as razões de seu definhamento. A classificação de segurança cidadã passa por entender as diferenças entre os paradigmas da segurança nacional, pública e cidadã. O primeiro se formaliza na realidade brasileira por meio do discurso de combate à subversão política. Ganha delineamentos fortes no período da ditadura empresarial-militar sob a doutrina da segurança nacional, que atribui funções e ideologia bélicas para as polícias, sendo seus quadros forjados desde uma disciplina militarizada – suas ações na corporação e seu comportamento e olhar para o funcionamento da sociedade. É o que os autores abaixo delineiam: A principal orientação em matéria de políticas de segurança no período foi, portanto, a da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento, formulada pela Escola Superior de Guerra (ESG). Essa doutrina foi moldada em torno do conceito de segurança nacional, definido então como a habilidade de um Estado garantir, em determinada época, a obtenção e a manutenção de seus objetivos nacionais, apesar dos antagonismos ou das pressões existentes ou potenciais. Dessa forma, o conceito de defesa nacional estava intimamente associado à defesa do Estado, e esse princípio foi expresso na primeira Constituição promulgada pelo regime militar, em 1967. Em suma, o paradigma de segurança nacional caracterizou-se pela prioridade dada, inicialmente, ao inimigo externo, materializado no combate ao comunismo; e, posteriormente, ao inimigo interno, correspondente a qualquer indivíduo percebido como contrário à ordem vigente (MADEIRA, RODRIGUES, 2015, p. 6).
Em contrapartida, o paradigma da segurança pública, que poderíamos dizer que é o atualmente vigente no Brasil, teria sido formalmente inaugurado com a Constituição Federal de 1988 ao estabelecer a segurança como um direito de toda cidadã e todo cidadão brasileiro e uma responsabilidade estatal e social, prevendo em seu artigo 144 quais seriam as instituições componentes do aparelho de segurança pública estatal. A Constituição Federal também prevê em seu artigo 5º – portanto, como cláusula pétrea – que os crimes de tortura e racismo, dentre outros ali especificados, são inafiançáveis e imprescritíveis. Em algum grau, esta seria uma declaração de afastamento da lógica disciplinar-punitiva-militarizada da doutrina da segurança nacional vigente no período anterior. Neste mesmo sentido, o Ministério Público ganha autonomia e recebe atribuição estratégica enquanto instituição de defesa de direitos difusos e coletivos, bem como longa manus dos interesses da sociedade civil. Do mesmo modo, a Defensoria Pública é prevista constitucionalmente, com a necessidade de ser criada em cada estado da União.
201 Estes elementos demonstram que a Constituição Federal de 1988 buscou, em alguma medida, equipar a sociedade de instrumentos de defesa contra o arbítrio do poder estatal. Entretanto, Lígia Madeira e Alexandre Rodrigues (2015, p. 7) ponderam: Por outro lado, não alterou significativamente os dispositivos legais impostos pelos governos militares para organizar as polícias, que na época eram entendidas como forças de segurança do Estado, e não uma instituição de interesse público. Essas opções tomadas na Constituinte de 1988 contribuíram para que a estrutura de funcionamento montada pelo regime militar no final da década de 1960 se mantivesse quase inalterada. Pode-se afirmar que esse paradigma inova em relação ao paradigma anterior, ao destacar que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. No entanto, na lista de responsáveis pela segurança pública, ela destaca apenas as instituições policiais federais e estaduais, não citando o papel de outras instituições governamentais na prevenção à violência, ou mesmo a importância da atuação dos municípios e da comunidade como um todo.
A herança da ditadura é viva nas estruturas, memórias e entranhas das instituições policiais. Reações como a da Lei das prisões temporárias, aprovada um ano após a Constituição, são importantes demonstrações disso. A título de importante exemplo, esta Lei n. 7960, de 21 de dezembro de 1989, teve um vício em sua própria origem, questionada em sua constitucionalidade, por ser conversão da Medida Provisória n.111 de 1989 (de 24 de novembro de 1989), sendo que matéria penal e processual penal possuem restrições formais para sua regulamentação. À parte disso, ainda que tal elemento revele a pressa – geradora de arbitrariedades – na regulação de seu conteúdo, faz-se importante compreender o seu sentido. A lei temporária, como uma espécie de prisão provisória, pode ser decretada por cinco dias, prorrogáveis uma vez – e quando se tratar de crimes hediondos ou os equiparáveis, como o tráfico de drogas, o prazo inicial será, no máximo, 30 dias, prorrogáveis uma vez –, portanto, é decretável exclusivamente em fase de investigação criminal e tem duas hipóteses de cabimento e uma limitação objetiva. Ela pode ser decretada apenas quando houver elementos de probabilidade de autoria ou participação da pessoa indiciada e apenas nos crimes que são taxativamente expostos no artigo segundo da Lei. Esta seria a limitação objetiva. Quanto às hipóteses, ela ocorreria “quando imprescindível para as investigações do inquérito policial” ou “quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade” (BRASIL, 1989). A primeira hipótese, traduzindo em bom português, significaria que a prisão temporária, apesar de ser uma prisão provisória, dispensaria quaisquer elementos de cautelaridade para sua aplicação, pois não há risco à investigação em decorrência de alguma postura da pessoa indiciada, mas sim a imprescindibilidade da prisão por ser a sua presença
202 física necessária ao bom caminhar das investigações. Isso significa assumir a debilidade investigativa de nossas polícias e, muito mais que isso, o autoritarismo que rege suas condutas profissionais. A Lei 7960/89 é entendida como uma reação corporativa da Polícia Civil diante de uma sensação de cerceamento de seus amplos poderes com a promulgação da nova Constituição Federal. Em resumo, o modelo de segurança pública de 1988 apresenta avanços e continuidades e acaba por gerar uma responsabilidade prioritária dos estados, por ser nesta instância a gestão das polícias civil e militar, corporações historicamente em rivalidade, especialmente em algus estados, que permanecem com plenas autonomias. É neste momento que também se cria a Guarda civil municipal, para proteção patrimonial pública, mas sem poder de polícia. Elemento que até hoje gera reinvindicações desta instituição para que sua competência seja alterada. Com relação ao paradigma de segurança cidadã, ele inspiraria as diretrizes do PRONASCI. O Programa reuniu “um conjunto de 94 ações que envolveram 19 ministérios, em intervenções articuladas com estados e municípios”. A proposta era de uma articulação de política pública para que os membros federados (estados e municípios) pudessem “desenvolver ações de prevenção à violência adaptadas à sua realidade local e com o aporte de recursos da União” (MADEIRA, RODRIGUES, 2015, p. 12). O investimento previsto para a sua realização foi da ordem de R$ 6.707 bilhões até o fim do ano de 2012. Rodrigo Azevedo e Ana Cláudia Cefali (2017, p. 44) classificam dois grandes eixos do Programa: um composto de medidas de caráter estrutural, como aquelas relacionadas às condições do sistema penitenciário e das instituições policiais e outro permeado por medidas territorializadas, de caráter eminentemente preventivo, como a seguir delinearemos, com o objetivo de proporcionar “a garantia do acesso à justiça e a recuperação dos espaços públicos, por meio de medidas de revitalização e urbanização” (AZEVEDO, CEFALI, 2017, p. 44). O PRONASCI, nesta medida, seguiria as diretrizes da segurança cidadã por conceber o fenômeno da violência individual de maneira multifatorial e integrante de uma realidade estruturante de violência. Desde esta concepção, as “soluções” só podem partir de uma priorização de medidas de caráter preventivo, garantidas com políticas públicas especializadas. Em alguma medida, a política de segurança neste período preserva elementos dos Planos Nacionais de Segurança Pública de Fernando Henrique Cardoso, bem como do primeiro mandato do Lula, com o diferencial de aprofundar concepção e princípios e
203 materializar a noção de segurança cidadã, traçando um plano concreto com ações e destinação orçamentária, com ênfase na política de prevenção à violência. O PRONASCI aprofunda a tendência de um maior protagonismo do governo federal e, ao mesmo tempo, uma municipalização/descentralização da política pública, envolvendo protagonismos das regionalidades e comunidades. É a tentativa de consolidação do Sistema Único de Segurança Pública. Já no modelo proposto pelo PRONASCI, a política pública de segurança passa a ser formulada e implementada no modelo bottom-up (de baixo para cima), cuja característica é identificar o problema a ser enfrentado pelo governo local a partir do envolvimento dos mais diversos atores sociais (públicos e privados) tanto na fase de formulação como de implementação da política pública. A ênfase do programa está, assim, na participação do público-alvo, ou seja, as comunidades mais vulneráveis à criminalidade e violência (BATTIBUGLI, 2012, p. 54).
O governo federal lançou o programa, com eixos e delineamentos de ações, bem como com a destinação orçamentária já identificada e reservada. A adesão estadual e municipal se daria voluntariamente. Dados coletados em 2010, dois anos antes do definhamento do Programa, já retratavam mais de 150 municípios e 22 Estados conveniados. O discurso era de ser uma tentativa de garantia de um pacto federativo real. Em nível nacional, a execução se daria por meio de convênios e acordos entre órgãos da administração pública de diferentes esferas e organizações da sociedade civil de interesse público, sob a coordenação do Ministério da Justiça. Aos estados e municípios que aderissem ao PRONASCI, era necessária a criação de Gabinetes de Gestão Integrada (GGI) da segurança pública, uma espécie de escritório unificado, onde as políticas seriam pensadas e definidas através da reunião de representantes de todos os órgãos e instituições envolvidos. Ligia Madeira e Alexandre Rodrigues (2015, p.10) descrevem que seria uma espécie de “fórum executivo que reuniria as polícias de todas as instâncias e, mediante convite, as demais instituições da justiça criminal. As decisões seriam tomadas apenas por consenso, para que se eliminasse o principal óbice para a cooperação interinstitucional: a disputa pelo comando”. A materialização dos CGIs era desafiante, pela dificuldade generalizada de construir políticas públicas transversais no país, mas principalmente na área da segurança. Somado a tais dificuldades, havia também a resistência em se conceber segurança para além da lógica punitivista, pautada nas diretrizes de Lei e Ordem, por parte de alguns setores e em algumas localidades. Como poderemos exemplificar adiante com o caso paulista, muitos estados e municípios aderiam ao Programa com interesses pragmáticos de obtenção da verba para
204 expandir estruturas materiais e de recursos humanos, sem intenção de rever cultural e ideologicamente concepções de segurança. Neste momento, pensamos ser válido compreender mais sobre as previsões e iniciativas dos dois grandes eixos formadores do Programa. Quanto ao primeiro, de caráter mais estrutural das instituições, algumas ações se destacaram mais. Vejamos. Quanto ao dilema histórico da dificuldade de produção de dados, bem como de comunicação das informações entre as instituições, consolidou-se o Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal (SINESPJC). De acordo com o próprio site institucional do IBGE (s/d), o SINESPJC “é uma ferramenta que reúne em um sistema nacional as estatísticas criminais produzidas pelos sistemas / bancos de dados das Unidades da Federação, cuja fonte são os boletins de ocorrências criminais registradas pelas Polícias Civis e Militares das Unidades da Federação. Reúne informações sobre o número de ocorrências, natureza do fato registrado, perfil da vítima, perfil do autor, meios empregados, dentre outras”. O órgão também informa que sua implementação se deu em duas etapas, primeiramente, em 2004, o “Módulo Polícia Civil” e, em 2005, o “Módulo Polícia Militar”. O sistema nacional funciona a partir da ligação com os bancos de dados estaduais. Isto demandou da Secretaria Nacional de Segurança Pública um esforço de diálogos entre órgãos e regiões para que houvesse uma padronização das linguagens, eixos e categorias de cada sistema. A proposta era de que o sistema fosse alimentado mensalmente pelos estados e órgãos e que um anuário fosse publicado – Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Outro ponto de destaque foi a capacitação de profissionais da segurança pública. Para além da já citada estruturação da RENAESP (a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública), também se construiu a Escola Superior da Polícia Federal e houve forte estímulo à formação mais abrangente dos profissionais da segurança pública em diferentes âmbitos. Além da parceria com instituições de ensino para realização de programas de pósgraduação que atendam as especificidades de formação na área – cuja programação era de se formar “até o fim de 2011 cerca de 1.100 tecnólogos e 330 mestres” (ALMEIDA, 2014, p. 43) - também se criou uma rede de educação à distância, com projetos de educação continuada. O estímulo para a participação dos servidores se dava pela concessão de bolsas, denominadas como “Bolsa Formação”. Foram estabelecidos critérios de definição da destinação do orçamento por meio de uma lista de prioridades, nestas estavam o investimento em programas de policiamento comunitário e na qualificação policial por meio do “Bolsa Formação”. Segundo Fabrício de Almeida (2014, p.42), “os policiais militares e civis,
205 bombeiros e agentes penitenciários que receberem até R$ 1,4 mil por mês ganhariam bolsa de R$180 a R$400. Para ser elegível para esse benefício o funcionário público deveria cursar, a cada ano, dois cursos oferecidos pelo Ministério da Justiça”. Ainda dentro deste pacote de valorização profissional de policiais, havia a previsão de construção de moradias, com a regulamentação de um Plano Nacional de Habitação para Profissionais de Segurança Pública. Dentre as pautas de reformas das polícias, havia a necessidade de formação ou fortalecimento de ouvidorias e corregedorias, combate à corrupção policial e criação das leis orgânicas das polícias. Parece-nos que garantir uma formação para direitos humanos às polícias brasileiras pode ser um passo importante no próprio questionamento de suas existências, e não necessariamente o seu reforço, desde que não seja uma formação acessória e destoante da geral e que seja acompanhada de possibilidades concretas de atuação diferenciada – ou seja, que não seja uma formação obrigatória “para inglês ver” –, bem como seguida de medidas descarcerizantes mais amplas. Com isso entendemos que a superação da lógica militarizada de ambas as polícias – civil e militar –, bem como dos agentes penitenciários, deve passar por uma assunção desta responsabilidade por parte daqueles policiais em postos mais subordinados e que são os que carregam, muitas vezes, o peso do “trabalho sujo” a ser feito. Soando perigoso, mas sendo a real complexidade do tema, parece-nos inevitável que pensar a superação destas instituições passa por formar em direitos humanos seus subordinados e atribuir condições mais dignas de trabalho. Continuando nas previsões no Programa, no âmbito da contenção de delitos, a ênfase se deu no controle de rodovias e na campanha nacional de desarmamento, que culminou com a aprovação do Estatuto do desarmamento, conforme abordaremos adiante. Quanto à política “estrutural” para o sistema penitenciário, esta foi proposta desde a promessa do número de vagas. As aspas colocadas se devem justamente à nossa leitura crítica das medidas de aumento de vagas enquanto propostas de resolução do problema da superlotação carcerária. O mesmo que enxugar gelo. Aumentam-se as vagas, aumentam-se os poros a serem entupidos pelas sanhas punitivas das instituições que efetuam criminalização secundária. A previsão por meio do PRONASCI era de até 2011 criar cerca de 41 mil novas vagas em presídios masculinos e 5,4 mil em presídios femininos (com 256 por presídio, ao custo de R$ 7 milhões), abarcando inicialmente 11 regiões metropolitanas (ALMEIDA, 2014, p. 41).
206 Quanto ao eixo preventivo do programa, ele se constrói desde a implementação de ações específicas para a localidade e seus conflitos, tendo em conta suas carências e potências, sendo sempre o público-alvo os jovens que se encontrem em alguma situação de vulnerabilidade social, egressos do sistema socioeducativo ou prisional, em situação de rua ou em circunstâncias que envolvam violência doméstica. De acordo com os autores, “o PRONASCI foi implementado com mais peso em 11 regiões metropolitanas, sendo elas: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Maceió, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória” (MADEIRA, RODRIGUES, 2015, p. 14). São alguns os projetos temáticos concebidos pelo Programa para implementação nos bairros e municípios, porém as iniciativas de materialização destes projetos não se generalizaram, tendo servido, ao fim e ao cabo, como projeto piloto de uma proposta de segurança cidadã. Um deles era o “Territórios da Paz”, aplicado nas regiões demonstradamente com maior número de homicídios. Tratava-se de uma reforma urbanística e social, com a efetivação de reformas que passavam desde saneamento básico, espaços de lazer, até plano de construção de núcleos de justiça comunitária, com capacitação de pessoas para mediação de conflitos. As Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) não são equivalentes aos “Territórios da paz”, mas surgem neste mesmo contexto, desde pressupostos aparentemente semelhantes, mas com prioridades outras, geradoras de resultados ainda mais preocupantes. Fruto do momento no qual o Rio de Janeiro ganha ainda maiores holofotes com a definição do Brasil como sede da Copa do Mundo (final de 2007) e da “cidade maravilhosa”, especificamente, para as Olimpíadas (final de 2009). A primeira Unidade de Polícia Pacificadora se instalou em dezembro de 2008, no morro Santa Marta, em Botafogo, e depois se generalizou para outros morros – sustentando mais de 38 unidades e englobando quase 10 mil policiais militares –, com ênfase aos pertencentes a regiões e cenários propícios à especulação imobiliária e aos interesses da indústria do turismo. Em certas favelas a ocupação pela UPP era antecedida de uma ocupação das Forças Armada, o que demonstra o seu caráter de militarização de territórios, controlando, pela via policial, o cotidiano da vida desta parcela populacional. O ápice da tragédia de consolidação deste projeto se deu com a ocupação do “Complexo do Alemão”, em 2010, com apoio das Forças Armadas, em um espetáculo midiatizado, muito bem orquestrado entre os grandes
207 veículos de comunicação e o poder público. Vera Malagutti Batista, uma das primeiras a denunciar que o projeto das UPPs não se tratava de uma forma arrojada de polícia comunitária, descreve abaixo as origens de iniciativas deste tipo: É importante esclarecer que o projeto não é nenhuma novidade, faz parte de um arsenal de intervenções urbanas previstas para regiões ocupadas militarmente no mundo a partir de tecnologias, programas e políticas norte-americanas que vão do Iraque à Palestina. No caso, o projeto de Medellín, foi este o paradigma. (...) Governador e Prefeito para lá marcharam, sempre com os sociólogos de plantão, trazendo para o Rio de Janeiro um pacote embrulhado na “luta contra o crime”, sem que se percebesse que era um projeto de ocupação territorial apoiado pelo governo norteamericano contra a histórica guerrilha colombiana que chegou a ter 40% do território colombiano sob seu controle (BATISTA, 2014).
As UPPs são a expressão do controle estatal, pela via repressiva, do cotidiano da vida de grupos populacionais. Amarildo Dias de Souza, pedreiro, 46/47 anos encontra-se desaparecido desde o dia 14 de julho de 2013, tendo sido visto pela última vez na favela da Rocinha, onde morava desde o nascimento e nunca mais encontrado após ter sido conduzido por policiais desde a sua casa até a Unidade de Polícia Pacificadora do próprio bairro. Na data ocorria uma operação especial da polícia após o anúncio da ocorrência de um arrastão pelas redondezas. O argumento, tão frágil e denunciante da desvalorização da vida do sujeito fabricado “traficante”, foi de que a polícia teria confundido Amarildo com um traficante com ordem de prisão. Amarildo é mais um desaparecido da democracia e seu caso chacoalhou os “cidadãos de bem” que encontravam justificativas humanistas para a experiência da Unidade de Polícia Pacificadora. Ao contrário das UPPs, os projetos idealizados pelo PRONASCI priorizavam o acesso a direitos e não as medidas eminentemente repressivas, o que não os isenta de contradições, como a seguir apontaremos. O “Territórios da Paz” era acompanhado de projetos com ênfase nos jovens e nas mulheres que estão em situação de violência ou na iminência de. O primeiro deles é o Protejo (Projeto de Proteção dos Jovens em Território Vulnerável), que, em contrapartida ao oferecimento de uma bolsa a este adolescente ou jovem, exigia-se a participação em uma quantidade de horas de oficinas dos temas mais relevantes para uma “formação cidadã”. Lígia Madeira e Alexandre Rodrigues (2015, p. 15) detalham abaixo, a partir de experiências concretas: (...) que prestou assistência, por meio de programas de formação e inclusão social, a jovens adolescentes expostos à violência doméstica ou urbana ou que vivam nas ruas. O trabalho teve duração de um ano, prorrogável por mais um, e teve como foco a formação da cidadania desses jovens por meio de atividades culturais, esportivas e educacionais que visassem a resgatar sua autoestima e permitir que eles
208 disseminassem uma cultura de paz em suas comunidades. Para desenvolver esse trabalho, o Protejo deu atenção ao jovem nas suas dimensões individual, familiar, comunitária e social, proporcionando-lhe uma formação integral e facilitando sua inclusão social
Nos primeiros dois meses de participação nos projetos não se exigia a obrigação de matrícula escolar, porém, segundo a autora e o autor, o intuito era de que: ao longo da sua participação no Protejo, o jovem deveria construir o seu percurso social formativo, que foi possibilitado pela oferta, por parte do poder público, de uma série de oportunidades para o jovem envolver-se com o ensino formal, inicialmente através do acesso aos Telecentros para a inclusão digital, os Pontos de Leitura e Pontos de Cultura, chegando aos programas mais abrangentes, como o Brasil Alfabetizado, o Proeja e o Projovem, além de cursos preparatórios para o Enem e o ProUni (MADEIRA, RODRIGUES, 2015, p. 16).
Complementarmente ao Protejo, houve a formulação de outros projetos para a juventude, como o projeto Farol, concebido em parceria com a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, destinado a jovens negros, em especial aqueles expostos diretamente à violência, por aplicação de uma medida socioeducativa ou por serem egressos do sistema prisional. O projeto se voltava à formação pedagógica e para o trabalho, buscando também formar multiplicadores da iniciativa em seus locais de moradia. Outro projeto aliado a estes era o “Reservista cidadão” que previa processos formativos aos jovens alistados no serviço militar, em decorrência do aprendizado no manuseio de armas de fogo, sendo especiais destinatários de ofertas de envolvimento no tráfico. Por fim, outra frente componente destas ações de segurança, de promoção de acesso a direitos, era a “Mulheres da Paz”, que, também por meio de um auxílio financeiro, visava formar mulheres lideranças em suas comunidades, capazes de atuar como mediadoras junto aos jovens em situações de maior vulnerabilidade. Por detrás o projeto visava o fortalecimento destas mulheres e o estímulo ao alcance de sua autonomia financeira, e era acompanhado da previsão de construção de Centros de Educação e Reabilitação para Agressores, além da criação de juizados especializados e Delegacias de Atendimento à Mulher nas localidades. O Programa, portanto, era essa combinação entre investimento nas polícias, em sua estrutura, mas especialmente em sua formação; melhoria das condições do sistema prisional, passando centralmente pela sua ampliação; combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas; e garantia de efetivação de uma série de projetos de acesso a direitos e melhorias das condições de vida nos territórios cujas vidas se encontram em maior condição de vulnerabilidade.
209 Este combo resultava em um maior protagonismo do governo federal na condução das políticas, sendo uma espécie de mediador, envolvendo as localidades na construção de suas específicas respostas, desde o poder público municipal até membros das comunidades e organizações sociais, mas sendo o gerenciador dos processos. Deste breve panorama nos questionamos: Seria a reunião de tais perspectivas díspares compatível com a intencionalidade de ruptura de paradigmas? Até que ponto houve superação do paradigma punitivo? Por força da secular seletividade estrutural dos sistemas de justiça penal e de segurança pública nas sociedades capitalistas, traduzida no controle e na criminalização das condutas individuais “visíveis” contra o patrimônio e secundariamente contra a vida, visíveis, sobretudo à ação policial (primeiro filtro de ambos os sistemas), “a” criminalidade foi sendo identificada e construída como a criminalidade de rua, ou seja, como a criminalidade da pobreza (dominantemente masculina e não branca) e a ela simbólica e institucionalmente reduzida. Consolidou-se, assim, seletivamente, uma identificação da criminalidade com “a” criminalidade dos baixos estratos sociais (dominantemente recortada pela seletividade de gênero e racial), a qual, amalgamada com a ideologia da periculosidade e dos sujeitos e/ou grupos perigosos, acabou por estabelecer uma identificação com “a” violência, fazendo este conceito se subsumir integralmente naquele (ANDRADE, 2013, p. 339-340).
Com isso, o que Vera Regina Andrade (2013, p. 340) intenta demonstrar é que a perpetuação da noção de garantia da segurança pela manutenção da “ordem” e contra a dita “criminalidade” pode não ser compatível com a noção de segurança dos direitos, pois a primeira perspectiva necessariamente se pauta na ideia de “bem” versus “mal”, o que muito provavelmente colocará a segunda em xeque ou, ao menos, subordinar as políticas de acesso a direitos à de controle sóciopenal de novo tipo, como se a extensão destes direitos para a parcela da população mais vulnerável ocorresse não pela busca por vida digna, mas devido a uma probabilidade criminógena a ser evitada. Como Vera Andrade (2013, p.340) define, “a assistência não aparece como devida em função do dever estatal de prestação de segurança a cidadãos marginalizados nos seus direitos, mas em função do dever de prestação de proteção da sociedade contra criminosos potenciais”. Portanto, somar as ações preventivas às repressivas como a estas subordinadas, com o fim de garantir a segurança e a proteção do “outro” não possibilita uma ruptura paradigmática. Esta seria a linha bamba, caso a proposta do PRONASCI fosse até as últimas consequências do que se propôs, mas seu tempo de existência foi breve demais para tal balanço, a corda afrouxou antes da sua tentativa de travessia. Continuando
o
balanço
desta
política,
como
parte
desta
concepção
de
compartilhamento na produção de uma política pública de segurança, realizou-se, em 2009, a
210 Conferência Nacional sobre Segurança Pública, uma experiência seguramente marcante nesta busca por calcar bases de uma nova concepção paradigmática de segurança. Segundo Thaís Battibugli (2012), a Conferência foi a primeira experiência de planejamento da segurança pública do país envolvendo o poder público (30% poder público mais amplo e 30% trabalhadores da segurança pública), pesquisadores e a sociedade civil organizada (40% dos participantes). Contou com mais de 224 mil pessoas participando. Foi a partir deste encontro que se criou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quando dos atos preparatórios para a Conferência Nacional de Segurança Pública foram definidos sete grandes eixos de debate da mesma, sendo eles: 1. Gestão democrática: controle social e externo, integração e federalismo; 2. Financiamento e gestão da política pública de segurança; 3. Valorização profissional e otimização das condições de trabalho; 4. Repressão qualificada da criminalidade; 5. Prevenção de criminalidades e violências e construção da cultura de paz; 6. Sistema penitenciário; 7. Sistema de prevenção de catástrofes, acidentes e atendimentos emergenciais. A breve análise de seus eixos programáticos revela a convivência de conteúdos binários de violência e criminalidade, presentes, por exemplo, nos eixos 4 e 5, com a ideia de cultura de paz também expressa no eixo 5. Trata-se da dificuldade malabarística de conciliar o inconciliável. Este parece ser o ponto-chave para a reflexão sobre a importância desta iniciativa do PRONASCI em nosso história de truculência no campo da segurança pública, entretanto, por outro lado, observando os perigos destas inovações caminharem pari passu com a manutenção – mais do que isso, o fortalecimento – da Guerra às drogas, acompanhada de outros processos de inflação penal, assim como a desistência de se tocar no calcanhar de aquiles das polícias, como sua democratização interna e externa. A inovação da incorporação preventiva na política de segurança, se garantida através de dualismos tipicamente etiológicos, poderia significar um colonialismo, uma captura da política social. O trecho seguinte é parte das dez propostas que Vera Andrade (2013, p. 351-352) realiza enquanto contribuição sua à Conferência Nacional de Segurança Pública, da qual foi participante em diferentes etapas: Segurança deve ser dissociada do adjetivo pública e de segurança contra essa criminalidade para ser concebida como um direito social de qualquer pessoa. f) Agregar políticas sociais preventivas às políticas criminais repressivas (binarismo positivista), aplicando o marco conceitual e ideológico do paradigma bélico sem problematizar seus conceitos fundantes implica uma grave distorção das políticas
211 sociais em políticas criminais (e, consequentemente, das funções estatais). As políticas (sociais) que deveriam ser instrumentalizadas pelo Estado social a todos os sujeitos, pela condição de serem igualmente humanos (princípio da isonomia) e titulares de direitos constitucionalmente reconhecidos, passam a ser instrumentalizadas pelo Estado penal como políticas criminais e de segurança, para a prevenção da criminalidade a partir do mapeamento, aprioristicamente estigmatizante, de territórios de risco porque nele habitam sujeitos potencialmente criminosos. Os direitos não são instrumentalizados segundo o princípio da proteção integral dos direitos humanos, mas segundo o princípio da proteção seletiva das vítimas potenciais. g) Prevenir criminalidade com políticas sociais implica criminalização das políticas sociais e distorção do Estado social pelo Estado penal; implica converter a luta social contra a pobreza em luta preventivo-penal contra os pobres. h) Este prevencionismo nada tem de novo porque continua operando com o velho conceito de criminalidade (estereotipante e estigmatizante) utilizado para mapear a priori e seletivamente qual criminalidade e quais sujeitos devem ser objeto de repressão, qual vitimação deve ser objeto de prevenção. i) Um novo paradigma de segurança como direito social (segurança do ser humano combinada com segurança da coletividade) deve libertar-se do paradigma repressivo (da segurança contra a criminalidade, de mapeamento desta criminalidade) para se basear num paradigma de segurança do conjunto dos direitos humanos, sem distinção, a priori, de potenciais criminosos e potenciais vítimas; ou seja, deve basear-se numa política integral de proteção de direitos, na qual o momento penal e, sobretudo, prisional seja cada vez mais mínimo e residual, e, por ora, reservado para o exercício da violência contra a pessoa. j) As políticas sociais devem operar, nesse sentido, como um dos mecanismos de realização do bem “segurança” para todos
Por fim, acreditamos que não seja possível concluir que havia uma impossibilidade incondicional de concretização de um novo paradigma a partir do PRONASCI, pois não houve qualquer possibilidade de enraizamento. O PRONASCI nos parece ser a única experiência diferenciada do PT na área, ainda que com elementos conflitantes e limitados, porém definhou em seu quarto ano de implementação. De qualquer modo, ficamos com a precisa definição de Vera Malagutti Batista de que segurança pública só pode conter alguma perspectiva liberalizante e garantidora de direitos se for fruto “de um conjunto de projetos públicos e coletivos que foram capazes de gerar serviços, ações e atividades no sentido de romper com a geografia das desigualdades no território usado. Sem isso não há segurança, mas controle truculento dos pobres e resistentes na cidade” (BATISTA, 2014). Ademais, como poderemos nos ater em tópico especificamente destinado a isso, existe uma ilogicidade que permeia todas essas supostas alternativas, qual seja a impossibilidade de se eliminar as decorrências do tráfico enquanto a proibição for vigente. Isso quer dizer que nunca será suficiente a implementação de projetos sociais como estes enquanto vivermos em uma sociedade que prevê em si – e cada vez mais – uma força de trabalho excedente e que combina isso com a proibição das drogas. Soma-se isso ao papel brasileiro na geopolítica das
212 drogas e o resultado é a existência de um exército de trabalhadores para o tráfico disponível. E isso significa que, enquanto for proibido, demandará discursos moral, médico, jurídico e bélico que legitime sua proibição, significando policiamento treinado para sua contenção/combate e vidas jovens negras valendo pouco, muito pouco, quase nada.
3.3.2 Quando o inconciliável desponta: elementos explicativos do definhamento do PRONASCI
Passemos agora a avaliar as críticas do “insucesso” do Programa. Ligia Madeira e Alexandre Rodrigues (2015, p. 10) descrevem abaixo qual era o plano original do governo federal: (...) negociação com o Banco Mundial e o BID, tencionando um aporte a juros subsidiados de US 3,5 bilhões, por sete anos. O Fundo Nacional de Segurança seria aceito pelos credores como a contrapartida do governo federal. Também competiria ao governo federal enviar ao Congresso Nacional a emenda constitucional da desconstitucionalização das polícias e, como matéria infraconstitucional, a normatização do Sistema Único de Segurança Pública. Uma vez endossados os termos do acordo com os 27 governadores, o presidente os convocaria para a celebração solene do Pacto pela Paz, reiterando politicamente o compromisso comum com a implantação do Plano Nacional de Segurança Pública.
Referido plano não se efetivou. Os motivos declarados por alguns estudiosos que acompanharam o desenrolar do tema foram no sentido de que sua execução determinaria o maior protagonismo e, por consequência, maior responsabilização do governo federal. Dizendo em outros termos, mexer no vespeiro que é a reformulação de um projeto de segurança para o país poderia desestabilizar parceiros, bem como provocar ânimos indesejados e possivelmente prejudiciais ao seu projeto de reeleição. A proposta de desconstitucionalização das polícias e constituição do SUSP 29, por exemplo, demandaria um esforço muito grande de coadunação de interesses das corporações mais intocadas no processo democrático, como tanto já anunciamos. Ademais, outro elemento sopesado pelos estudiosos do Programa como elemento no mínimo delicado é que, comparado com as políticas anteriores, o Pronasci se apresenta como 29 A proposta de desconstitucionalização das polícias passa pela ideia de poderem ser pensadas sob diferentes modelos, em cada estado, de acordo com suas especificidades, ainda que seguindo exigências mínimas estabelecidas em lei infraconstitucional. Aqueles que a defendem raciocinam desde a importância de se instituir um ciclo comum formativo entre elas, bem como a própria possibilidade de unificação institucional.
213 um programa muito mais centralizado, o que atribui mais delicadeza nas relações intergovernamentais e interinstitucionais. Querendo ou não o programa apresenta uma perspectiva bem diferente de funcionamento de um mero fundo financeiro, pois “serve e atua por meio de órgão ou unidade orçamentária (Ministério da Justiça), condicionando através de seu acervo político-programático as definições e limites nos quais se dará a dotação e/ou transferência dos recursos destinados anualmente às ações do Programa” (ALMEIDA, 2014, p. 29). Outra ponderação passou pelo envolvimento de muitos ministérios, estrutura complexa para um funcionamento historicamente burocrático e setorizado do serviço público brasileiro. Rodrigo Azevedo e Ana Claudia Cifali (2017, p. 45) trazem outros elementos para o balanço do Programa: Apesar dos avanços na concepção do plano e na vinculação das propostas e programas aos recursos para sua implementação, os resultados foram bastante fragmentados e dispersos, levando à identificação, pelos balanços realizados, de problemas relacionados com o pouco espaço para o questionamento das soluções apresentadas, com a pura e simples adesão dos municípios parceiros, a falta de mecanismos adequados de monitoramento das políticas e o abandono da agenda da reforma estrutural das organizações da segurança pública .
Quanto aos resultados fragmentados e dispersos citados acima, o Programa colocou em evidência a falta de estrutura dos municípios e de acúmulo de gestão para políticas desse tipo, desde formação de servidores até pessoal capacitado e habilitado para o cumprimento de certas funções. O fato é que, com a implementação do Programa, essas dificuldades locais se aprofundam, pois os municípios mais estruturados e experientes na gestão de políticas públicas desta complexidade “conseguiam cumprir os prazos para o envio de projetos, ao passo que outros não obtinham o mesmo sucesso. O grande problema desse fenômeno é que alguns dos municípios com mais dificuldades administrativas são também os mais carentes de recursos, mantendo-se assim um círculo vicioso” (MADEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 17). Isso somado a simpatias e antipatias dos grupos políticos locais junto ao federal também foram determinantes para o sucesso ou não das medidas. O Rio de Janeiro, como anteriormente anunciamos, recebe a verba e implementa uma política distorcida via UPPs. Segundo estudiosos, Minas Gerais não adere ao PRONASCI “optando por investir em ações próprias, como o programa Fica Vivo, voltado à redução dos homicídios no estado” (MADEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 17). O Rio Grande do Sul é o típico exemplo de resistência, a depender dos grupos que prevalecem no poder, pois durante a
214 gestão de Yeda Crusius não investiu no Programa e depois com Tarso Genro, a partir de 2010, fez uma sua versão regionalizada. O exemplo de São Paulo merece destaque. Conforme apontado ao final do segundo capítulo, pensar a política criminal brasileira no período estudado e ignorar o impacto do estado de São Paulo é um erro grande. Quando nos propomos a compreender o papel das gestões do Partido dos Trabalhadores, em seu impacto nas transformações e perpetuações das relações sociais no país, mas especialmente na concepção e construção de uma política criminal anti-neoliberal (ou não – é o esforço de busca por compreensão e balanços teóricos deste período), faz-se importante cotejar as relações da política PSDBista com a instância federal neste processo. Thaís Battibugli (2012) realizou em seu estudo já mencionado buscando avaliar o impacto dos programas federais em São Paulo. Surpreendentemente, o estado e os municípios paulistas aderiram ao Programa e receberam verbas do PRONASCI. Para a autora, é possível afirmar que houve uma mudança na matriz de compreensão da política de segurança pública no país desde o início dos anos 2000 e que o PRONASCI seria o enraizamento disso. O que buscará atestar em seu trabalho é se a adesão ao Programa pelo estado de São Paulo poderia ter significado uma consequente mudança de perspectiva no seu trato do tema da segurança pública. Segundo ela, “em 2008, do total de recursos do PRONASCI, 72% foram repassados aos Estados, 26% foram diretamente aos municípios e 2% à federação. O estado de São Paulo recebeu 10% do total de recursos do PRONASCI e o Distrito Federal, 30%”. (BATTIBUGLI, 2012, p. 58). Foram mais de 22 municípios envolvidos no estado. De modo geral, ela afirma que “os Estados não estariam abertos a reformas institucionais mais amplas do setor policial, mesmo ao aderir ao programa” (BATTIBUGLI, 2012, p. 55). Como uma herança histórica, a autora afirma que não há investimento do governo paulista em reestruturação dos órgãos de segurança, desde a perspectiva de enfrentamento à corrupção interna, aprimoramento de serviços de inteligência e formação dos profissionais. O “investimento” sempre se destina em mais operadores e mais equipamentos – mesmo quando o orçamento para a área apresenta saltos impactantes. O que ela percebe desde sua observação é que com a adesão ao PRONASCI isso não foi diferente, sendo a verba destinada especialmente para aquisição material, pouco se alterando a cultura policial ou se destinando verbas para os programas do eixo preventivo do Programa.
215 Para Battibugli (2012), os anos 2000 intensificaram a existência de dois polos na polícia paulista, com nítido desnível de priorização oficial. Por um lado, a existência do policiamento comunitário, por outro a sustentação do “padrão Rota” de agir, e no meio dos dois, a perpetuação de fragilidades e precarizações no trabalho ostensivo mais generalizado. Maio de 2006 foi um mês muito marcante na história recente da segurança paulista, com ataques orquestrados do PCC, especialmente na região metropolitana, com assassinato de policiais e ataques a bases e postos policiais. A sinalização oficial era de que tais ataques, que se iniciaram com motins nas unidades prisionais, seriam uma resposta da transferência de mais de 700 pessoas para uma unidade de segurança máxima, dentre eles “Marcola”, líder do PCC. Entretanto, estudo denominado realizado pela ONG Justiça Global e pela Clínica Internacional de Direitos Humanos de Harvard demonstrou que os ataques correspondiam a uma resposta do PCC à corrupção policial e carcerária. O primeiro ataque ocorreu em 12 de maio e resultou em mais de vinte mortes de policiais. Segundo notícias à época, “essa onde de ataques, promovida por agentes do estado e integrantes do PCC, deixou 564 mortos e 110 feridos entre os dias 12 e 21 de maio. As mortes não ocorreram em confrontos, foram execuções” (CRUZ, 2016). A resposta aos ataques do PCC se apresentou como uma retaliação desproporcional e preocupante de agentes do Estado e grupos de extermínio. Informações baseadas em um relatório sobre os ataques, do Laboratório de Análises da Violência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 2009, indicam que “505 mortos foram civis e 59 eram agentes públicos. Conforme o estudo, há indícios de participação de policiais em 122 execuções” (CRUZ, 2016). Uma resposta de máxima truculência e desproporcionalidade. Nos dois primeiros dias dos ataques, 33 agentes públicos e 51 civis morreram. Nos dias seguintes, quando ocorreu a chamada “onda de resposta”, 26 agentes públicos e 454 civis foram assassinados. Oito em cada dez vítimas assassinadas nesses ataques eram jovens de até 35 anos. A quase totalidade era do sexo masculino (96% do total) e mais da metade eram negros e pardos. E apenas 6% das vítimas tinham algum antecedente junto à Justiça. Relatório da Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, ligado à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, apontou que em 60% dos casos, as vítimas foram baleadas na cabeça, indicando execução sumária, sem confrontos entre agentes e facções. Um relatório preliminar feito pela comissão ainda em 2006 apontava que 82 crimes cometidos no período eram de autoria desconhecida e apresentavam indícios de execução. Já em relatório parcial feito pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), também em 2006, apontou que 431 vítimas tinham sido atingidas por disparos a longa distância (87,42 % dos casos), 51 por disparos a curta distância e 11 por disparos encostados ao corpo. A análise também constatou que 2359 tiros foram disparados contra 493 vítimas (CRUZ, 2016).
216 Deste massacre, cuja brutalidade passa tão pouco percebida em nossa história recente, surgiu o Movimento Mães de Maio, composto por mulheres – mães e outros familiares – que coletivizaram seus lutos e os transformaram em luta – contra o Estado genocida, em denúncia deste episódio e de outros assemelhados – e em vigilância, para que não mais aconteça. O fato é que entre estes últimos ataques em 2006 e sua repetição em junho de 2012, houve uma longa “trégua”. O governo paulista, à época, recusou o apoio do governo federal e não se sabe exatamente quais foram os termos da negociação, o que se notou foi apenas que os conflitos se estabilizaram por uma significativa jornada. Houve um declínio considerável nas taxas de homicídios neste período, algo como uma “trégua” entre polícia e PCC. O massacre de maio de 2006 revelou que a herança do Carandiru se perpetua. A Polícia Militar de São Paulo se fortaleceu e foi priorizada pelo governo durante a ditadura, quando sua função estava muito centrada no combate aos militantes que se opunham ao regime. De lá para cá, manteve sua estrutura militarizada, com sua hierarquia acachapante e uma ideologia de “lei e ordem” norteadora da ação de seu corpo policial, muitas vezes instrumentalizada pela própria precariedade de formação e reciclagem. De lá para cá, continuou sendo priorizada pelo governo paulista, em comparação com a polícia civil, sendo perene a rivalidade entre as duas instituições. De lá para cá, a Rota – Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar –, “pelotão” de elite paulista, continuou sendo prestigiada: Rota foi criada em 1970 para realizar policiamento ostensivo, durante o auge da repressão da ditadura; notória pelas execuções sumárias, ainda hoje é caracterizada pelas abordagens violentas. Entre 2007 e 2011 a letalidade do batalhão da Rota aumentou 78%. O batalhão representa menos de 1% do efetivo da PM, mas responde por cerca de 14% dos 2.200 casos de “resistência seguida de morte” da PM. Utilizada para policiamento, principalmente, nas regiões consideradas mais perigosas e mais vulneráveis, é vista como a “tropa de elite” da polícia paulista, bem equipada e armada. (BATTIBUGLI, 2012, p. 60).
Isso significa que, ainda que São Paulo não tenha negado o PRONASCI, não houve intencionalidade de implementar suas frentes em busca de uma mudança na cultura policial no estado. Conforme afirma Battibugli (2012, p. 67), conta-se com policiamento comunitário, assim como existem projetos de cunho social envolvendo os órgãos da segurança pública, porém “tais iniciativas não geram condições para que essas práticas e valores sejam disseminados por toda a corporação e que passe a fazer parte da cultura policial paulista, por exemplo, como modelo predominante de policiamento”. Estas são práticas residuais, o prevalente é “a alta letalidade da ação policial, acompanhada de corporativismo e de irregularidades que, muitas vezes, inviabilizam a investigação de casos suspeitos” .
217 Feitos alguns destes balanços acerca do enraizamento do Programa nos estados, outro ponto frágil destacado pelos estudiosos do tema se refere à dramática falta de monitoramento. Segundo Fabrício Almeida (2014), houve a tentativa de funcionamento de um programa formulado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), denominado como Sistema de Monitoramento e Avaliação do PRONASCI (SIMAP10), gerido em cooperação desta com o Ministério da Justiça. A experiência não foi suficientemente exitosa, gerando, inclusive, parecer do TCU apontando irregularidades na execução de alguns dos projetos componentes do PRONASCI (CRUZ, 2016). A dificuldade de monitoramento se somou às dificuldades de execução da política nas localidades, conforme desenvolvemos anteriormente. Tais dificuldades, desde a nossa percepção, não se relacionam a falhas exclusivas do PRONASCI, mas sim aos desafios inerentes à materialização de políticas públicas deste porte no país. Dito isso, qual foi o real impacto do PRONASCI na política de segurança pública neste período? Ele foi de fato uma prioridade? Um estudo que traz algumas pistas importantes sobre estas questões é o de Fabricio Bonecini de Almeida (2014), em sua dissertação de mestrado, quando pode analisar as Leis orçamentárias, de 2008 a 2013, especialmente focado no orçamento do Pronasci, bem como nos valores efetivamente empenhados, disponibilizados em planilha para acesso público pela STN e pela SIAFI (CRUZ, 2016). Esta análise do orçamento e de seu empenho é importante, pois reflete a noção de orçamento autorizativo, que não necessariamente será realizado. Portanto, observar o empenho revela também sobre a capacidade de execução da política. O autor demonstra que o orçamento total da União, autorizado e empenhado, em 2008, foi de R$12,3 trilhões e em 2013 da ordem de R$10,1 trilhões, com uma média de execução de 80% dos recursos disponibilizados. Afirma também que houve um aumento significativo para a segurança pública de modo geral, entre os anos de 2000 e 2009. Fabricio Almeida (2014) realiza um comparativo entre os orçamentos de saúde e educação com o de segurança – do orçamento e seu empenho – para fins de compreensão da sua proporção, bem como, em um segundo momento de seu trabalho, analisa as características do orçamento específico do PRONASCI dentro do geral da segurança pública. Assim, revela-nos que os orçamentos de saúde e educação juntos representam de 3 a 4 % do orçamento da União. Entre os anos de 2008 a 2013, o quantum destinado à saúde teve um crescimento anual de 11, 6 bilhões e da educação deu um significativo salto de 31,7
218 bilhões para 89,8 bilhões, o que, segundo o autor, “representou uma média de 1,93% do total do orçamento federal para aproximados 3,8%” (ALMEIDA, 2014, p. 58). Quanto à segurança pública, delineia que o orçamento foi de R$63,4 bilhões neste mesmo período entre 2008 e 2013, “com capacidade de execução de cerca de 82%, o que significou cerca de R$52,1 bilhões empenhados pelo governo federal no período. Esse valor correspondeu a aproximados 0,52% do orçamento total da União no período mencionado” (ALMEIDA, 2014, p. 58). E complementa: Os dados relativos à função segurança pública apontam para um aumento considerável tanto nos valores autorizados, quanto nos valores empenhados, de 2008 à 2013. No entanto, o percentual relativo ao orçamento da União comporta-se de maneira mais ou menos estável, variando entre 0,52% em 2009 e 0,48% em 2013. Além disso, a capacidade de execução da segurança pública é mais baixa em todos os anos apresentados, se comparados aos dois outros orçamentos federais, da saúde e da educação. (ALMEIDA, 2014, p. 58)
Fabricio Almeida demonstra que o orçamento específico do PRONASCI representou 10% do orçamento da segurança pública, com empenho na ordem de 64%. Entretanto, com diferenças significativas nos períodos, sendo que entre 2012-2013 o empenho médio foi de 35%, enquanto no ano de 2009 foi de 95,6%. Importante constar que foi em 2011 que se extinguiu a Secretaria executiva do PRONASCI, sediada na secretaria executiva do Ministério da Justiça. A percepção de definhamento do programa desde então, apresentada algumas páginas atrás, passa a ser reforçada com a análise orçamentária. E complementa esta análise: É interessante notar que cerca de 72,3% dos aproximados R$5,4bilhões empenhados pelo Pronasci, de 2008 a 2013, foram empenhados nos três primeiros anos, de 2008 à 2010(Tabela 7). O último terço da política, os anos de 2012 e 2013, respondeu por cerca de 12,3% do total de recursos empenhados por meio do programa. O último ano analisado respondeu por apenas cerca de 2,3% empenhado pela política, demonstrando seu definhamento na reta de final sua existência (ALMEIDA, 2014, p. 61).
O PRONASCI representava apenas 10% do valor total do orçamento da segurança pública, porém, mais do que isso, era importante que se analisasse os orçamentos destinados a cada subfunção do mesmo. No período total da política – 2008 a 2013 – constatou-se que a maior concentração da destinação orçamentária se deu nas subfunções policiamento, formação de recursos humanos e de custódia e reintegração social, resultando no fato do “fortalecimento das instituições de segurança pública, assim como de seus agentes responderem por mais de aproximadamente
219 76% dos recursos destinados ao PRONASCI pelo orçamento público federal” (ALMEIDA, 2014, p. 71). Notou-se, ademais, que parcela significativa deste orçamento, desde 2011, foi destinada à política de segurança nas fronteiras, expressando uma alteração de prioridades. Em contrapartida, o que a análise dos dados revelou ao pesquisador foi que as políticas sociais e de prevenção da violência doméstica e urbana obtiveram uma parcela orçamentária significativamente inferior. Esses cerca de 76% representam aproximadamente R$4,1 bilhões em 6 anos de PRONASCI. Por outro lado, o percentual restante ligado às políticas de prevenção da violência, à assistência social e suporte às vítimas em potencial de violência doméstica e urbana, assim como a parte de administração e comunicação do PRONASCI, responderam nos 6 anos analisados da política, cerca de R$1,3 bilhões para a realização de todas as suas ações (ALMEIDA, 2014, p. 77).
Portanto, todos os vieses de balanço do PRONASCI até aqui elencados apontam para a seriedade que é uma afirmação sobre a construção de outro paradigma de segurança. Podemos afirmar que, desde a nossa perspectiva, tratou-se de um Programa que, corajosamente, trouxe pistas das dificuldades políticas e institucionais que existiria caso a tentativa de ruptura paradigmática ocorresse. Mas esta só seria possível se o programa de segurança cidadã significasse a totalidade do programa de segurança pública, bem como se, absolutamente, fosse acompanhado de uma mudança profunda nas polícias – com a reestruturação, a formação prioritária em direitos humanos, a possibilidade do ciclo completo e a desmilitarização – e mudanças legislativas fundantes para o desencarceramento, especialmente no tocante à criminalização da venda e do uso de drogas.
3.3.3 Quando a balança pesa mais ao lado dos interesses do capital: os governos Dilma Roussef e as tendências da política de segurança pública
Muito anunciamos até o momento que o PRONASCI foi perdendo o fôlego e que isso estava relacionado a um abandono de qualquer tímida iniciativa de mudança. Este processo coincidiu com a eleição de Dilma Roussef à presidência. Mesmo antes dela, pode-se afirmar que boa parte das iniciativas de caráter mais estrutural entram em xeque quando as alianças vão se tornando mais espúrias e os princípios mais relativizados. A aliança com o PMDB – atual MDB – enrijecida neste momento garante
220 a maioria no parlamento, tendo como custo o abandono de propostas em algumas temáticas, aqui focadas na questão da segurança pública. Dilma Rousseff “assume o governo com 373 deputados aliados (contra 111 da oposição) e 62 senadores (contra 18 da oposição), mas sem unidade programática que permitisse levar adiante a já arquivada agenda de reformas” (AZEVEDO, p. 46). Como consequência, os Planos de Segurança Pública a cada ano vão se tornando mais despropositados e tímidos. Dilma Rousseff desvaloriza o PRONASCI e enfatiza investimentos financeiros no controle das fronteiras e em políticas de segurança para a realização dos Megaeventos desportivos no país (Copa do Mundo e Olimpíadas), estabelecendo maiores interações entre Forças Armadas, Polícia Federal e polícias estaduais. O PRONASCI sofre cortes orçamentários severos e é acompanhado do discurso da presidenta Dilma de que seria reformulado. Na contramão, a verba destinada ao Fundo Nacional Antidrogas aumentou cerca de 500% entre 2011 e 2013: Porém, de acordo com os dados disponíveis no Portal da Transparência, em cinco anos foi investido cerca de um quinto do total destinado ao programa: R$ 1,3 bilhão – 80% a menos do que o previsto. Além da disparidade entre proposta e realidade, de 2010 até hoje a verba vem se reduzindo drasticamente. Foram R$ 301,5 milhões, no ano citado; R$ 269,7 milhões em 2011; R$ 87,5 milhões em 2012; e R$ 752.500, até junho deste ano. No mesmo período, a verba para o Fundo Penitenciário Nacional se multiplicou. O orçamento executado evoluiu de R$ 91,9 milhões, em 2010, para R$ 169,9 milhões em 2011, e R$ 236,8 milhões em 2012. Um aumento de aproximadamente 157%. A previsão deste ano é de R$ 382,8 milhões. Também cresceu o orçamento do Fundo Nacional Antidrogas. Em 2011 foram R$ 2,9 milhões e no ano passado R$ 17,6 milhões. Um aumento de cerca de 500%. Para este ano estão previstos R$ 20,8 milhões (GOMES, 2013).
O questionamento mais profundo das mudanças paulatinamente previstas e implementadas se dá sobre os efeitos do fortalecimento estrutural e de prerrogativas das instituições componentes do sistema de segurança pública se não forem acompanhados de suas próprias ressignificações. Criar vagas em estabelecimentos penais e promover mutirões sem implementar medidas de desencarceramento é ilógico. Fortalecer as polícias sem rever os poderes do policiamento ostensivo e os pressupostos da investigação criminal é um grande tiro no pé. Neste terceiro mandato abandonou-se o eixo de reforma das estruturas policiais e mais ainda o de participação popular na gestão da segurança. O foco estava naquilo que se compra desde o campo da aparência, ou seja, o que pode ser permeado por discursos sensacionalistas
221 das “teorias de todos os dias” e gerar votos, bem como o que pode ser vendido para fora, em busca de uma performance internacional do país. O balanço deste processo é o afirmado a seguir por Eduardo Granzotto Mello (2015, p. 72): (...) diante da contradição entre o tempo do amadurecimento das referidas reformas e o ciclo político eleitoral, o foco do Ministério da Justiça passou progressivamente para as ações de caráter midiático protagonizadas pela Polícia Federal, respondendo simbolicamente à demanda popular de enfrentamento à corrupção e à impunidade .
Desde que a África do Sul esteve como sede da Copa do Mundo, em 2010, ficou evidente um discurso de países ditos “emergentes” terem oportunidades de modernização com a realização dos megaeventos desportivos em seus territórios. Bruno Cardoso (2013) elenca os países pertencentes ao Brics – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – e a participação de todos eles em algum destes grandes jogos de 2008 a 2016, Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos. O discurso era de que a garantia da estrutura necessária para a sua realização significaria um legado para o usufruto da população posteriormente. Ao contrário, o legado da construção de obras faraônicas feitas e pensadas para atender os interesses dos grandes grupos econômicos e dos turistas globais participantes do evento e não os da população potencialmente usuária de espaços e serviços após o cerrar das cortinas do fabuloso espetáculo
pode
ser
traduzido
por
corrupções,
ilegalidades,
superfaturamentos,
superendividamentos, remoções forçadas e autoritárias de comunidades inteiras, ociosidade e mau uso dos espaços construídos e, o que aqui mais diretamente nos interessa, truculência e violência estatal “excepcionalmente” justificadas. Bruno Cardoso também constata que gastos com segurança cresceram em proporções alarmantes entre as edições de tais competições, comparando os 66,2 milhões de dólares, em 1992, nos Jogos Olímpicos em Barcelona, com os 6,5 bilhões, em 2008, em Pequim. O modelo de segurança é trazido de fora para dentro, desde uma padronização internacional e sob uma lógica mais puramente gerencial – contenção de grupos de riscos. Ao se tratar de eventos de dimensão internacional, as próprias preocupações de segurança podem soar estrangeiras a nós, por não serem compatíveis com nossa trajetória histórica e cultural, como, por exemplo, o combate ao terrorismo. Cria-se então uma Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos e medidas preparatórias passam a ser tomadas, com metas de fortalecimento e integração das instituições de segurança.
222 Em 2013 lança-se a Portaria Normativa n. 3461, editada pelo Ministro da Defesa, instituindo a Operação Garantia da Lei e da Ordem, com nítido caráter militar, de segurança nacional. De acordo com termos da própria normativa: Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é uma operação militar conduzida pelas Forças Armadas, de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações de esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em que se presuma ser possível a perturbação da ordem (BRASIL, 2013).
Tratar-se-ia, deste modo, de uma autorização do uso das Forças Armadas como forças de segurança pública quando houvesse uma “presunção de perturbação da ordem”, portanto, sem a necessidade de uma demonstração concreta da insuficiência das instituições responsáveis pela segurança pública. O que significaria que na realização de eventos deste porte já haveria uma presunção nata de sua necessidade. A normativa em questão estabelece de forma expressa a possibilidade de uso das forças armadas para controlar a movimentação da população nos espaços públicos e nas vias de circulação e para desbloquear vias porventura bloqueadas por manifestantes, utiliza do eufemismo força oponente, id est, inimigo, para qualificar movimentos ou organizações sociais, estabelece o rol das principais ameaças possíveis, e nele inclui distúrbios urbanos, que pode ser identificado como a ação de movimentos sociais, o bloqueio de vias públicas, que pode coincidir com a realização de protestos, e a paralisação de atividades produtivas, que é o mesmo que greve, na maioria dos casos (SERRETTI, 2014, p. 68-69).
Para além do controle de fronteiras, o uso das Forças Armadas em ações de territórios urbanos revela uma militarização da segurança pública. Já anunciamos sua intervenção previamente à instalação das UPPs. Agora percebendo seu uso nas operações de segurança dos megaeventos esportivos. Isso sem falar na missão de “paz” brasileira no Haiti, de 2004 a 2017, a mais vergonhosa e triste herança anti-diplomática da potência econômica chamada Brasil para com seus países “irmãos” em tempos petistas. Criada em 2004, foram 13 anos de duração da missão de paz das Nações Unidas Minustah, com o comando militar sob responsabilidade brasileira em todo o período. A missão é criada pela ONU com o pretexto de minimizar as instabilidades políticas, diante da forçada renúncia de Jean-Bertrand Aristide, ainda que se saiba que, por detrás, há uma pressão estadunidense pelo controle de refugiados ao seu país, especialmente neste, com a proximidade geográfica entre ambos. A missão foi se eternizando, especialmente aos o terremoto que vitimou mais de 200 mil pessoas e destruiu o país, em 2010. Isso tudo somado a uma epidemia de cólera deixaram o país sob as mãos internacionais por mais de uma década.
223 politicamente, a missão serviu para projetar a identidade do brasil como uma potência regional capaz de exercer influência positiva em seu entorno. Já a pretensão – nunca completamente manifestada – de obter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, principal órgão de decisão geopolítica da ONU, nunca se realizou, independentemente da avaliação positiva em relação à atuação do governo brasileiro nos 13 anos da Minustah (Charleaux, 2017).
É de se destacar que 37.500 militares brasileiros serviram no Haiti. O país desembolsou mais de 2 bilhões reais, com o reembolso das Nações Unidas de 930 milhões. Mas, muito mais do que gastos, a iniciativa de protagonismo na ação militarizada no Haiti era, por um lado, um projeto geopolítico de alcance de outro patamar de influência internacional e, por outro, aquisição de experiências de ocupação territorial militarizada, treinamento de pessoas e teste de equipamentos, posteriormente implementados nas favelas cariocas. Esta mesma matéria acima relembra, por exemplo, a promoção do evento desportivo de um jogo entre a seleção brasileira e haitiana, organizado para as crianças do país, com o nítido objetivo de se construir uma imagem simpática da seleção. Uma tática bonita para a foto e com a intencionalidade de manipular a população local na aceitação da presença das tropas. Tropas estas que colecionaram denúncias de abusos sexuais, ainda que nenhuma oficialmente relacionada a brasileiros. Quanto a estas iniciativas todas de protagonismo das Forças Armadas, para Eduardo Granzotto Mello (2015, p.81) não se trataria de um fenômeno exclusivamente calcado em interesses eleitoreiros ou coisa semelhante, mas sim na corroboração para que se edifique no país um novo paradigma bélico de segurança, constituído desde a “relativização dos limites entre defesa nacional e segurança pública, inimigo interno e inimigo externo, normalidade e crise, em plena sintonia com o conceito de emergência que marca historicamente o sistema penal”: Verifica-se que essa ampliação da atuação das Forças Armadas, longe de ser uma mudança momentânea sob o influxo de conjunturas político-eleitorais para a qual tende a contribuir simbolicamente, coincide com um amplo processo de revisão estratégica e doutrinária iniciado no final do segundo governo Lula e consubstanciado em iniciativas como o processo de transformação do Exército, projeto de Força do Exército e que podem ser verificados em publicações como a recentemente criada Revista Doutrina militar territorial (revista trimestral publicada pelo Estado-Maior do Exército desde 2013) (MELLO, 2015, p. 80).
Para ele, no período dos governos Lula e Dilma – analisados em seu trabalho de 2003 a 2014 – verificou-se a formação de um “subsistema penal federal”, como um fortalecimento deste novo padrão de segurança – bélico – e, mais que tudo, como elemento componente de um novo lugar geopolítico almejado pelo país, de dominação e exploração regional.
224 Para além de perceber as novas funções atribuídas às Forças Armadas, Eduardo Granzotto Mello (2015, p. 80) também destaca a criação da Força Nacional de Segurança Pública, bem como a implementação do sistema penitenciário federal. Tratemos de ambos a seguir. Quanto ao sistema penitenciário federal, a previsão de sua possibilidade de existência já estava prevista tanto na Lei de Execução Penal como no artigo 3º da Lei dos Crimes hediondos30 e foi reeditada na lei que cria o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) – Lei 10792/2003 – quando, em seu artigo 86, parágrafo 1º, autoriza a União a construir e gerir estabelecimentos penais em locais distantes da condenação da pessoa, quando for do interesse da segurança pública ou da própria pessoa condenada, sendo possível tal exercício para crimes com quaisquer penas – antes da mudança, apenas acima de 15 anos –, cabendo ao juiz determinar qual o melhor estabelecimento para o caso concreto. Esta mesma lei incluiu o parágrafo único ao artigo 87 da LEP, estabelecendo que tanto a União como os Estados podem construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. O Regime disciplinar diferenciado é uma das maiores anomalias da nossa legislação. Inserido como modalidade em uma execução penal que declaradamente afirma uma função da pena ressocializadora, o RDD pode ser traduzido como um isolamento celular de prazo de até 365 dias, prorrogável por igual período se houver uma nova prática da mesma conduta, àqueles que cometam fato previsto como crime doloso, gerando subversão da ordem ou disciplina internas ou quando houver fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, quadrilha ou bando ou mesmo quando a pessoa em situação de prisão, mesmo que provisoriamente, apresentar alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou da sociedade. Neste espaço não nos cabe estender a reflexão crítica sobre este instituto, tido por muitas mentes razoáveis como inconstitucional, por se tratar do cumprimento de uma pena cruel e desumana, proibida pela carta constitucional. A Lei 10792/2003, que cria o RDD e também define nova redação para a previsão quanto ao sistema penitenciário federal foi parte de uma resposta às megarrebeliões que aconteceram nos anos anteriores em São Paulo e Rio de Janeiro, envolvendo simultaneamente algumas cadeias públicas e muitas unidades prisionais, em uma concreta demonstração de forças do crime organizado. Em São Paulo, a resposta foi a redação de Resolução – SAP/26 – pela Secretaria de Assuntos Penitenciários, em 04 de maio de 2001, instituindo o Regime 30 Art. 3º. A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública (BRASIL, 1990).
225 Disciplinar Diferenciado. Em agosto do ano seguinte emite nova Resolução – 29 – instituindo o RDD no Complexo Penitenciário de Campinas/Hortolândia. Diante dos questionamentos acerca da competência administrativa e estadual para regulamentações deste tipo, somadas à pressão pública/midiática sobre o novo Presidente da República e o Congresso Nacional, publicou-se a Lei 10792/2003, alterando a Lei de Execução Penal e criando o RDD, agora com abrangência nacional. É neste contexto que se anuncia, verdadeiramente, a criação do Sistema Penitenciário Federal, tendo sua primeira unidade implementada em 2006. De acordo com o último “Anuário do Sistema Penitenciário Federal – 2016” (BRASIL, 2017), publicado em 2017, eram quatro unidades em funcionamento – Catanduvas/PR, Campo Grande/MS, Mossoró/RN e Porto Velho/RO, com capacidade para 208 pessoas cada uma e mais uma sendo construída – atualmente já concluída – em Brasília/DF. O documento afirma que “em 2016 a população carcerária média no Sistema Penitenciário Federal foi de 438 internos. No final de dezembro, do mesmo ano, o número de internos era igual a 472. Em 30 de junho de 2017 o SPF possuía 570 internos” (BRASIL, 2017, p. 10). A Diretoria do Sistema Penitenciário Nacional está subordinada ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). No próprio documento oficial analisado, bem como no Decreto n. 6.049, de fevereiro de 2007 que por último definiu o Regulamento Penitenciário Federal, o discurso é de serem instituições de referência em estrutura e recursos humanos, equipadas com alta tecnologia, para receberem presos de “alta periculosidade”, reforçando o perfil daqueles pertencentes a organizações criminosas e os que estão cumprindo a execução da pena em Regime Disciplinar Diferenciado. O Sistema é uma resposta à capilarização do crime organizado que, através de seus membros, e principalmente lideranças, agem continuadamente de dentro das prisões estaduais promovendo a violência extramuros, o tráfico de drogas e de influência, de forma a atingir diretamente não apenas os diversos estratos sociais, como as próprias instituições públicas gerando instabilidade e insegurança. (...) as Penitenciárias Federais abrigam um perfil diferenciado de presos consistente em: líderes de organizações criminosas; responsáveis pela prática reiterada de crimes violentos ou com grave ameaça; causadores de distúrbios ou que sofram risco à integridade física no sistema penitenciário de origem; ou aqueles submetidos ao RDD (BRASIL, 2017, p.7).
O relatório chega a quantificar a porcentagem de custodiados pertencentes às principais facções criminosas, sendo 35,34% pertencentes ao PCC, 22,41% ao Comando Vermelho, 8,62% à Família do Norte e muitos outros especificados.
226 Quanto aos motivos para inclusão no SPF, 51,96% informaram desconhecer as razões, 21,51% disseram ser devido à participação em facção criminosa, 2,51% por participação em rebelião, 7,54% por tentativa de fuga de presídio estadual e 16,48% por outras razões. Assim, a efetivação do Sistema Penitenciário Federal neste contexto de introdução do RDD e de demonstração de força das facções criminosas foi um passo de fôlego no intuito de ampliar e fortalecer o papel do executivo federal na gestão da segurança pública. Este salto foi complementar à instituição da Força Nacional de Segurança Pública, em 2004. De acordo com Thaís Battibugli (2012), a FNSP foi inspirada nas forças de pacificação social da ONU. Desde sua criação está vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública, sob o comando do diretor da Polícia Federal. Possui uma sede própria e abarca mais de 500 policiais. Segundo Eduardo Granzotto Mello (2015, p. 74), “a nova agência seria inicialmente um grupo policial civil cujo objetivo central era investigar as próprias polícias, com autoridade, autonomia, independência e mecanismos de investigação sofisticados”, porém acabou por se consolidar como uma espécie de nova agência policial, composta por servidores públicos selecionados entre policiais civis e bombeiros dos grupos de elite de diferentes estados, com o objetivo de fornecer um reforço emergencial na área de segurança nos estados, responsabilizando-se por ações articuladas e de formação/qualificações das intervenções policiais nas localidades. Observando a sua regulamentação, em um primeiro momento era prevista como uma força federativa que estaria sob coordenação da União e não como uma tropa federal. De acordo com Eduardo Mello (2015, p. 77), com o Decreto 7957/2013 estabeleceu-se que seu funcionamento dependeria de “solicitação expressa do respectivo governador de Estado ou do Distrito Federal, mas agora também alternativamente do Ministro de Estado”, atribuindo autonomia da União na definição sobre a própria possibilidade da intervenção em uma localidade. Segundo o autor, com o passar dos anos, com mais de duzentas operações realizadas em muitos estados brasileiros, esta agência acabou por se tornar uma força policial ostensiva que nos grandes centros acaba por cumprir um papel político simbólico, de presença e controle federal, o que ele denomina como uma “força policial de emergência” (MELLO, 2015, p. 75).
227 3.4 Em alto mar não se percebia, mas era um tsunami: análise dos elementos determinantes do contexto criminalizador do período estudado
Concluímos esta primeira etapa de análise do capítulo, com a descrição crítica dos principais elementos da política criminal mais diretamente bancados pelo governo federal, aqueles que podemos entender serem autorais. O passo seguinte é perceber o contexto criminalizador mais geral no período, capturando suas relações. Uma série complexa de questões já foi colocada sobre a mesa. Por ora, apenas concluímos que a dubiedade foi marca forte da política criminal petista. Por um lado, a existência de um discurso mais oxigenado sobre certas questões e a proposição de iniciativas que tencionam os limites da concepção de segurança pública e introduzem programas mais vinculados à ideia de segurança enquanto segurança de direitos. Por outro, compartilhando da terminologia de Eduardo Mello, o aprofundamento da existência de um subsistema penal federal, alargando em muito a tendência de maior intervenção da União no tema da segurança, desde uma perspectiva muito mais próxima da transição de uma segurança pública para uma de controle bélico e territorial. Desta política dual, que em si deve ser questionada enquanto possibilidade de convivência, a balança vai se desequilibrando com o passar dos anos, prevalecendo o viés militarizado. Na etapa acima do trabalho, pudemos reunir uma série de iniciativas do governo federal no campo da segurança pública, avaliando seus impactos e o quanto apontavam de tendências de construção de modelos – da segurança cidadã à militarização, um blend difícil de se explicar, mas que caracteriza significativamente a tentativa de maior incidência do executivo federal nesta seara. Neste momento, trataremos de resgatar o que nos parecem ser os principais elementos de inchaço de processos de criminalização primária – com novas leis e novas incriminações, bem como mudanças na execução penal e no processo penal, tendentes a uma mais profunda caracterização neoinquisitória. Isso significa que estes dois momentos se complementam em um estudo que delineia traços da política criminal neste período, permeada, necessariamente, pelos processos de criminalização primária e secundária oficiais. Com isso se pode afirmar que as caracterizações normativas penais de um momento histórico são respostas e, ao mesmo tempo, componentes da política criminal oficial.
228 Por isso, daqui em diante, pretendemos realizar um apanhado das principais novidades e alterações legais penais e processuais penais para buscar captar o hibridismo na dogmática penal e processual penal contemporânea brasileira de, por um lado, ter a presença dos elementos clássicos de prevenção especial positiva, direito penal do ato e processo penal dispositivo (ainda que essencialmente neoinquisitório, conforme abordaremos) e, de outro, a introdução paulatina de elementos do direito penal do inimigo, de declarada neutralização (prevenção especial negativa) e de um processo penal negocial, aos moldes estadunidenses. O encarceramento em massa brasileiro só pode ser compreendido pela conjunção de processos expansionistas. De um lado, uma expansão quantitativa do controle, com novos tipos penais e penas mais longas. De outro, uma expansão qualitativa, com sofisticação de métodos, dispositivos e tecnologias de seleção penal. No recheio, naquilo que de fora não se vê, uma expansão dos braços penais, com institutos aparentemente mais brandos, porém que possibilitam tratamento penal ou sua mais efetiva intervenção em conflitos dantes solucionados de outras maneiras. Nas bordas, situações de criminalização do cotidiano por meio de mecanismos de controle informal, que escapam o sistema penal propriamente dito – os elementos que envolvem a militarização dos territórios e das vidas de seus pertencentes, por exemplo. Um fato. Tanto nos mecanismos mais rígidos, de “excepcionalidades”, como nos mais brandos, envolvendo situações penais com menos impactos sociais, ocorre um movimento de redução de garantias processuais penais. O que envolve todos estes elementos, como embalagem, é a Guerra às Drogas, enquanto veículo impulsionador de uma cadeia de excepcionalidades e ampliações de interferências. Como guerra, construída desde discursos alarmistas e rotulantes, imprimindose também em leis. A ampliação legislativa penal pode ser constatada através de dados de estudo realizado pela Associação Latino Americana de Direito Penal e Criminologia que pode observar que, até Agosto do ano de 2015, foram 1688 hipóteses de criminalização primária, desde 1988 (IBCCRIM, 2017). O aumento das incriminações se torna facilitado com o regime processual de excepcionalidades, gerando movimentos entrecruzados propícios ao fenômeno do encarceramento massivo. Nas próximas páginas dedicaremos nossa atenção à análise do impacto de algumas alterações legais no período estudado, quais sejam – aqui elencadas em ordem cronológica: o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), a Lei Maria da Penha (11.340/2006), a Lei de
229 Drogas (11.343/2006), a Nova Lei de Medidas Cautelares no Processo Penal (Lei 12.403/2011), a Lei de Organizações Criminosas (Lei 12.850/2013) e a Lei AntiTerrorismo (Lei 13.260/2016). Conforme “escusa” registrada ao final da introdução deste trabalho, a análise que segue não possui o condão de esmiuçar cada elemento, mas sim de reuni-los entre si e com os elementos até então trabalhados, para que se possa visualizar o fio condutor criminalizante no período estudado (2003-2016). Assim como optamos, na descrição da atuação federal na política de segurança pública, por dar um passo atrás e observar, em linhas gerais, algumas diretrizes do Plano de Segurança Pública de FHC, neste momento também consideramos necessário traçar um panorama do impacto da Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990) e a lei que cria os Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95), pois ambas nos soam como anúncios da tendência que se impôs no momento seguinte. Entre tal panorama legislativo, fizemos uma análise particular da materialização destas tendências com o julgamento da Operação Lava Jato. Do mesmo modo, dedicamos um tópico específico sobre mulheres em situação de prisão, como o revelar mais orgânico e explosivo das tendências desta política criminal. Ainda, buscamos, sempre que possível, relacionar elementos concretos acerca da participação do executivo federal ou da bancada parlamentar do Partido dos Trabalhadores nestas iniciativas legais. Como fim desta introdução do raciocínio, vale destacar que, por dificuldades temporais, mas também por entender a abrangência e a especificidade do tema, não pudemos nestas páginas dedicar mais atenção para entender a complementaridade e sintonia do processo de recrudescimento da política punitivista para adolescentes neste período, ainda que consideremos da máxima relevância. De tempos em tempos, a cada caso com potencial de repercussão nacional, reinicia-se uma campanha pela maior retirada de direitos de adolescentes enquadrados como em conflito com a lei, com propostas de alterações dos elementos principiológicos do Estatuto da Criança e do Adolescente – de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de desenvolvimento do adolescente para a aplicação de medidas socioeducativas – ou mesmo de redução da idade penal, hipótese inconstitucional inúmeras vezes ressurgida. Do mesmo modo, o funcionamento da Justiça Juvenil é prenhe de perpetuações de comportamentos dos operadores do direito pautados na cultura “menoril”, de caráter tutelar, fundante do paradigma da situação irregular que norteou o controle social do estado brasileiro sobre crianças e jovens desde a República até a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
230 Internações provisórias e definitivas como regra e não exceção; caráter pedagógico transformado em moralismo e punitivismo; medidas socioeducativas em meio aberto com aplicação meramente protocolar; unidades de semiliberdade e de internação superlotadas e em condições desumanas, afastadas de qualquer intuito pedagógico declarado; inversão do “melhor interesse da criança e do adolescente” para aplicação discricionária da lei. E a lista de elementos preocupantes poderia se estender ainda mais. Ressaltamos que, em outra oportunidade (BENITEZ, 2011), pudemos abordar com mais qualidade a questão.
3.4.1 Primeira digressão: o impacto político-criminal da Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/90)
Conforme antecipado, parece-nos que a compreensão dos elementos determinantes da onda punitiva brasileira analisada neste trabalho, compreendida entre os anos de 2003/2016, precisa ser precedida de uma análise dos impactos da Lei dos Crimes Hediondos – Lei n. 8.072/90 e da Lei dos Juizados Especiais Criminais – Lei 9099/95, como anunciadoras de tendências significativas para a combinação do eixo “criminalização primária + mitigação de garantias penais + enrijecimento de penas” caracterizador dos impactos reais do sistema penal no período estudado. Quanto à Lei 8072/90, compartilhamos algumas das conclusões alcançadas por um estudo realizado pelo ILANUD (Instituto Latino-Americano da ONU para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente) no ano de 2005 sobre o impacto desta lei enquanto instrumento de política criminal. Uma lei que simbolizou verdadeiro atropelo legislativo e que, por longo tempo, foi questionada sobre a constitucionalidade de certas previsões, como a vedação explícita à progressão de regime na execução da pena. No ano seguinte à promulgação da Constituição Federal de 1988, muitos foram os projetos para regulamentar quais condutas seriam consideradas crimes hediondos e quais seus regimes penais. Ocorre que um projeto regulamentando os crimes de sequestro e extorsão mediante sequestro tramitou em regime de urgência, sendo aprovado no Senado e encaminhado à Câmara, onde se elaborou um substitutivo mais abrangente no dia 27 de junho, abarcando parte do rol do que seria considerado no país crimes hediondos e seus
231 regimes e regras penais, aprovado dois dias depois nesta casa, com aprovação no Senado em 10 de julho e promulgação da Lei em 25 de julho de 1990. A lei refletia o clamor apelativo por penas mais duras diante de casos emblemáticos e foi reformada, incluindo o homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente e o homicídio qualificado após uma campanha que coletou 1,3 milhão de assinaturas para proposição de uma emenda popular diante do caso midiático do assassinato da atriz Daniella Perez. O apelo emocional cultivado pelos grandes veículos de comunicação conduziu politicamente o processo. O estudo conduzido pelo ILANUD buscou avaliar o impacto da Lei nos índices de criminalidade e de encarceramento. Quanto ao primeiro impacto, havia a ilusão de que o enrijecimento legal poderia resultar na inibição da conduta, este era o argumento central quando da aprovação. O estudo do ILANUD buscou analisar os dados dos crimes hediondos antes e depois da lei específica e verificar se tais dados condizem com tendências projetadas quando da elaboração da lei. A pesquisa foi realizada em 2005 e pode abranger 20 anos de dados, período suficiente para se verificar o impacto real de uma diretriz de política criminal. O trabalho se concentrou na análise dos dados dos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os tipos penais analisados foram: estupro, atentado violento ao pudor, homicídio, sequestro, latrocínio, tráfico, total de crimes contra a pessoa, total de crimes contra o patrimônio e total de crimes contra os costumes. Faz-se um estudo sério das limitações de qualquer análise estatística, sendo os dados incapazes de traduzir a miríade de fatores determinantes de um fenômeno social. Não é possível dizer que aumento ou diminuição de encarceramento se devem exclusivamente à edição de uma lei, ainda que ela possa e provavelmente seja um elemento determinante. É neste sentido a conclusão da comparação das diferenças de dados entre São Paulo e Rio de Janeiro: Isso significa dizer que o determinante das quedas verificadas em alguns casos é mais facilmente relacionado a outros fatores - como a intensificação do policiamento preventivo, a incrementação do aparato investigativo, a atuação do Ministério Público e do Judiciário e o desenvolvimento de mecanismos informais de controle social - do que à Lei de Crimes Hediondos (ILANUD, 2005, p. 38).
O que permitiu que se concluísse no estudo que o contexto nacional poderia ter baixa influência sobre cada um dos dados. Era preciso verificar esta miríade de fatores. Com relação à análise dos tipos penais, a pesquisa parte da noção de que aqueles tipos penais que, em regra, demandam planejamento para execução e, por consequência,
232 premeditação, poderiam ser mais impactados em sua coibição diante da gravidade da sanção prevista na Lei. A análise, porém, revela que os crimes de sequestro (em São Paulo), tráfico e homicídio qualificado tiverem seus índices aumentados após a edição da Lei dos Crimes Hediondos. E, no caso da diminuição do sequestro do Rio de Janeiro, a diminuição se deu a partir de 1995, não coincidindo temporalmente com a edição da lei. Os índices de homicídio tiveram uma estabilização no Rio de Janeiro após 1997, o que também se encaixa na situação agora descrita. Latrocínio, estupro e atentado violento ao pudor seriam marcados por passionalidade e menos premeditação, o que, para as pessoas pesquisadoras autorizaria afirmar “que sua prevenção não passa pela intimidação” possivelmente gerada pela lei (ILANUD, 2005, p.42). Ainda que tenhamos severas resistências à noção de passionalidade para determinar a motivação destes crimes, tendemos a concordar com a noção de “eventualidade” e ausência de planejamento, bem como para o crime de latrocínio. Este raciocínio buscaria explicar, então, que o efeito preventivo/intimidatório da lei mais drástica não foi verificado pelos elementos estatísticos. Nas análises de progressão, buscou-se apenas “verificar se havia algum indício de influência da Lei no número de crimes cometidos após sua promulgação” (ILANUD, 2005, p.44). Nós destacamos que “crimes cometidos” não nos parece ser uma boa caracterização, pela expressão abranger série de informações que a inteligência humana é incapaz de perceber e que ignora a dimensão da criminalização – enquanto fenômeno sócio-político. Portanto, não estamos falando de índices reais, materiais. O ideal seria tratar de “incriminações selecionadas” pelas instituições componentes do sistema de justiça criminal. Quanto aos índices de homicídio, o estudo revela que “se fôssemos interpretar a influência da Lei apenas nesses dois gráficos a explicação seria bem dúbia, pois elas indicariam que no Rio a influência foi grande, pois os índices despencaram após sua edição, enquanto em São Paulo os números se mantiveram sempre acima da projeção. A ausência de um comportamento semelhante nos Estados não nos permite, portanto, afirmar algum impacto da Lei neste caso” (ILANUD, 2005, p.46). Isso se apresenta também com os outros dados, com “trajetórias estatísticas” muito diferentes. Já no caso do tráfico, o estudo demonstra que “não existe nenhuma correspondência entre o que foi projetado e a realidade. Os índices foram quase que o tempo todo crescentes, enquanto a projeção indicava uma tendência declinante” (ILANUD, 2005, p.51).
233 Quanto ao impacto da Lei dos crimes hediondos na realidade do sistema penitenciário, os problemas previstos e analisados passavam por questões como “superpopulação, aumento no número de rebeliões e fortalecimento das facções” (ILANUD, 2005, p.53). O estudo ressalta as limitações dos dados colhidos, uma vez que informações referentes à execução penal seriam imprescindíveis, para além do tempo de condenação e o de real cumprimento da pena, como, por exemplo, elementos referentes a concessões de benefícios, tipos de regime e mecanismos disciplinares. A parcela significativa da responsabilidade da Lei de Crimes Hediondos pela superlotação prisional se daria, primeiro, pela manutenção dos condenados nas unidades prisionais em decorrência da impossibilidade de fiança e liberdade provisória, progressão de regime e obrigatoriedade do regime fechado, e, segundo, pelo aumento do número de prisões. A representatividade dos delitos tem permanecido relativamente constante, ou seja, a distribuição da população prisional por tipo de delito tem sido praticamente a mesma desde a década de 1980. Na passagem das décadas de 1980 e 1990 chamam a atenção os aumentos nos percentuais de tráfico, estupro, atentado violento ao pudor e latrocínio. O tráfico, que representava 5,6% das condenações em 1982 e subiu para 9,0% em 1990, permanecendo, após esse ano, em percentuais estáveis – 11% em 2002. O estupro e o atentado violento ao pudor, embora estejam relativamente estáveis se compararmos o primeiro e o último ano da série, tiveram aumentos consideráveis em 1995 e 1996. O latrocínio teve um aumento bastante considerável entre 1981 e 1996 (último ano disponível), passando de 2,8% para 7,0%. Já o homicídio se manteve estável na faixa de 10% durante toda a série histórica. Os dados indicam, portanto, que o crescimento da taxa de encarceramento se dá acompanhado de certo incremento no percentual de condenados por crimes hediondos. Se não podemos creditar exclusivamente à Lei a superpopulação prisional do Estado, podemos relacioná-la a outros mecanismos informados pelo mesmo princípio que a norteia: o endurecimento no regime de cumprimento das penas, não somente no aparato legal, mas também na prestação jurisdicional. A propósito, vale mencionar o que ocorre nos julgamentos de roubos, nos quais, ainda que caiba a concessão do regime semi-aberto, a tendência do Judiciário paulista tem sido a imposição do regime fechado (ILANUD, 2005, p. 71-72).
Ademais, o estudo permeou uma pesquisa qualitativa, com servidores do sistema penitenciário e pessoas em situação de prisão. As perguntas giraram em torno de temas como o imaginário de que haveria uma tendência ao mau comportamento dos apenados por crimes hediondos, por não haver estímulos para progressão de regime e outros benefícios, elemento que não foi verificado. Ademais, também se questionou sobre a possibilidade do crescimento das facções estar relacionado à maior permanência dos presos no sistema, sobre o que as respostas foram oscilantes, sendo que o único ponto respondido por unanimidade é de que as facções funcionariam como garantidoras da ordem interna nas unidades prisionais. A relação entre as facções e a Lei, como já dissemos, se daria em virtude da maior permanência do preso condenado por delito hediondo no sistema penitenciário. A
234 pena de maior duração estimularia o movimento associativo dos presos e contribuiria para que os grupos formados se firmassem no sistema (...) Em nenhum momento foi possível identificar no discurso dos entrevistados alguma relação entre a Lei e o fortalecimento das facções criminosas. Em verdade, tanto os presos quanto os funcionários se viram surpreendidos com o questionamento e alguns afirmaram nunca ter pensado sobre o assunto (ILANUD, 2005, p. 91 e 93).
A conclusão do estudo foi de que “os presos possuem consciência do impacto da Lei na sua situação processual e, conseqüentemente, na sua privação de liberdade, muito embora também tenha sido significativo o discurso no sentido de imputar a responsabilidade pela gravidade da pena ao Poder Judiciário” (ILANUD, 2005, p. 95). O estudo em tela foi concluído em 2005, sendo anterior às mudanças significativas na Lei nos anos subsequentes. Até então, o artigo 2º da Lei 8072/90 estabelecia que os crimes hediondos e os equiparáveis (tortura, tráfico ilícito de drogas e terrorismo) eram insuscetíveis de anistia, graça e indulto; fiança e liberdade provisória; e com o cumprimento de pena em regime integralmente fechado. O Supremo Tribunal Federal realizou, no ano de 2006, 16 anos após a vigência da Lei em comento,
o julgamento do Habeas Corpus n. 82.959/SP, reconhecendo a
inconstitucionalidade do parágrafo 1º do seu artigo 2º, o que significou a negação da impossibilidade genérica de progressão de regime. Tal decisão suscitou a alteração de parágrafos do referido artigo através da edição da Lei 11464, de 28 de março de 2007, estabelecendo apenas o regime inicial fechado e a possibilidade de progressão após o cumprimento de 2/5 da pena quando primário e 3/5 quando reincidente. A alteração retira também a vedação de concessão de liberdade provisória, mantendo apenas a de fiança. Antes da nova lei de prisões, isso continuava significando quase uma prisão provisória compulsória, porém com a introdução de todas as outras medidas cautelares alternativas à prisão, o cenário se modificou significativamente. Assim, esta lei impactou sobremaneira a realidade prisional no país, especialmente ao não nos olvidarmos de que suas restrições processuais se estendem aos crimes equiparados ao hediondo, dentre eles o tráfico de drogas, de grande incidência populacional prisional. Após 2006 – e, especialmente, 2007 – a situação foi aliviada em alguma medida, ainda que não deixe de ser surpreendente a demora de mais de uma quinzena de anos para tal alteração neste grau da obviedade constitucional e a drasticidade que ainda se perpetua. Dentre as reivindicações atuais, há a necessidade de se diferenciar a possibilidade de concessão de indulto coletivo, conforme entendimento majoritário da doutrina brasileira.
235 Da mesma forma, a manutenção da obrigatoriedade do regime inicialmente fechado já foi questionada algumas vezes em decisões dos tribunais (como o exemplo do julgamento pelo STF do Recurso em Habeas Corpus n. 103.547/SP, de 2010, citado no caderno de propostas legislativas “16 medidas contra o encarceramento em massa” elaborado pelo IBCCRIM, Associação Juízes para a Democracia, CEDD/Unb e Pastoral Carcerária) (IBCCRIM, 2017). Por fim, outro elemento muito discutido e que demanda alteração é referente à quota de cumprimento da pena de 3/5 para fins de progressão de regime quando da reincidência. A letra da lei não é explícita, mas o entendimento que se fortalece é de que esta porcentagem mais alta deveria ser aplicada apenas para casos de reincidência específica. Deste modo, o que podemos concluir é que a Lei dos Crimes Hediondos existe como o abre-alas de um endurecimento legal que se expressa materialmente em uma ampliação do encarceramento, a ganhar uma proporção ainda mais significativa nos anos 2000 pelo conjunto de elementos aqui abordados. Este abre-alas nos coloca a necessidade de que haja responsabilidade nos trâmites legislativos, com uma mínima análise de impacto econômico de alterações legislativas penais. Se novas legislações pipocam, criando novos tipos penais ou aumentando penas ou retirando garantias e benefícios processuais, que ao menos seja exigível, para sua apreciação de conteúdo, a demonstração da realização de estudos que comprovem a suportabilidade destas medidas pautada na impossibilidade legal de superlotação prisional. Esta análise, de acordo com parâmetro da Comissão Europeia, traduzir-se-ia “em uma série de perguntas a serem respondidas para que o legislador pense de forma mais aprofundada nas consequências das alterações legislativas propostas ou aprovadas por eles” (IBCCRIM, 2017, p. 6), exigindo, consequentemente, a exposição da dotação orçamentária para que seja possível a sua aprovação. Dentre as propostas possíveis, há aquela de que “a matéria seja regulada por meio de Resolução, com alteração do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, determinando que seja feita a análise do impacto financeiro e orçamentário de alterações legislativas de cunho penal pelo do corpo técnico e dos membros da já existente Comissão de Finanças e Tributação” (IBCCRIM, 2017, p. 7). Pode parecer um elemento residual, porém funcionaria como alerta para a responsabilidade diante do impacto de iniciativas de ampliação ou fortalecimento do sistema penal.
236
3.4.2 Segunda digressão: o impacto político-criminal da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95)
A outra lei que impactou o ordenamento jurídico brasileiro na década de 90 foi a Lei 9099/95 que regula competência, funcionamento e procedimentos dos Juizados Especiais (civil e criminal) e que, ao introduzir a lógica negocial no processo penal brasileiro também foi precursora de características marcantes da onda punitiva nos anos 2000, como poderemos analisar adiante. Esta lei prevê a morfologia e formas processuais específicas do procedimento referente aos chamados crimes de menor potencial ofensivo que, após alteração do seu artigo 61 (Lei 11313/2006), passa a abranger as contravenções penais e os crimes com pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa. Essa competência precisa ser calculada considerando a incidência das causas de aumento (no máximo) e de diminuição (no mínimo), bem como avaliando as situações de concurso de crimes. Complementarmente, a Lei n. 10259/01 dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais no âmbito da Justiça Federal, sendo de sua competência o processamento dos delitos praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, entidade autárquica ou empresa pública ou qualquer crime praticado por ou contra servidor público federal no exercício de suas funções que não seja com pena máxima superior a dois anos. A Lei 9099/95 criou institutos, quais sejam a composição dos danos civis, a transação penal e a suspensão condicional do processo, a seguir pormenorizados, cuja aplicação pode extrapolar os casos abrangidos pelo rito sumaríssimo, no caso da suspensão condicional do processo por ser um instituto de maior abrangência e, no caso da transação, quando houver conexão ou continência ou a previsão de algum procedimento especial, ainda que se trate de um crime de menor potencial ofensivo. Isto significa que os seus institutos ultrapassam os limites estritos da aplicação do procedimento específico. Ainda que de maneira sucinta, importa-nos descrever tais institutos para que possamos compreender o impacto da aplicação desta Lei no país. As previsões nela contidas obedecem aos princípios da oralidade, informalidade, celeridade, simplicidade e economia processual, prevendo formas específicas que garantiriam, para crimes com gravidade atenuada, fácil e rápida resolução.
237 A composição dos danos civis seria a primeira tentativa de resolução do suposto conflito antes que o membro do Ministério Público provoque o judiciário com a proposição de uma denúncia. Sua previsão está contida nos artigos 74 e 75 e se configura como um acordo entre “autor” e “vítima” capaz de gerar um título executivo judicial. A decisão do juiz, nestas circunstâncias, seria meramente homologatória, gerando uma extinção de punibilidade pela renúncia do direito de queixa ou de representação – e, sendo assim, a composição civil é inviável para os crimes de ação penal pública incondicionada. As duas partes poderiam compor extrajudicialmente sobre os valores a serem acertados. Se não acontecer a composição extrajudicial, ela poderá ocorrer em uma audiência preliminar. Este título executivo judicial possuirá duplo efeito: criminal e cível. Caso a composição dos danos não se materialize, haverá a oportunidade da vítima exercer seu direito de representação ou queixa, sendo então possível a proposição da transação penal em audiência. A transação penal seria o oferecimento de uma pena antecipada, de multa ou restritiva de direitos, antes do oferecimento da denúncia. Seria um “acordo”, cujos limites sociológicos serão abordados em seguida, cujo aceite significaria a aplicação de uma pena sem processo. O cumprimento desta pena, que nunca será privativa de liberdade, e o decorrer do interstício de cinco anos, significaria a extinção da punibilidade. Se não houver descumprimento ou cometimento de qualquer outra infração penal neste período, retoma-se à condição de primariedade. Caso contrário, o ato continua de onde parou, com o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Assim, a transação não gera antecedentes criminais, apenas impede que o acusado seja beneficiado novamente nos próximos cinco anos. É proposta, em regra, pelo Ministério Público31, porém se trata de um direito subjetivo do réu. Isso significa afirmar que o Ministério Público passa a ter, em um grau mínimo, uma relativização do princípio da obrigatoriedade de, havendo os elementos, propor a ação penal. Com isso queremos dizer que, com a Lei 9099/95, sempre que estiverem presentes as condições da ação e se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, o promotor deve propor a transação penal, cabendo ao possível réu aceitar ou não seus termos. Deste modo, a discricionariedade da ou do promotor é regrada, restringindo-se à definição da pena. Trata-se, assim, de um poder-dever do Ministério Público. 31 Ainda que hoje haja o entendimento da possibilidade de sua proposição também pelo querelante nas ações de iniciativa privada, podendo ser, inclusive, ofertada pelo Ministério Pública, pois deve acompanhar todos os termos da ação penal de iniciativa privada.
238 Feita tal introdução acerca da natureza do instituto, o primeiro elemento alarmante a se destacar é que a transação penal não pode ser encarada como uma alternativa ao arquivamento. Isso reforça o afirmado acima de que apenas poderá haver a proposição da transação penal quando houver fumus commissi delicti (elementos de materialidade da conduta em um nível de probabilidade) e as demais condições da ação (prática de fato aparentemente criminoso, punibilidade concreta, legitimidade de parte e justa causa). Com isso se afirma que não é porque estamos lidando com crimes de abstrata “menor gravidade”32 que as condições da ação possam ser informalmente relativizadas. Conforme conceituação de Aury Lopes Junior (2018, p. 760), atualmente há uma tendência a um “utilitarismo estruturante do discurso da informalidade”. Esta preocupação é da máxima pertinência, pois, como poderemos observar adiante com as pesquisas empíricas realizadas nos JECRIMs de Brasília e Porto Alegre, a flexibilização não declarada das condições de arquivamento e a consequente proposição da transação penal significa a implantação de uma política de expansão dos braços penais. Para além da proposição não poder ser um substitutivo do arquivamento, é preciso que se verifique os pressupostos da mesma. O artigo 76 da Lei 9099/95 estabelece que poderá ser “negociada” a transação penal desde que a pessoa não seja reincidente (a reincidência não englobaria a prática anterior de contravenção penal), não esteja dentro dos cinco anos do período de prova de uma transação anterior e não haja enquadramento nos elementos de cunho subjetivo previstos no inciso III, quais sejam antecedentes, conduta social e personalidade do agente. Acerca do primeiro e último critérios, são apresentados elementos relacionados à pessoa e não à conduta objetiva em questão. São apreciações pessoalizadas que, no caso do primeiro critério, materializam uma dupla punição - bis in idem –, negação da função preventiva especial positiva declarada pela legislação vigente; e, no caso do terceiro critério, os elementos revelam uma avaliação que é subjetiva e, mais do que isso, impossível de ser feita seriamente, abrindo margens para um exercício discricionário do Ministério Público e do Judiciário. Qual a competência de um operador do direito avaliar personalidade de alguém?
32 A percepção de gravidade do crime pode ser dogmática penal ou sociológica. Com isso queremos dizer que ao se tratar aqui de crimes de menor potencial ofensivo, partimos do conceito legal definido pelo máximo de pena. Como poderemos perceber em alguns momentos do trabalho, existe uma busca por legitimação jurídica da intervenção penal desde o argumento de leão de bens jurídicos fundamentais, a serem protegidos pela norma penal e sua aplicação. Entretanto, uma aproximação mais detida nas tipificações existentes denota a ausência real de proporcionalidade e a prevalência de maior incidência de pena em crimes patrimoniais e de tráfico de drogas. Por isso as aspas ao tratar de menor gravidade.
239 Quais critérios de análise de conduta social que não seriam permeados por um lugar social e ideológico no mundo? Como em tantos e tantos outros institutos dos nossos direitos penal e processual penal brasileiros, como os de definição de regime de cumprimento de pena, substituições de pena, progressão de regime, concessão de benefícios da execução penal, aplicação de uma medida cautelar pessoal, incidência do princípio da bagatela (este desde construções doutrinárias e jurisprudenciais) e outros, são previstos – dentro de um rol que costuma abranger previamente outros critérios mais objetivos ou delimitados – critérios como estes, abertos, indeterminados e, por consequência, discricionários. Conforme afirmação de Aury Lopes Junior (2018, p. 762) “toda e qualquer avaliação sobre a personalidade de alguém é inquisitiva, visto estabelecer juízos sobre a interioridade do agente. Também é autoritária, devido às concepções naturalistas em relação ao sujeito autor do fato criminoso”. Isso somado a uma análise de antecedentes, que extrapola o bis in idem da restrição à reincidência e afeta o respeito ao princípio liberal de inocência. Se Michele Alexander (2017) trata da realidade estadunidense de restrições de direitos após o sistema penal tocar a vida da pessoa, na realidade brasileira, como já pudemos observar, esta criação de subcidadania não é diretamente perceptível através de restrições legalizadas33 a políticas sociais ou coisas do tipo, mas perceptivelmente aplicada internamente ao sistema penal, o que pode ser considerado uma verdadeira auto-negação dos princípios declarados em torno da ideia de um direito penal do fato e da função preventiva especial positiva da pena. Por fim, quanto às críticas a tais pressupostos da possibilidade de aplicação da transação penal – que podem balançar a compreensão da noção de ser um poder-dever do Ministério Público e um direito subjetivo do possível réu –, destaca-se que o excessivo grau subjetivo
da
avaliação
da
ocorrência
desses
pressupostos
descamba
em
uma
discricionariedade inquisitiva, uma vez que interdita o máximo exercício do direito de defesa e do contraditório, pois as possibilidades de refutação da decisão são limitadas. Compreendida a delicadeza destes pressupostos legais, passamos a uma análise crítica da própria negociação. Grosso modo, o teor de fundo das ponderações sobre o impacto da transação penal é que o caráter negocial é, necessariamente, permeado por uma desigualdade significativa. O promotor ou a promotora de justiça, representando uma instituição centenária, negociarão com uma pessoa que, a depender da sua aceitação ou não dos termos da proposta 33 As restrições são informais e recorrentemente aplicadas, movida pelo aspecto discriminatório velado das relações sociais.
240 negocial, poderá ter uma pena mais branda e a preservação de sua primariedade, assumindo uma responsabilidade/culpa pelo fato ou negará a responsabilização prévia e correrá o risco de ter contra si uma sentença condenatória com uma pena possivelmente mais danosa. Isso significa perceber que os termos deste acordo são desiguais e até mesmo coativos. Antes de adentrarmos a uma breve análise dos impactos da aplicação da Lei 9099/95 em termos de política criminal, descreveremos sucintamente o terceiro instituto previsto por esta Lei, qual seja a suspensão condicional do processo. O artigo 89 desta Lei prevê a possibilidade da suspensão condicional do processo quando não houver composição dos danos nem transação e a denúncia for oferecida. Quando do recebimento da denúncia ou em momento posterior 34, o juiz precisa avaliar as condições para proposição da suspensão do processo, que, tal como na transação, trata-se de um direito subjetivo do réu, cujo conteúdo só será formalizado se aceito por ambas as partes envolvidas – trata-se de um ato bilateral, o Ministério público oferta e o réu aceita ou não. Portanto, compartilhando do mesmo raciocínio anterior, a oferta da suspensão se caracteriza como uma discricionariedade regrada. Trata-se de uma previsão legal cabível não apenas aos crimes de menor potencial ofensivo, mas sim a todos aqueles com pena mínima igual ou inferior a um ano e que se materializa com a definição de um “tempo de prova” de dois a quatro anos, com condições de cumprimento específicas ao caso concreto, desde critérios legais a seguir apresentados, que, em sendo cumprido, resulta na declaração de extinção de punibilidade do réu, com a extinção processual. Quanto às condições para a proposição, os dilemas são em muito semelhantes aos já abordados quanto à transação, uma vez que, para além da pena mínima acima descrita, o artigo inclui a necessidade de o acusado não estar sendo processado criminalmente – nítido desrespeito ao princípio liberal de inocência – , não ser reincidente e preencher o requisitos do artigo 77, do Código Penal35, referente às condições para a suspensão condicional da pena e que navegam pelos mares do subjetivismo e do arbítrio. 34 É possível a oferta da suspensão condicional do processo após o recebimento da denúncia, plausível especialmente em casos de desclassificação penal ou, por exemplo, nos casos de concurso material de crimes, no qual a um deles haja absolvição penal e, assim, ao outro, antes da possibilidade de uma decisão de mérito quanto à pretensão acusatória, se se tratar de um crime com pena mínima igual ou inferior a um ano, o juiz da causa precisa oportunizar a oferta da suspensão condicional do processo pelo Ministério Público. Caso a suspensão não seja oportunizada e a sentença seja proferida, estaríamos lidando com um típico caso de nulidade da decisão pelo vício formal provocar o cerceamento da defesa. 35 Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
241 Sendo aceita a proposta de suspensão pelo réu, a sua formalização será permeada de exigências de comportamentos no decorrer do período de provas, cujas previsões serão delineadas desde os parâmetros dos parágrafos 1º e 2º do artigo 8936, sendo este segundo uma abertura para exigências específicas determinadas pelo juiz, da qual se espera que respeite a adequação e proporcionalidade da medida, uma vez que a suspensão não é uma condenação e, ainda que seja permeada por uma lógica restritiva, não pode ser seu conteúdo eminentemente punitivo. Por fim, quanto a tal instituto, vale indicar que nos parágrafos seguintes há previsão sobre revogação e cumprimento da suspensão. Quanto ao primeiro aspecto, novamente se questiona a possibilidade da suspensão diante do mero processamento do beneficiado, suspendendo, novamente, a presunção de sua inocência. Se nenhum dos passos acima ocorrer, o processo se desenvolve, respeitando o rito sumaríssimo, caracterizado pela sua maior brevidade e informalidade.
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) § 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) § 2º - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de 70 (setenta) anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) § 2o A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (BRASIL, 1940).
36
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal ). § 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; II - proibição de freqüentar determinados lugares; III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. § 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado (BRASIL, 1995).
242 Todos estes elementos acima narrados nos permitem uma mínima aproximação das mudanças processuais e sistêmicas introduzidas pela Lei 9099/95 na seara criminal. Nestas últimas linhas escritas sobre o tema, cabe-nos apontar alguns balanços possíveis de serem realizados após mais de duas décadas de sua implementação. Fabiana de Assis Pinheiro (2010) realizou uma pesquisa de campo no Juizado Especial Criminal de Brasília e pode alcançar informações emblemáticas de algumas de nossas preocupações. Do mesmo modo, Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo (2001) analisou a implementação dos Juizados em Porto Alegre. O Brasil passa a implementar projetos aparentemente de retração penal desde a introdução das penas alternativas, com as Leis 7209 e 7210 de 1984, alcançando a definitiva Lei das Penas Alternativas 9714/98 e, no mesmo sentido, a aqui analisada Lei 9099/95. Ao transitar pelas propostas político-criminais do realismo de esquerda, do abolicionismo e do minimalismo, extrai-se o projeto comum de retração do sistema penal. Esse projeto comum agrega-se à proposta de substituição da intervenção penal por mecanismos de resolução de conflitos, construídos em espaços alternativos ao terreno penal (PINHEIRO, 2010, p. 92).
Ocorre que estes casos não seriam mecanismos de resolução de conflitos no âmbito comunitário, mas sim jurídico-institucional, e mais, desde o âmbito criminal. Ademais, tais medidas que supostamente seriam de retração penal coincidem suas implementações com o período de neoliberalização das vidas e de aplicação de uma profunda política de austeridade por parte do Estado brasileiro. Na medida em que o Estado consegue, pela via da informalização, articular ao mesmo tempo uma resposta à crise fiscal e o controle sobre ações e reações sociais dificilmente reguláveis por processos jurídicos formais, ele está de fato a expandirse por sobre a sociedade civil. A dicotomia Estado/sociedade civil, tão cara ao pensamento da modernidade, deixa de ter sentido teórico, e o controle social pode ser executado na forma de participação social, a violência na forma de consenso, a dominação de classe, na forma de ação comunitária (AZEVEDO, 2001, p. 107).
O resultado possível de ser auferido na materialidade dos efeitos destas alterações legais foi não o de substituição penal, mas sim ampliação do campo de abrangência punitiva e reforço do lugar simbólico da prisão. Os Juizados Especiais Criminais tornaram-se verdadeiro Cavalo de troia da política criminal brasileira, um engodo falsamente descarcerizador e que introduziu a lógica negocial em nosso sistema processual penal, hoje temível por uns e desejada por outros (como abordaremos em tópicos subsequentes). Dialogando com os autores das pesquisas acima referidas, Fabiana Pinheiro afirma que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a necessária criação do Juizado Especial Criminal para o processamento dos crimes de menor potencial ofensivo, estabelecendo no país uma
243 lógica do que ela denomina como bifurcação penal, com sentidos duais possíveis, “um, às questões simples; o outro, às causas complexas, revelando o ajustamento do modelo penal brasileiro à transformações experimentadas pelos sistemas penais nos países do centro, durante a segunda metade do século XX” (PINHEIRO, 2010, p. 92). Ocorre que a implementação dessa racionalidade jurídica bifurcada foi apropriada por discursos com fundamento na eficiência, porém fantasiados de elementos de crítica ao sistema penal em si. A tese da autora, compartilhada por nós e demonstrada empiricamente desde a realidade brasiliense, é de que o resultado desse processo foi “a ampliação do controle penal formal que passou a intervir na criminalidade, que antes se colocava fora do sistema formal de controle” (PINHEIRO, 2010, p. 95). A migração dos processos que envolvem crimes de menor potencial ofensivo para o Juizado não significou diminuição do movimento processual das Varas criminais. Ademais, a análise que a autora faz da evolução das investigações e termos circunstanciados encaminhados ao Juizado revela um aumento de ocorrências em quantidade significativa e até mesmo alarmante: (...) expressão do crescimento do controle penal pelo JEC revela-se diante da comparação entre a progressão do número de inquéritos policiais distribuídos às varas criminais e o aumento da quantidade de termos circunstanciados remetidos ao JEC. Nessa contraposição, como demonstra a figura quatro, a distribuição de inquéritos policiais cresceu 54,2%; a distribuição de termos circunstanciados, 436,7% (PINHEIRO, 2010, p. 98).
De acordo com a realidade pesquisada por Fabiana Pinheiro, o Jecrim passou a representar 62% do total da intervenção penal realizada. A realidade estudada por Rodrigo Azevedo se guia no mesmo sentido: Com a implantação dos Juizados Especiais, havia a expectativa de uma significativa redução do movimento processual nas Varas Criminais Comuns, que poderiam, assim, concentrar a atenção nos delitos mais graves. A análise do movimento processual verificado na Comarca de Porto Alegre nos dois anos anteriores e posteriores à implantação não confirma essa expectativa (AZEVEDO, 2001, p. 103)
Fabiana Pinheiro afirma que outro fenômeno observado é que 58% dos casos resultam em arquivamentos por retratação ou renúncia da vítima. Já Rodrigo Azevedo (2001) afirma que em sua pesquisa empírica nos Juizados de Porto Alegre se pode perceber também o predomínio do arquivamento, tendo como principal causa a ausência de intimação das partes para a audiência de conciliação, prevista no artigo 71 da Lei. A pessoa não sendo intimada e sequer tendo noção de que o registro da ocorrência por si só não significava uma
244 representação, desconhecia o prazo decadencial de seis meses, e, deste modo, o arquivamento se consumava. O que se percebe é que controles de conflitos que antes se davam de maneira informal ou passavam pelo exclusivo crivo da autoridade policial – já que com o JECRIM não há mais possibilidade de flagrante delito e de instauração de inquérito policial –, agora são institucionalizados. O ponto é que o Juizado acaba por funcionar, na maioria dos casos, não como mecanismo de resolução diferenciada dos conflitos, mas como arquivador de problemas. Nem a solução anterior nem esta possuem cunho emancipatório ou minimamente pautadas em uma lógica cidadã. A conclusão é que, em vez de assumir uma parcela dos processos criminais das Varas Comuns, os Juizados Especiais Criminais passaram a dar conta de um tipo de delituosidade que não chegava até as Varas Judiciais, sendo resolvido através de processos informais de “mediação” nas Delegacias de Polícia ou pelo puro e simples “engavetamento”. Com a entrada em vigor da Lei 9.099/95, as ocorrências policiais deste tipo de crime, que se encontravam nas Delegacias, aguardando a realização de inquérito policial, e que normalmente resultavam em arquivamento pela própria Polícia Civil, foram remetidas para os Juizados Especiais (AZEVEDO, 2001, p. 103).
Deste modo, encerramos esta reflexão apontando os espinhos que cortam o tema, percebendo o efeito real de complementação/ampliação do sistema penal e não de sua substituição por meio da implementação dos Juizados Especiais. Conforme afirma Fabiana Pinheiro (2010, p. 102), “os espaços penais, nesse aspecto, são reivindicados para a resolução de conflitos interpessoais em relação aos quais se mostra incapaz de atuar. Por sua vez, não se podem desprezar os sentimentos dos sujeitos – as dores reais”. E é por isso que uma política criminal alternativa e consciente deve pregar a construção de processos concretos de descriminalização e de espaços não penais de resolução dos conflitos.
3.4.3 Breves apontamentos sobre o impacto do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) e as reações sociais ao mesmo: desafios de uma pauta de segurança contra-tendencial
O Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) foi aprovado como abre-alas da política do primeiro governo Lula na área. Como anunciamos anteriormente, a pauta do controle de armas vinha se tornando central em toda a última década, despertando fortes emoções, seja ao cutucar os interesses dos poderosos da indústria armamentista, seja por ser
245 pauta facilmente explorada no comércio do vale-tudo midiático, mexendo com emoções e canalizando tendências comportamentais punitivistas. O Estatuto estabelece o controle da venda e da circulação de armamento no país. De acordo com a lei, civis não poderiam portar armas, havendo a previsão de exceções devidamente fundamentadas, sob o registro junto à Polícia Federal e pagamento de taxas. Este porte não é definitivo, sendo necessário o respeito a quesitos como ausência de embriaguez ou uso de outra substância que altere as capacidades sensitivas e cognitivas. Assim, haveria uma prevalência da possibilidade do porte a funcionários pertencentes aos órgãos da segurança pública (policiais civis, militares, federais e rodoviários federais, agentes de inteligência, auditores fiscais), Forças Armadas e agentes de segurança privada em serviço. O Estatuto previa a realização de um referendo popular para que a população confirmasse acerca da proibição total da venda de arma de fogo e munição, que realizado em 2005. A pergunta apresentada à população era: “o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil”. As respostas de 63% das pessoas foram “Não”, ou seja, foi rejeitada por significativa maioria. Com isso o comércio foi mantido, porém com uma série de exigências e restrições. Um episódio marcante na história da democracia brasileira. Assim como dissertamos no item sobre a Lei dos Crimes Hediondos e seu impacto, reafirmamos neste momento que índices por si só não revelam a complexidade dos fenômenos. O fato é que houve uma sensível diminuição do crescimento da curva de homicídios no país após a aprovação do Estatuto. Ainda que, sem sombra para qualquer dúvida, a explicação deste fenômeno não poderia ser reduzida à aprovação e implementação de uma Lei, seguramente ela é parte da miríade de elementos para a compreensão. De 2003 a 2009, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) indicou a redução em 40% na compra de armas no país (com base na pesquisa de orçamento familiar –POF do IBGE). A pesquisa “De onde vêm as armas do crime” (2013), elaborada pelo Instituto Sou da Paz, sugere que o Estatuto do Desarmamento tem sido eficiente para reduzir o acesso a armas: os indicativos são o aumento do uso de simulacros dos artefatos apreendidos, e 64% das armas apreendidas em eventos criminais entraram em circulação antes de 2003. Impactos diferentes na redução dos homicídios em cada Estado para reduzir a circulação de armas (...) Verificou-se que aqueles em que redução na circulação de armas foi maior, foram também os estados em que os homicídios mais caíram (AZEVEDO, CIFALI, 2017, p. 59)
246 Para além de definir regras específicas para a comercialização, a Lei 10.826/2003 estabelece penas específicas para tráfico internacional de armas de fogo – antes incluídas nos tipos contrabando ou descaminho e aumenta a de crime de porte ilegal de armas, bem como define a centralização da Polícia Federal e do Exército no exercício de controle das armas. O embate sobre a maior flexibilização para a comercialização continua atualmente.
3.4.4 A Lei Maria da Penha enquanto reação feminista à banalização da Justiça no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher e seus impactos na política criminal
Há muitos balanços a serem feitos, muitos limites a serem ponderados e muito a ser construído, afinal, uma lei sempre é expressão de conflitos sociais e enfrentará, como dizia Roberto Lyra Filho, a sua própria ressaca. Uma lei nunca acompanhará o movimento do real, não possui a sua dialeticidade e, portanto, estará, inevitavelmente, em uma condição inerente de superação. Tudo isso não anula a importância dessa lei no “desocultamento” e enfrentamento qualificado da violência de gênero em nosso país. Esta Lei não foi pensada e conquistada por um grupo seleto de parlamentares. Do mesmo modo, ela não expressa apenas a convicta e corajosa luta da senhora Maria da Penha pelos seus direitos, publicizando e politizando o seu caso, que ganha repercussão internacional ao alcançar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas sim foi expressão de um acúmulo do movimento de mulheres no Brasil naquele contexto histórico. O problema da violência de gênero e, mais especificamente, o problema da violência doméstica contra mulheres no Brasil carrega índices alarmantes, inclusive sob parâmetros internacionais. De acordo com dados compilados pela Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, o Brasil tem uma denúncia de violência contra a mulher a cada sete minutos e, entre os relatos de violência, 85,85% corresponderam a situações em ambiente doméstico e familiar (ESTADÃO, 2016). Segundo o Mapa da Violência de 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil (WAISELFISZ, 2015), elaborado pela FLACSO (Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais) com o apoio do escritório no Brasil da ONU Mulheres, da Organização PanAmericana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), o país ocupa o quinto lugar entre os índices de feminicídio no mundo.
247 A mesma pesquisa revelou que a intersecção de discriminações torna as mulheres negras o setor social mais exposto à violência fatal. Um dado impactante foi que durante o período de 10 anos (2003-2013), o número de feminicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, já o número de mulheres negras subiu 54,2% no mesmo período. Segundo levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública para o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016, cinco mulheres são estupradas por hora no Brasil e pela nota técnica “Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados de saúde” de 2014, do IPEA, 51% das vítimas de estupro no Brasil são negras (CERQUEIRA; COELHO, 2014). Pensando nas especificidades e pluralidades das mulheres, faz-se imprescindível destacar a invisibilidade e as especificidades das violências misóginas sofridas por mulheres transexuais e travestis, cuja expectativa média de vida é muito inferior à média nacional (em torno de 35 anos) (MARTINS apud ANTRA, 2017) e a exclusão do mundo do trabalho as obriga aos trabalhos mais precários e à prostituição – trabalho ainda mais desprotegido legalmente – como, muitas vezes, única possibilidade. Nos últimos tempos, inclusive em decorrência da política pública impulsionada pela Lei Maria da Penha, o país avançou significativamente na produção de dados, entretanto, ainda há muito a se aprimorar e, mais do que tudo, a realidade evidenciada através dos dados, no tema específico da violência contra a mulher, é ainda permeada por elevado grau de subnotificação. Trata-se de um processo paulatino de desocultamento e desnaturalização da violência. Isso significa que o fortalecimento de uma política pública de enfrentamento à violência contra a mulher permitiu uma publicização e politização deste fenômeno, revelando cifras ocultas. Vivemos, há alguns séculos, uma relação de gênero opressora do homem sobre a mulher. Essa estrutura de poder desigual, o patriarcado, não é estática e nem determinista, ela se transformou no tempo e o capitalismo a incorporou e potencializou, construindo-se como um modelo global de exploração/dominação que entrecruza as dimensões de raça, classe, gênero e sexualidade, produzindo e reproduzindo desigualdades sociais imprescindíveis para sua expansão. A violência contra as mulheres, por motivação de gênero, é expressão máxima desta desigualdade estrutural. A naturalização de papéis sociais rigorosamente definidos como masculinos e femininos, que reforça o predomínio masculino no espaço público e político –
248 espaços de poder social – e que se expressa em uma divisão sexual do trabalho em todos os seus níveis está atrelada à cultura do estupro e à violência contra a mulher. É preciso atribuir características ontológicas ao ser mulher que justifique sua maior inserção em trabalhos domésticos, trabalhos de cuidado, trabalhos afetivos, trabalhos mais precarizantes, mais repetitivos, trabalhos de secretaria. Tais características passam de amabilidade a fraqueza, confirmando em uma medida ou outra que o lugar da mulher é o do espaço privado. E quando a mulher está no espaço público, seu corpo está disponível. Seu lugar não é lá e ela não é dona de si. Pode ser incomodada ao ponto de ser violentada. Portanto, a construção de relações sociais desiguais entre os sexos se expressa econômica, política e culturalmente, não sendo dimensões ou processos apartados. E a violência contra a mulher é, portanto, aqui compreendida como reflexo da concretude das relações sociais de gênero, classe e raça na ordem do capital. A tradução disso é o ponto de partida, neste trabalho, de que a violência contra a mulher é um problema social gravíssimo, cujo raio da análise se distancia da individualização ou da ontologização masculina da questão. Esta concepção não afasta a possibilidade de que homens sofram violência, inclusive causadas por mulheres. O que se constata é que esta é residual se comparada ao problema público da violência contra a mulher. Ainda neste sentido, é importante perceber que as mulheres, enquanto categoria social, não têm um projeto de dominação-exploração dos homens. Portanto, esta relação que projeta o homem em um locus de domínio envolve também as mulheres – ou seja, impregna a todos “de corpo e alma” - por isso estas também podem “contribuir” na produção desta violência de gênero, reproduzindo-a, mas jamais enquanto cúmplices deste projeto, pois não são, em qualquer medida, beneficiadas do mesmo. Tratar da Lei Maria da Penha é, necessariamente, rememorar os passos longínquos das mulheres organizadas no país, denunciando as opressões e reivindicando outro lugar social, com possibilidade de vida digna, livre e plena. Neste meio tempo, foram muitas as conquistas, “marcadas por mobilizações em desfavor da violência privada contra a mulher e ampliação dos pleitos por transformações jurídicas a esse respeito” (MONTENEGRO; SALAZAR, s/d, p. 8). No campo estritamente jurídico-penal, destacamos a custosa revogação de tipos penais como atentado violento ao pudor, rapto, sedução e adultério; a revogação de causas de extinção de punibilidade em decorrência de casamento da vítima com o agressor; o afastamento da tese de “legítima defesa da honra” (ainda que “sob forte emoção” ainda a
249 substitua); o afastamento da classificação de “mulher honesta” para certos crimes sexuais – e da impossibilidade de configuração do estupro quando da relação conjugal. Ressaltamos, dentre as conquistas, a criação das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres, ainda na década de 90. Em 1983, acompanhando as eleições dos primeiros governos democráticos, foi criado o primeiro Conselho da Condição Feminina em São Paulo e, logo em seguida, o do Estado de Minas Gerais e o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres (CNDM), em 1985. Associadas a essas iniciativas, várias ações foram institucionalizadas, com destaque para o movimento das mulheres que reivindicaram a criação, com o apoio do Ministério da Saúde, do Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher (PAISM). No entanto, a iniciativa que teve maior expressão e repercussão como política pública foi a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) e representou um ganho político significativo, pois tornava o Estado também responsável pelo controle dessa violência (BANDEIRA, 2009, p. 413).
Neste contexto de conquistas para consolidação de uma política pública de proteção à mulher, houve uma reação das mesmas contra a banalização do tratamento dos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito do Juizado Especial Criminal. Para as feministas, houve uma limitação na atuação das DEAMs com a Lei 9099/95, ao se suprimir a realização do inquérito policial para boa parte dos casos de sua competência. Ademais, as sanções de cunho pecuniário e outras penas alternativas passam a ser desacreditadas,
pela
maneira
massificada,
despersonalizada,
desinteressada
pela
complexidade específica do conflito em questão, da extensão da violência e das melhores fórmulas de resolução dos impasses e de proteção da mulher concreta em situação de violência. Além disso, a demanda conciliatória muita vezes era encarada como sendo uma imposição, justamente pelo despreparo e desinteresse dos juízes, promotores e equipes como um todo, atuante nos Juizados. Para o movimento feminista em geral, o enquadramento de muitos dos crimes que envolvem violência contra a mulher como crimes de menor potencial ofensivo significava, por si só, a diminuição da complexidade de compreensão desta violência, ignorando-se “as especificidades inerentes ao papel da mulher na sociedade e na relação conjugal” (PASINATO, 2005, p. 95). Melo e Medeiros (2014) ensinam que uma significativa parcela das causas sob a competência do JECRIM, na casa dos 70%, era atrelada à violência doméstica e familiar contra a mulher. Os crimes de maior incidência de cometimento com violência doméstica e familiar contra a mulher são ameaça, lesão corporal leve e crimes contra a honra.
250 Esta situação de descaso e despreparo gerou uma reação do movimento de mulheres que resultou, quando da elaboração da Lei Maria da Penha, em um rechaço declarado à possibilidade do uso da lei e dos seus institutos. Algumas pesquisas de campo já realizadas possuem a capacidade de ilustrar o cenário e indicar possibilidades de generalização. Mello e Medeiros (2014, p. 11) descrevem resultado da análise, por três anos, dos processos do Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Recife, quanto a este aspecto: Tais resultados foram confirmados na pesquisa de campo realizada no 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da cidade do Recife, a qual apontou que os crimes com maior incidência naquele Juizado são: ameaça (52,3%); crimes contra a honra (25,7%) – dentre os quais se sobressai a injúria; e lesão corporal leve (14,7%). Importante dar destaque nessa estatística às contravenções penais (2,1%) – “revitalizadas” pela Lei Maria da Penha – que aparecem logo após as lesões corporais leves como uma das infrações penais de maior incidência no Juizado. Enfim, dentre os crimes restantes (5,2%) – os quais, quando computados individualmente, não têm representação expressiva no resultado geral – podem ainda ser encontrados crimes como o de dano, violação de domicílio, exercício arbitrário das próprias razões, maus tratos e desobediência.
Como a Lei Maria da Penha funcionou como uma resposta a esta insatisfação com o tratamento dado pelo Juizado Especial Criminal? A Lei prevê uma série de mudanças no Código Penal, de Processo Penal e na Lei de Execução Penal, além das suas próprias previsões, que visam este afastamento e, consequentemente, um maior recrudescimento na resposta penal nos casos de sua abrangência. Em primeiro lugar, houve alteração da redação do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, agravando a pena da lesão corporal leve quando a lesão for praticada “contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”. Nas hipóteses deste parágrafo a pena passa a ser de detenção de três meses a três anos (e não mais um ano), justamente para afastar a competência do JECRIM em qualquer situação de lesão corporal leve que envolva violência doméstica. Neste mesmo sentido, a Lei Maria da Penha alterou a alínea f do artigo 61 prevendo como agravante de pena as situações nas quais o agente tenha cometido o crime com violência contra a mulher. Ademais, o artigo 17 da Lei veda expressamente a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como o pagamento isolado de multa. Como uma resposta enfática à intolerância da Lei com a banalização promovida nos tempos de JECRIM.
251 Para ser ainda mais direta, o seu artigo 41 afasta a incidência da Lei 9099/95 a todos os casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Como a grande maioria dos crimes praticados contra a mulher no contexto doméstico e familiar é, notadamente, de menor potencial ofensivo, o afastamento da Lei 9.099 implicou a impossibilidade de utilização da transação penal, suspensão condicional do processo e composição civil em incontáveis casos onde, prioritariamente, seriam possíveis. Ademais, o flagrante voltou a ser autorizado, de modo que o absurdo de se encontrar uma pessoa presa pelo crime de ameaça ou lesões corporais leves passou a ser bastante tangível; sem falar na possiblidade (também autorizada pela Lei) de conversão dessa prisão em preventiva (MELLO; MEDEIROS, 2014, p. 11).
Como já antecipado ao final da citação acima, a questão da prisão preventiva é outra polêmica que se instaura, pois o artigo 20 institui a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício ou diante da apreciação judicial de requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial. O fato é que a lei conhecida como “nova lei de prisões” – 12403/2011 – alterando a redação do artigo 313 e outros do Código de Processo Penal, prevendo em seu inciso III que “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência”, pode-se decretar a prisão preventiva para “garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Com isso, as diferenças giram em torno da interpretação de que esta seria uma modalidade específica de prisão preventiva, que independeria dos elementos de cautelaridade taxativamente previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Quanto aos elementos de materialidade do crime e indício suficiente de autoria não há dúvidas de que são exigências a toda e qualquer medida cautelar pessoal no processo penal. Já quanto às exigências de se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos ou ser reincidente em crime doloso, o entendimento majoritário é de que o inciso III seria alternativo aos demais, entretanto, para parte dos doutrinadores e da jurisprudência, só aplicável quando do descumprimento de uma ou umas medidas protetivas de urgência. Diante de todos estes elementos inaugurados com a Maria da Penha, de interdição de outras legislações e institutos, em alguma medida estamos a tratar do alheamento de medidas que minimizam o uso do cárcere, como uma espécie de confiança de que isso significará, necessariamente, maior seriedade por parte do Estado no trato desta específica forma de violência. A mesma pesquisa citada acima traz um indicativo preocupante, constatando que
252 (...) em 33,2% dos casos analisados o réu esteve preso durante o processo e, ao término da Ação, com a prolatação da sentença, em apenas 10,1% dos processos o réu foi condenado. Adiciona-se, ainda, a informação de que nenhuma das condenações levou à privação da liberdade dos acusados, que tiveram suas penas suspensas ou substituídas por penas restritivas de direitos (MELLO; MEDEIROS; 2014, p. 12).
Esta informação indica que a prisão preventiva torna-se, em regra, mais danosa que a pena definitiva, nos casos em que for este o desfecho decisório. Em outros termos, a prisão “cautelar”, nestes casos, acaba por cumprir o papel de uma pena antecipada e abusiva. Voltando às dificuldades com os dados, ainda é difícil mensurar o impacto da Lei Maria da Penha nos índices de encarceramento no país. O último INFOPEN apenas declara a quantidade de pessoas aprisionadas por enquadramento no artigo 129, parágrafo 9º, que era da ordem de 4826 homens em Junho de 2016. Este dado engloba apenas os casos de lesão corporal leve com violência doméstica contra a mulher, existindo tantas outras incriminações sob o enquadramento da Lei. De qualquer modo, esta quantidade numericamente acima identificada revela uma porcentagem pequena – na casa dos 1% – ao se comparar com tráfico (26%), roubo (26%), furto (12%), porém demonstra estar entre os 10 tipos penais de enquadramento de 89% dos homens privados de liberdade no país hoje. Isso não é pouco significativo em termos de política criminal, ainda mais ao se notar, evidentemente, que se tratou de uma escolha política de afastamento de medidas desencarceradoras. Fizemos no tópico anterior uma crítica aos perigos da lógica negocial introduzida com o Juizado Especial Criminal, à ampliação dos braços penais com o impacto da Lei 9099/95 e suas reformas, mas nada retira o fato de que o aprisionamento é sempre maléfico e, como poderemos refletir a seguir, neste caso, mais ainda do que o geral, é sobremaneira maléfico a todas as pessoas envolvidas, com destaque à mulher em situação de violência. Assim, é fato que temos inúmeras críticas processuais a serem feitas à Lei 9099/95, no entanto, compreendemos que, nestes casos, os problemas se concentravam na ausência de formação dos magistrados, assim como dos demais construtores do sistema de justiça, desde a perspectiva de gênero e da própria desumanização e conservadorismo da Justiça. Ou seja, pensamos que o problema não estava necessariamente ligado à aplicação de uma pena alternativa à prisão, mas sim à automatização das medidas aplicadas e a ignorância dos magistrados acerca da complexidade na resolução deste conflito. Os fatos são: as respostas eram insuficientes para um problema complexo e as atuais saídas precisam ser avaliadas, verificando se houve uma ruptura capaz de saltar qualitativamente na proteção e no fortalecimento das mulheres em situação de violência.
253 Para além de analisar o impacto político-criminal destas previsões mais relacionadas a aspectos processuais penais, é fundamental ter um panorama sistêmico da Lei, destacando, em igual medida, as rupturas inquestionavelmente relevantes desta construção legal. O primeiro ponto é quanto à necessidade de se redimensionar a extensão de um crime quando envolve violência doméstica, pela sua complexidade, pois não se trata de uma agressão pontual, bem como o seu conteúdo não é completamente palpável (muitas vezes uma lesão leve pode ser conseqüência de uma série de outras violências). A Lei Maria da Penha foi mais um importante passo nessa reivindicação, pois por meio dela se formalizou no Brasil um conceito complexo do que é violência doméstica contra a mulher, indo além violência física e também conceituando a psicológica, a moral e a patrimonial. A Lei derivou da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e erradicar a violência contra a mulher (Convenção Belém do Pará), que ampliou os conceitos capazes de apreender as múltiplas formas da violência contra a mulher. A Lei foi criada em 2006 e busca disciplinar regras especiais para a violência DOMÉSTICA e FAMILIAR contra a MULHER: ou seja, a relação entre as partes não necessariamente será de parentesco, porém deverá haver um vínculo doméstico, ainda que isso não signifique coabitação, ou seja, exige-se um convívio permanente com ou sem vínculo familiar e, ademais, o polo passivo necessariamente será uma mulher (toda e qualquer mulher, cis ou transexual). Quanto às mulheres transexuais e as travestis, ainda hoje é preciso se reivindicar o óbvio da sua proteção pela Maria da Penha, especialmente daquelas que ainda não tenham seu nome social reconhecidos juridicamente (e que precisam ser respeitadas enquanto mulher, simplesmente pela sua autoidentificação, tendo acesso de qualidade a todos os serviços necessários). A letra da lei é expressa na abrangência de sua aplicação independentemente de orientação sexual, o que traduz a sua aplicação entre casais homossexuais, compreendendo que há possibilidade de papéis sociais desiguais também nestas relações. O artigo 7º da Lei 11340/2006 define as diferentes formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência física é a mais “fácil” de ser compreendida enquanto violência, ainda que nem sempre deixe marcas, como, por exemplo, cuspir na cara, ou suas marcas tenham características distintas pela cor da pele. A violência psicológica pode ser silenciosa, cotidiana e capaz de fragilizar a autoestima, colocando em xeque a própria personalidade da mulher e provocando cada vez mais o seu isolamento, o que torna ainda mais difícil sua superação.
254 Cabe destacar que a violência psicológica se caracteriza, principalmente, pelo continuum de elementos, não sendo restrita a situações episódicas. Situações ofensivas fantasiadas de brincadeiras, críticas sobre suas atitudes, sobre sua aparência, o controle da forma de se vestir, de comer, pensar e se expressar. Podemos identificar relacionamentos abusivos por meio da análise do que se passou a denominar como ciclos de violência, composto por uma fase de tensão (xingamentos, maus tratos em público, ciúmes excessivo), seguida de uma de agressão (empurrões, ameaças, cuspidas, puxadas de cabelo) e, por fim, a fase da reconciliação (com agrados e promessas de mudanças). A tendência é a repetição do ciclo, com a fase da agressão sendo cada vez mais grave e com intervalos cada vez menores entre elas. Ao contrário dos infelizes ditados populares, nós bem sabemos que são muitos os desafios para que uma mulher consiga romper o ciclo de violência, podendo passar por ameaças, dependência econômica, medo de perder a guarda dos filhos ou mesmo de prejudicar a relação deles com o pai, vergonha, dependência afetiva (a lembrança dos bons momentos e a esperança de que ele pode mudar), desconfiança e medo da polícia e dos órgãos de segurança pública e de justiça criminal em geral, solidão... A violência sexual abrange situações como ser obrigada a manter, presenciar ou participar de relações sexuais ou a se prostituir, passando por ser impedida de usar métodos contraceptivos, forçada a matrimônio, gravidez ou aborto. Quando se pensa nas violências sexuais permeadas por LBTfobias, o “estupro corretivo” é presente: praticar a violência sexual com o argumento de “convencer” que sua orientação sexual ou identidade de gênero são equívocos ou desconhecimentos. O estupro, então, é um ato pseudo-sexual, um padrão de comportamento sexual como expressão de um exercício de poder, pautado na agressão, no controle e no domínio. O estupro não se pauta no prazer sexual ou na satisfação sexual. Após a reforma do Código Penal em 2009, o estupro não mais se reduz à conjunção carnal, à penetração, ampliando-se às intimidades sexuais sem consentimento. Paulatinamente foi se descobrindo que o estupro ocorre com muito mais frequência do que se imaginava e que a vítima e o autor muito frequentemente se conhecem. Tratam-se de violências praticadas por estranhos, na rua, sim. Mas sobretudo, e majoritariamente, nas relações de parentesco (por pais, padrastos, maridos, primos), profissionais (pelos chefes) e de conhecimento em geral (amigos). Ocorrem, portanto, na rua, no lar e no trabalho; contra crianças, adolescentes, adultas e idosas, tendo sido denunciado contra vítimas desde poucos meses de idade até sexa ou octogenárias e praticadas por homens que nada tem do estereótipo
255 “tarado”, desviado sexual ou “anormal”. Violência sexual é, em grande medida, violência doméstica. E, muito embora a definição legal do estupro (artigo 213 do Código Penal) prescinda desta exigência, a lógica da honestidade divide subliminarmente as mulheres, entre aquelas que merecem ou não o status de vítima, a depender do seu lugar social, da sua composição familiar nuclear heterocismonogâmica, do grau de visibilidade do seu exercício autônomo da sexualidade. O que significa dizer que a seletividade que olhará para o homem, supostamente violentador, com perspectiva mais ou menos criminalizante, também se operará para com a mulher, merecedora ou não do reconhecimento de sua dor e da violência sofrida. Estes juízos são permeados de preconceito, lugares comum, estereótipos, constituindo exercício velado de um poder sobre o corpo feminino. Seja como vítima, como autora, o sistema penal tenderá a imprimir olhar sexista sobre as mulheres. A cultura do estupro corrobora para a construção da naturalização da violência. Um exercício cultural e comportamental cotidiano que negligencia e desvaloriza o desejo sexual e o consentimento feminino. Nas revistas masculinas, nas piadas naturalizadas, em propagandas de produtos destinados ao público masculino, que oferecem o produto e a mulher hipersexualizada de brinde ao consumo, nos programas de TV que exigem corpos femininos calados, na pornografia promovida pela indústria massiva pornográfica. Em todos estes espaços atribui-se ao masculino o sujeito da sexualidade e ao feminino o seu objeto. Não, não é SÓ uma piada, é de violência mesmo que estamos falando. Quanto à violência patrimonial, estamos a lidar com todas aquelas situações que, em alguma medida, inibem ou impedem o exercício cível da mulher, seja pela retenção de seus documentos e cartões, seja pela operacionalização financeira ou imobiliária de bens em comum sem o consentimento da mulher. Por fim, a violência moral abarcaria ofensas, calúnias, xingamentos, difamações e injúrias. Situações nas quais a mulher seria humilhada publicamente, por meios virtuais ou presencialmente. Violência esta costumeiramente atrelada à psicológica. Sendo assim, desde esta conceituação dos diferentes matizes da violência contra a mulher, a primeira parte da Lei traçará normas programáticas, para criação de políticas públicas e estratégias estatais para a erradicação da violência doméstica. A lei prevê medidas integradas de prevenção, desde integração operacional entre órgãos e capacitação dos funcionários da segurança pública, até realização de estudos e pesquisas, ações de coibição de papéis femininos estereotipados nos meios de comunicação
256 social que legitimem a violência doméstica e familiar, campanhas educativas e de prevenção sobre o tema, programas educacionais e previsão do conteúdo nos currículos escolares. Dentre as medidas de assistência, a lei prevê atuação articulada entre os órgãos de assistência social, saúde e segurança pública. Há a previsão de medidas específicas para proteção social da mulher em situação de violência, tal como a garantia de remoção, se necessário, quando servidora pública, ou a manutenção do vínculo trabalhista por seis meses, quando trabalhadora contratada pela iniciativa privada. Ademais, a lei garante o atendimento no SUS da mulher que sofreu violência sexual com a disponibilidade da contracepção de emergência e a profilaxia de DST e AIDs. Previsão que foi detalhadamente regulamentada através da Lei 12845/13, prevendo uma política detalhada de atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Além disso, essa lei cria o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que não existia antes e que vem sendo construído vagarosamente em todo o país. Nos locais em que ainda não tenha sido criado, a Vara Criminal deve assumir esta função, conforme o artigo 33 anuncia. Juntamente com a criação do Juizado, a Lei estabelece a importância de constituição de uma equipe de atendimento multidisciplinar – psicossocial, jurídico e de saúde – que possa prestar auxílio, fornecendo subsídios ao judiciário, Ministério público e Defensoria pública, bem como oferecendo orientação, encaminhamentos e medidas de prevenção às pessoas envolvidas, especialmente a mulher. Todos estes elementos permitem a percepção de que, ao contrário da sua própria popularização, a Lei Maria da Penha é uma lei com aspectos cíveis e criminais e, mais do que isso, com diretrizes preventivas de uma política pública contra a violência contra a mulher, passando da coibição de propagandas sexistas à inclusão da temática nos currículos escolares. Portanto, para nós, a Lei Maria da Penha não é apenas aquela que recrudesce processualmente o tratamento daquele que comete um crime com violência doméstica contra a mulher. Ela é também isso, mas não essencialmente isso. Considerando
as
especificidades
destas
violências,
a
11340/2006
detalha
peculiaridades do adequado atendimento à mulher pela autoridade policial, elemento fundamental, considerando que inúmeras vezes esta será a porta de entrada do pedido de apoio estatal por parte desta mulher. A lei garante o direito desta mulher ter um atendimento policial e pericial especializado e com pessoas servidoras devidamente capacitadas, indicando a preferência por servidoras mulheres.
257 Esta parte da Lei teve sua redação alterada recentemente - ao final do ano de 2017 - e introduz a necessidade de uma inquiração que respeite a integridade física, psíquica e emocional da mulher, evitando sua repetição para que se minimize revitimizações institucionais. Ainda neste sentido, há previsão legal de proteção policial e seu encaminhamento ao hospital, posto de saúde ou Instituto Médico Legal, o acompanhamento para retirada de seus pertences em sua casa e o transporte para o abrigo, nos casos em que houver risco de vida. Vale destacar que, desde 2003, com a criação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, a SPM, houve um aprofundamento qualitativo da previsão estatal de consolidação de uma Rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Considerando que as delegacias, especialmente as especializadas, bem como as unidades básicas de saúde são, por excelência os primeiros espaços institucionais de “acolhimento” destas mulheres e de encaminhamento aos demais programas de assistência ou proteção, a previsão de procedimentos deste tipo à autoridade policial é de suma importância. No que tange ao Sistema de Justiça e a Segurança Pública, as informações reunidas apontam para uma crescente demanda dos órgãos especializados e os desafios de transposição da lógica punitivista e machista que direciona seus atendimentos. Se há dificuldades na padronização de atendimentos entre os Centros de Referência e Centros de Cidadania e as Casas Abrigo ou Casas de Recolhimento Provisório, quando deslocamos o olhar para as Delegacias e Juizados isso se torna ainda mais preocupante. Quanto a este âmbito da Rede, parece-nos importante destacar que a atuação, especialmente das Delegacias Especiais de Atendimento às Mulheres (DEAMs), ainda se desenvolve desde a ótica da segurança, nas quais os servidores quase sempre não as encaram como integrantes desta rede de proteção à mulher, mas sim como um serviço de polícia e combate à criminalidade. Uma lógica policialesca que determina um despreparo ao lidar com as especificidades da violência de gênero e que estreita suas relações muito mais com o Ministério Público e Judiciário, ainda majoritariamente pautados nesse mesmo parâmetro da segurança e muito menos com os Centros de Referência à Mulher e outros serviços especializados. Uma das principais reclamações do Ligue 180 é a da má qualidade do atendimento nas delegacias, inclusive nas especializadas. É necessário que haja qualificação dos profissionais das DEAMs, assim como que se garanta, nas delegacias comuns, que também haja um preparo suficiente para um atendimento humanizado das mulheres em situação de violência,
258 pois o impacto de seu atendimento é tremendo, considerando que ainda são poucas as especializadas e mais raras ainda as que funcionem além do horário comercial. Na realidade, não apenas as delegacias comuns, mas todos os outros atendimentos públicos não especializados precisam obter qualificação mínima para atendimento das mulheres em situação de violência desde a perspectiva de gênero, sejam os de saúde, assistência social e do sistema de justiça. Com a Lei Maria da Penha, a polícia civil deverá lavrar o Boletim de Ocorrência e no próprio auto tomar a representação da mulher, nos casos em que ainda haja esta condicionante no exercício da ação penal, uma vez que, após decisão do STF da ADI 4424/2012, reconheceu-se a natureza incondicionada da ação penal em casos de crimes de lesão, independentemente de sua gravidade, quando for praticada contra a mulher no ambiente doméstico. Sem pretensões de me delongar nesta mudança, se por um lado cobra responsabilização maior do Estado e da comunidade, por outro retira, em algum grau, o protagonismo da mulher que vivenciou uma situação de violência definir como e em qual grau e velocidade quererá sanar esta dor. No próprio momento do registro da ocorrência, a mulher deve ser orientada a verbalizar qual ou quais das medidas protetivas de urgência ela avalia ser pertinente para a sua proteção e fortalecimento. A autoridade policial terá até 48 horas para remeter o boletim de ocorrência, com todos os documentos e atos de investigação existentes ao juiz ou juíza, juntamente com o pedido das medidas. Quanto às medidas protetivas de urgência, o juiz possuirá 48 horas para determinar a medida, de acordo com o pedido da própria ofendida, podendo a aplicação ser isolada ou cumulativa. A Lei prevê medidas que obrigam o agressor e medidas que protegem a vítima. As primeiras estão previstas no artigo 22 e se configuram desde o afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima, a fixação de limite mínimo de distância de que o agressor fica proibido de ultrapassar em relação à vítima, bem como proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio, até a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se for o caso. Já as medidas que protegem a ofendida se encontram arroladas nos artigos 23 e 24, permeando medidas de proteção da integridade física e saúde da mulher e seus dependentes, como inserção em programas governamentais e acesso a benefícios assistenciais, até medidas protetivas do seu patrimônio, como bloqueio de contas, indisposição de bens e restituição de bens subtraídos pelo agressor.
259 Se, depois de denunciar, a mulher não quiser dar andamento ao processo, isso será possível em parte dos crimes, mesmo depois da já descrita decisão do STF – quais sejam naqueles de iniciativa privada ou condicionada a representação –, desde que a renúncia aconteça antes do recebimento da denúncia pelo juiz e ocorra em uma audiência específica, prevista no artigo 16 da Lei, com o juiz ou juíza presente e sendo ouvido o Ministério Público, para que haja busca por uma garantia de que a renúncia tenha ocorrido de maneira voluntária, sem qualquer tipo de pressão ou ameaça da pessoa supostamente violentadora. O Ministério Público possui um papel fundamental de fiscalização e cadastro dos estabelecimentos públicos componentes da Rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Neste mesmo sentido, a mulher tem o direito de assistência judiciária previsto no art. 27, devendo ser acompanhada de um advogado em todos os atos. Por tudo o que foi dito até então, posicionamo-nos no sentido de que o aspecto do apelo ao sistema penal é espinhoso e delicado e precisa ser debatido com paciência e responsabilidade no movimento de mulheres. Mas, o fato é que a mulher que “bate na porta” do SUS ou de uma Delegacia relatando sua situação de violência não pode ser considerada como vítima, mas sim como uma mulher que está buscando apoio para superar uma relação de violência, traduzindo a possibilidade de ressignificarmos as relações de gênero e, para isso, precisa do apoio adequado da comunidade, da família e do Estado para subverter sua condição. Dentre os espinhos que permeiam a constituição das roseiras do enfrentamento à violência de gênero, a questão que surge é se todas as Marias almejam a mesma trajetória de Maria da Penha. Este foi um ponto levantado por Marília Montenegro em seu livro (2015) ao evidenciar que a realidade de muitas mulheres é não desejarem a prisão de seus companheiros ou ex-companheiros ou pessoa afetivamente próxima. É preciso que se contemple a reflexão de quais são os possíveis anseios das mulheres em seu conjunto ao denunciarem a vivência de uma situação de violência? Para algumas a interrupção processual pode ser a possibilidade de restabelecer os laços conjugais, para outras, a percepção de limites econômicos para seguir em frente. Há ainda aquelas cujo medo de atingir os filhos com o conflito passa a predominar, dentre outras motivações possíveis. O que é unânime é que a movimentação pública e o soltar de voz quanto ao vivido é sempre um grau de busca por ruptura com o ciclo de violência. E é justamente por significar este grito sufocado que os profissionais que atuam com casos de violência doméstica precisam
260 agir a partir de uma escuta responsável, enxergando a mulher violentada como protagonista do seu próprio cuidado. Portanto, são múltiplos os fatores que determinam uma possível desistência dessas mulheres: afetividade ainda existente, desamparo, filhos, esperança de mudança, medo, conformismo com a realidade de violências, sentimento de culpa (como se o agressor se tornasse vítima ou relativizando a agressão sofrida). Porém, a desistência não pode significar ausência de resistência, mas talvez falta de nitidez sobre como exercer sua autonomia. Como afirma Wania Pasinato (2005, p. 91), “pode-se também argumentar que após estas ocorrências terem sido conhecidas no espaço público (através da queixa policial), passaram por um processo de ressignificação que podem ajudar na busca de alternativas para sua solução”. Marília Montenegro reflete sobre esta perspectiva, acrescentando a dimensão da culpa muito frequentemente sentida pelas mulheres ao saberem das condições desumanizantes de cumprimento de pena na maioria das unidades prisionais do país. A autora conclui a reflexão da seguinte maneira: Nesse ínterim, a crença de que, com a punição do agressor, a vítima poderá descansar e encontrar sua paz, é tão falaciosa quanto os ideais de ressocialização e prevenção que acompanham o modelo da justiça encarceradora. Quando o processo termina com a imposição de uma medida constritiva, a mulher, que ainda partilha sentimentos afetivos pelo agressor, ao ver o sofrimento do condenado no cumprimento da pena, sente-se uma violadora e não mais uma vítima, já que vislumbra o mal causado ao agressor muito mais gravoso que aquele que ele lhe causou (MELLO; MEDEIROS; 2014, p. 9-10)
Para as mulheres em situação de violência doméstica, a prisão da pessoa com quem possui ou possuía algum nível de afetividade e compartilhamento de vida pode significar também enquadramento em estereótipos em locais sociais que frequente ou pertença, como trabalho, igreja e espaços de lazer. São pesos difíceis de serem carregados. Ainda que pensemos que esta reflexão sobre motivações de não continuidade processual ou da falta de anseio pela prisão do agressor ou do sofrimento por ela causado não deva ser generalizada, ela verdadeiramente permeia os conflitos e angústias de muitos dos casos, uma vez que a quase sua totalidade se refere a ciclos longos de violência no relacionamento, permeados por histórias, bagagens repletas de lembranças e esperanças, dependências afetivas e financeiras de diferentes tipos, desejo de proteção dos filhos e por aí segue a longa lista da complexidade de emoções que permeiam estas violências. Quanto ao comprometimento financeiro, ele pode alcançar o nível não apenas da falta de complementação da renda familiar (ou até mesmo da sua integralidade), mas, em muitas situações, alcança o ponto da própria mulher ter que garantir a defesa legal e os gastos
261 decorrentes dos custos das relações internas às unidades prisionais, isso sem falar nas despesas com visitas. Os estudos empíricos revelam que, muitas vezes, as mulheres em situação de violência acessam o Estado buscando apenas a aplicação das medidas protetivas de urgência, não com o caráter cautelar que lhes conceitua, mas como a medida por excelência de auxílio na ruptura dos ciclos de violência. Muitas mulheres almejam a aplicação das medidas protetivas de urgência como mecanismo fundamental de auxílio na resolução da dor, não desejando que sejam acompanhadas de consequências processuais de cunho punitivista e segregatório. Por tudo isso, conclui-se que o sistema penal tende a oprimir mulheres, seja em qual posição estiverem na relação investigativa ou processual. A compreensão dos motivos do sistema penal ser incapaz de solucionar a violência contra a mulher passa por entender seu papel real de reprodução e reforço de desigualdades e hierarquias sociais. Baratta analisa os efeitos na vida do sujeito aprisionado e na sua estagnação social, reforçando a hierarquia das posições de classe na sociedade: As aplicações seletivas das sanções penais estigmatizantes, especialmente as de prisão, constituem uma fase estrutural essencial para a manutenção da escala vertical da sociedade. Influem negativamente, sobretudo, no status social dos indivíduos que pertencem aos setores sociais mais baixos, pois atuam impedindo seu ascenso social (...). A função da prisão na produção de indivíduos desiguais não é hoje de menor importância. Hoje, a prisão produz, recrutando principalmente nas áreas mais pobres da sociedade, um setor de marginalidade social particularmente qualificado pela estigmatização do sistema punitivo do Estado (BARATTA, 1982b, p. 742)37.
No âmbito de gênero, esta tensão se escancara ainda mais. O seu viés sexista se demonstra na classificação das mulheres a merecerem ou não a condição de vítima; no reforço da exigência de adequação e de “aprendizado” de papéis sociais na execução da pena daquelas criminalizadas – como poderemos analisar adiante -; mas também no fato de ser o cárcere uma instituição total, homogeneizante e anti-pedagógica por excelência, incapaz de ofertar benefícios conscientizadores da condição de violentadores e da possibilidade de superação de papeis sociais pautados em uma masculinidade tóxica. O “tratamento” sempre fracassou (e sempre fracassará) quando se concentra no indivíduo e não se amplia às questões estruturais. Ainda que muito se tenha feito para
37 Tradução livre: “(...) las aplicaciones selectivas de las sanciones estigmatizantes, epecialmente las de cárcel, constituyen una fase estructural esencial para el mantenimiento de la escala vertical de la sociedad. Influyen negativamente sobre todo en el status social de los individuos que pertenecen a los sectores sociales más bajos, pues actúan impidiendo su ascenso social (...). La función de la cárcel en la producción de individuos desiguales no es hoy de menor importancia. Hoy la carcel produce, reclutando sobre todo en las zonas más bajas de la sociedad, un sector de marginalidad social particularmente cualificado por la intervención estigmatizante del sistema punitivo del Estado (...)”.
262 melhorar a prisão, essa instituição não poderia ser um espaço de educação, em um sentido emancipatório. Por trás do tom estigmatizador do jargão “fábrica de delinquentes” há um fundamento real de um processo que Baratta denomina de “desculturização” e “prisionização”, provocado pelos mesmos motivos da impossibilidade de se constituir uma educação emancipadora, pois a prisão em si, ainda que esteja nas melhores condições estruturais – fato não verificado na realidade brasileira - proporciona um isolamento social que é literalmente desumanizador e que constitui precárias e desoladoras formas de sociabilidade e homogeneização de comportamentos dentro do estabelecimento fechado. Portanto, partimos, neste trabalho, do pressuposto de que o problema de gênero é um problema estrutural, sendo historicamente construída uma relação opressora de gênero. Por isso, entendemos ser possível “desessencializar” a violência do homem contra a mulher, percebendo-a como uma expressão máxima das relações desiguais de gênero na sociedade patriarcal-capitalista. Muitos homens crescem apenas com experiências de violência e de repressão aos sentimentos. São educados a terem sempre a violência como resposta aos conflitos. Naturalizam papeis e comportamentos ditos femininos, acreditando ser legítima a violência quando contrariados. Do mesmo modo, o nosso raciocínio também partiu de um referencial teóricocriminológico que “desessencializa” a noção de crime, criminoso e criminalidade, partindo da percepção dos processos de criminalização. Por isso, o sistema penal seleciona agressores, estigmatiza vítimas e reproduz violência. Parece-nos um perigo pensar que punição dos homens agressores seja capaz de amenizar um problema estrutural desta magnitude. A luta contra a violência contra as mulheres passa também por educar os homens e a implementação dos Centros de Educação e Reabilitação dos Agressores, previstos na Lei 11340/2006 e ainda tão raramente implementados, apresentam-se como medidas muito importantes para isso. Por fim, feitas todas estas reflexões e ponderações, destoando das defesas cá e lá, pensamos que a Lei Maria da Penha foi um importante instrumento conquistado para o aperfeiçoamento de uma verdadeira rede de enfrentamento à violência contra a mulher, calcada em um olhar voltado à mulher e seu bem-estar. Diante da realidade crônica e aviltante da violência doméstica contra a mulher no Brasil, a previsão de uma política de prevenção e educação; de exigências para um atendimento policial humanizado e especializado, capaz de evitar processos de revitimização; de uma política de proteção e assistência que proteja a mulher em sua integridade física,
263 psicológica e patrimonial e que promova o seu fortalecimento social são imprescindíveis para que se possa construir uma política pública séria de erradicação da violência contra a mulher. Estes são todos méritos de uma lei construída de maneira enraizada socialmente. A Lei Maria da Penha constitui passo imprescindível no desocultamento e enfrentamento qualificado da violência de gênero no país. Entretanto, isto não anula a responsabilidade que temos que ter ao debater o nítido apelo ao sistema penal que a lei também promove, ao afastar institutos minimizadores do encarceramento, ao restringir garantias processuais e enrijecer penas. A recusa do Juizado Especial Criminal expressa na Lei Maria da Penha, conforme pudemos analisar anteriormente, relaciona-se com o automatismo empregado na aplicação das medidas, com a ignorância e despreparo de magistrados e outros operadores do sistema de justiça criminal, resultando em uma nítida banalização da violência doméstica contra a mulher. Este cenário precisava ser combatido, não há dúvidas quanto a isso. O ponto é o quanto o apelo ao uso simbólico do direito penal é solução para tanto. A seletividade penal é estruturante do sistema penal, como pudemos largamente refletir nos dois primeiros capítulos da tese e não foi nem será diferente com o aprisionamento de pessoas com o enquadramento penal em violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo maioria homens negros da classe trabalhadora, pauperizados. Com infelicidade afirmamos que a operacionalização da Lei Maria da Penha pode sofrer dos mesmos limites e equívocos do funcionamento do Juizado Especial Criminal, tão criticado e rejeitado. O extenso rol protetor à mulher, previsto na lei, pode (e de fato assim o é) não ser efetivamente ou adequadamente implementado, pode não ser priorizado, enquanto o braço penal se torna, a cada período, mais musculoso, sendo sua capacidade de resolução dos problemas de fundo completamente residual, para não dizer inexistente. As observações empíricas da realidade da aplicação da Lei Maria da Penha já possuem estofo suficiente para demonstrar que são as previsões de implementação de uma política pública séria de combate à violência contra a mulher que fazem a diferença real na vida concreta das Marias. As mulheres são muito contempladas com uma real efetivação das sensatas medidas não penais de sua proteção, como as previstas nos artigos 9, 22 e 23 da Lei. Do mesmo modo, partindo do nosso pressuposto de que a violência machista deriva, fundamentalmente, de uma estrutura social capitalista, racista e patriarcal e não de uma essencialização violenta dos homens, acreditamos ser, portanto, possível a construção de relações igualitárias – construídas concomitantemente a uma transformação da sociabilidade
264 em si –, podendo a mulher romper com o ciclo da violência e o homem reconhecer seu machismo e rever posturas, no sentido de uma desconstrução de violências. Desde este ponto de vista, a verdadeira priorização de uma política pública de proteção e fortalecimento às Marias, combinada com programas e campanhas de combate ao machismo e desconstrução de masculinidades tóxicas, junto à implementação de Centros de educação e de reabilitação para agressores nos parecem ser demandas muito mais efetivas e necessárias do que o apelo ao recrudescimento penal. Escapando do que nos parece ser um falso dualismo, pensamos que o desafio está no aprofundamento de todas as virtudes da Lei Maria da Penha, fazendo com que sejam verdadeiramente implementadas e continuar avançando na superação do que nos parece ser equívocos punitivistas da mesma.
3.4.5 A Lei de Drogas (11.343/2006) em sua contextualização histórica e conjuntural
O Brasil possui um específico e estratégico papel na geopolítica da guerra às drogas. Somos o grande varejo das drogas no mundo. Só será possível analisar qual foi a impacto da específica lei de 2006 – a atual – se compreendermos as características mais marcantes do histórico da guerra às drogas e o seu reflexo no país. Nesse mesmo sentido, entender o desempenho do papel varejista é imprescindível para o melhor desenho da onda punitiva brasileira atual, pois advém deste papel a guerra civil não declarada existente no país, responsável pela operação de um verdadeiro genocídio invisibilizado da sua juventude popular negra. Para nós, como referido em muitos momentos do trabalho, a materialização da guerra às drogas no país produz um impacto óbvio no encarceramento. Estamos a tratar do elemento de política criminal mais determinante do problema estudado, englobando um complexo de fatores. O Brasil possui a maior população carcerária na América Latina, como já sabíamos em número de presos, porém aqui incluímos que também proporcionalmente, na quantidade por cem mil habitantes. Dados revelam que a incriminação por tráfico de drogas hoje no país é a principal responsável pelo aumento exponencial das taxas de encarceramento. Pelos últimos dados do INFOPEN, divulgados em 2017, a quantidade total de pessoas presas incriminadas por tentativa ou consumação de crimes de tráfico de drogas no país é da
265 ordem de 176.691 (cento e setenta e seis mil seiscentos e noventa e um), uma média de 28,4% da população total. De acordo com estudos na monografia de Arthur Augusto Groke Faria, do ano de 2006 (ano da promulgação da lei, quando havia uma média de 47472 pessoas em situação de prisão por tráfico) a 2016 houve um salto tremendo da ordem de 300%. Ainda segundo o autor, “comparando-se o mesmo período, vislumbra-se que a população carcerária em 2006, que era de aproximadamente 353.800 presos, saltou para 550.100 presos. Assim, a evolução do restante da população carcerária sofreu um aumento de 155,4% no decorre dos dez anos. O aumento da população carcerária dos acusados de tráfico, portanto, se mostrou 2,4 vezes maior do que o crescimento do restante da população carcerária” (FARIA, 2018, p. 48). Complementarmente, outro estudo revela que, “segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, desde a entrada em vigor da Lei 11.343, em 2006, a população carcerária brasileira aumentou 96%. Nesse período, a proporção de presos por crimes relacionados a drogas aumentou de 15% para 28%” (IBCCRIM, 2017, p. 16). Números que revelam a centralidade desta política, que, conforme muito usualmente se diz dentre os seus críticos, não se trata de uma política de proibição de substâncias em prol de uma genuína preocupação de saúde pública, mas sim de controle de corpos e de eliminação de vidas. É a proibição de circulação de uma mercadoria. Uma mercadoria que, genericamente, a humanidade sempre se relacionou, de um modo ou de outro. Uma mercadoria que é proibida com diferentes conteúdos, em diferentes lugares e tempos históricos. Antes de ontem o ópio, ontem o álcool, hoje a maconha, a cocaína, e por aí vai. O que é proibido e permitido não está relacionado, necessariamente, com danosidade individual ou social, mas sim com uma decisão política. Mais do que tudo, estamos a falar de uma mercadoria proibida, cujo comércio envolve um interesse recíproco de quem compra e de quem vende. Cria-se uma resposta de extrema violência para coibição de uma troca voluntária. Se, em algum grau, podemos afirmar que a política proibicionista fracassou, nestes mais de cinquenta anos de missão, foi no desvelar inquestionável da absoluta falácia de sua função declarada. A proibição nunca eliminou o consumo. O encarceramento do suposto “traficante” não diminuiu o tráfico, ao contrário. Com isso não se quer afirmar que o tema da dependência de substâncias psicotrópicas (as legais e as escolhidas como ilegais) não tenha importância fulcral na agenda de saúde pública. O que não se pode mais esconder é a hipocrisia da sustentação de uma política
266 custosa financeira e socialmente e absolutamente comprovada como mais danosa do que o seu próprio objeto de resolução. Enquanto houver criminalização, inclusive, não haverá real política pública de saúde para a questão, seja porque a proibição gera ausência de dados sobre as substâncias, sua posologia e como se dá seu consumo, seja porque os usuários, ainda que não penalizados, são criminalizados e isso faz com que as pessoas se sintam menos à vontade para recorrer aos serviços de saúde e assistência social. A hipocrisia ideológica escamoteia interesses políticos e econômicos: criar bodes expiatórios a legitimar o expansionismo dos braços repressivos e de controle do estado; criar vantagens econômicas na proibição da venda de certas substâncias, tais como ausência de fiscalização, de tributação, de controle de qualidade e ter no controle artificial de oferta/demanda, via proibição, um fácil instrumento de expansão dos lucros – retidos nas mãos daqueles que não estão sob risco de criminalização.
3.4.5.1 Breve histórico do processo criminalizador e dos seus discursos de legitimação
O termo “Guerra às Drogas”, costumeiramente utilizado refere-se à oficialização pelo governo estadunidense – introduzida por Richard Nixon e levada às últimas consequências por Ronald Reagan e seguintes – de uma política criminal prioritariamente de repressão à venda e consumo de drogas, com pretensões extra-nacionais. Entretanto, como acima se destacou, ela é o aprofundamento neoliberal, com consequências sem precedentes, de processos de criminalização de drogas historicamente existentes,
como
foi
o
conflito
entre
China
e
Inglaterra
com
relação
ao
fornecimento/importação e consumo de ópio nas fronteiras do primeiro país, que envolvia o lucro inglês e o desequilíbrio da balança comercial chinesa. Conflito que, entre proibições e legalizações, gerou duas guerras subsequentes (1839-1842 e 1856-1860) ou como a conhecida proibição do álcool nos Estados Unidos, por 13 anos (de 1920 a 1933), através da décima oitava emenda à Constituição, chamada de Lei Seca, e geradora de conflitos, corrupções e o fortalecimento das máfias no país. Mais de dois séculos de práticas que se repetem em alguma medida e não modificam a realidade posta. Os fundamentos proibitivos são de outra ordem. Estas diretrizes político-econômicas da Guerra às Drogas possuem lastro no direito internacional com as primeiras Convenções sobre repressão ao tráfico de drogas e, após o fim
267 da segunda guerra mundial, com a ONU estabelecendo a Convenção única sobre entorpecentes (1961), com adesão de 74 países e prazos para a eliminação de drogas como ópio, maconha e cocaína de seus territórios. Após esta, houve uma sua emenda, em 1972, bem como a realização da Convenção sobre substâncias psicotrópicas, em 1971. Estas foram seguidas da principal regulação internacional, qual seja a Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, em 1988. O que importa aqui destacar é que nelas foram se desenhando diretrizes discursivas importantes, que, ainda que em alguns momentos com mais e outros com menos inclusões dos discursos médicos, estabeleceu o marco proibicionista repressivo em nível internacional, preponderante até os dias atuais.
3.4.5.2 A formação dos discursos legitimadores da prática repressiva no decorrer da consolidação da política de Guerra às Drogas
Após a segunda Guerra Mundial, um dos principais elementos garantidores do incomparável crescimento e acúmulo de capital do sociometabolismo foi a força do complexo industrial-militar. O tráfico de armas e o tráfico de drogas – que, aliás, são retroalimentados – são inerentes ao período de maior financeirização da economia, com brutal impacto do narcodólares no sistema financeiro. A legitimação do proibicionismo foi garantida pela construção de discursos que se complementaram, em diferentes medidas a cada tempo, quais sejam o médico, o cultural, o moral e o político-jurídico. É o enraizamento e a oficialização de tais discursos que constroi estereótipos justificadores das condutas oficiais. Em outro trabalho pudemos descrever como a construção de tais discursos se deu na história do século XX, a partir da década de 50: Na década de 1950, a droga ainda não era tida como um grande problema, porque seu uso não era tão propagado como nas próximas décadas e ainda não havia adquirido tanto destaque econômico e político. Por esses motivos, a droga era associada ao comportamento de subculturas. Mas havia a crença, que foi se difundindo progressivamente nesse período, da perversão moral provocada pela droga e as opiniões de especialistas sobre seus efeitos físicos e psíquicos começam a se difundir. Olmo também nos contextualiza que foi nessa década o auge das máfias italianas e suas negociações no eixo Havana-Nova York, Com o tempo foram enfraquecidas e o eixo deslocado (BENITEZ, 2011, p. 330).
268 Na América Latina deste período o discurso estava associado à violência da “classe baixa”. Na década de sessenta, pelas próprias transformações mundiais, vincula-se o uso das drogas a um ideário político, libertário, a uma contra-cultura. Rompendo-se a barreira de classe, não sendo mais seu principal público-alvo os desvalidos socialmente, começa a se fortalecer também o discurso médico. Enquanto isso, do lado de cá, com a ditadura empresarial-militar, o discurso contra as drogas se aprofunda no país, como mecanismo de aprofundamento da ideologia da segurança nacional. Conforme afirma Vera Malagutti Batista (2009, p. 5) “com a droga como metáfora contra a civilização cristã. A guerra contra as drogas introduz um elemento religioso e moral (...). Essa cruzada exige uma ação sem limites, sem restrições, sem padrões regulativos” . Na década de setenta fortalece-se o combate à heroína na realidade estadunidense e europeia, enquanto na América Latina a demonização do “indivíduo traficante” deslancha, rotulando os colombianos – que, conforme alerta Rosa del Olmo (1990, p. 60), significavam, naquele período, o maior contingente de imigrantes nos Estados Unidos – como dantes o fizeram com chineses e mexicanos, tanto lá como cá “quando estes grupos se converteram em força de trabalho ameaçadora em momento de crise econômica (...) ocultando deste modo o caráter transnacional do negócio da cocaína no mundo contemporâneo” . Quanto ao Brasil, este período passa a vivenciar impactante transformação da realidade das periferias das grandes cidades, pois a América latina torna-se o locus da produção e o Brasil, em especial, o lugar privilegiado do varejo. Ao final dessa década, Olmo explica que, nos Estados Unidos, inicia-se certa propaganda enrustida do prestígio social de personalidades, como estrelas de cinema ou do meio musical, que faziam uso da cocaína. Essa droga passa a ser abruptamente consumida (em especial nos Estados Unidos), sendo sua produção especialmente alocada na América Latina (BENITEZ, 2011, p. 332).
Michele Alexander destaca que o governo de Reagan já se inicia com os temas da criminalidade e da assistência social como suas grandes questões políticas. Segundo ela, na política de segurança pública, a lema de “ordem nas ruas” ganha contornos mais nítidos, com o desincentivo a serviços de inteligência e o reforço de policiamento ostensivo, com ênfase nos crimes ligados a drogas. O resultado disso, a médio prazo, permeia os elementos narrados no início deste bloco de reflexões acerca dos procedimentos policiais e das autoridades jurídicas para operar a nova segregação racial nos Estados Unidos, via encarceramento. A autora atribui forte destaque ao discurso de combate ao crack na década de oitenta no país, denunciando o alarme em seu artificialismo. Segundo ela, a guerra começa quando o
269 uso estava diminuindo, quando “menos de 2% do público estadunidense via as drogas como uma das questões mais importantes a serem enfrentadas pela nação” (ALEXANDER, 2018, p. 96). Em outro momento da obra ela destaca o quanto a guerra ao crack foi fabricada, planejada para criar um fato político, afirmando que “em 1985, como parte de um esforço estratégico para construir um apoio público e legislativo à guerra, o governo Reagan contratou uma equipe para dar publicidade à emergência do crack” (ALEXANDER, 2018, p. 40). Esta fabricação, somada ao desemprego e a desestruturação das políticas de assistência, resultam em uma massificação da venda e do consumo de crack no centro das cidades do país, após 1985: Numerosos modelos estavam disponíveis para nós, como nação, quando a crise do crack surgiu, mas, por razões amplamente atribuíveis à política racial e de disseminação do medo, nós escolhemos a guerra. Os conservadores descobriram que isso poderia finalmente justificar uma guerra total contra um ‘inimigo’ que havia sido definido racialmente anos antes (ALEXANDER, 2018, p. 99).
A consequência desta campanha foi a aprovação de uma legislação mais dura em 1986, que “incluía sentenças mínimas obrigatórias para a distribuição de cocaína e punições muito mais severas para a distribuição de crack – associado aos negros – do que para a cocaína em pó, associada aos brancos” (ALEXANDER, 2018, p. 101). Bill Clinton, ao contrário do que uma leviana aproximação possa supor, encarnou o espírito “Lei e Ordem” em seus discursos moralizantes e no anúncio explícito da implementação de políticas de ainda maior repressão e encarceramento, combinando-as com a desestruturação mais profunda do regime de assistência, sendo simbólicas deste período duas medidas: i.
a fixação de um prazo máximo para concessão de benefícios assistenciais no
programa TANF (Assistência temporária para famílias necessitadas), assim como impôs “a proibição vitalícia permanente de elegibilidade para os serviços de assistência e valealimentação para qualquer pessoa condenada por delito ligado a drogas – inclusive a simples posse de maconha” (ALEXANDER, 2017, p. 106). ii.
o empenho de Bill Clinton para aprovação de alterações legais esdrúxulas por meio
do que ficou apelidado como “three strikes and you´re out law” (lei das “três infrações e você está fora”) Um projeto de lei contra o crime de 30 bilhões de dólares enviado ao presidente Clinton em agosto de 1994 foi saudado como uma vitória pelos democratas, que “foram capazes de arrancar a questão do crime dos republicanos e torná-la sua”. O projeto de lei criou dúzias de novos crimes puníveis com pena capital e prisão
270 perpétua para quem tivesse três condenações criminais e autorizou mais de 16 bilhões de dólares para concessões de prisões estaduais e expansão das forças policiais estaduais e locais (ALEXANDER, 2017, p. 105).
De acordo com essas novas regras, o isolamento perpétuo de uma pessoa pode se dar de maneira mais usual do que nossa vã imaginação poderia supor, ainda mais diante da possibilidade dos promotores de justiça poderem denunciar crimes relacionados, separadamente. Uma hipótese próxima ao comum narrada por Michele Alexander (2017, p. 149) abaixo é elucidativa da gravidade desta política extremista: Ou imagine uma mulher lutando contra a dependência em drogas, incapaz de obter tratamento e desesperada por dinheiro para alimentar seu vício. Ela invade uma casa e furta uma televisão para vender, mas é capturada e levada presa a poucos quarteirões de distância dali. Não vai para a cadeia, mas também não recebe tratamento para drogas, e agora tem um antecedente criminal. Quando é pega com cocaína e heroína em seu bolso alguns meses depois, ela tem três infrações. Uma infração por cada droga, outra por seu crime anterior. Ela morrerá na prisão
No Brasil, deste período em diante, o discurso de “combate ao tráfico” foi ganhando cada vez mais centralidade, combinando-se oportunamente com o discurso médico, conforme poderemos verificar abaixo no estudo das transformações legais e seus impactos na realidade.
3.4.5.3 As legislações brasileiras penais e específicas sobre drogas: uma expressão da construção da política proibicionista/criminalizadora no país.
Tendo como lente o panorama anterior sobre o desenrolar internacional dos discursos proibitivos das drogas, podemos perceber alguns elementos normativos brasileiros. Assim como no restante do mundo, até o início do século XX não havia uma política oficial de proibição das drogas. Como narrado no segundo capítulo, a etapa final da escravidão foi acompanha de políticas repressivas à cannabis¸ em forte associação com a ameaça que a cultura, a religião e o curandeirismo afrocentrados significavam para as elites brasileiras. Luciana Boiteux descreve abaixo qual foi o marco inicial da regulação do tema no país, bem como a volumosa intervenção legal daí em diante – e, posteriormente, poderemos constatar suas variações em conteúdo e impacto: Na redação original do fato criminoso, que deu origem ao que hoje se denomina de tráfico de drogas no direito brasileiro, prevista no primeiro Código Penal da República, de 1890, ainda não havia distinção entre substâncias lícitas e ilícitas, e a única pena prevista era a de multa. De lá para cá, foram nada menos que nove alterações legislativas (dez leis no total), em um forte movimento de aumento da
271 quantidade de penas e adição de novas condutas à incriminação (BOITEUX; PADUA, 2013, p. 04).
O Código Penal de 1940 passa a prever, em seu artigo 281, penas apenas ao traficante. Posteriormente, em meio à moralização das drogas durante a ditadura, um Decreto-lei (385/1968), amplia a penalização para o usuário. Na década de setenta a previsão temática se dá em leis penais extravagantes, conhecidas como Leis de tóxicos, com a Lei 5.726/71 prevendo alterações no rito e estabelecendo novas técnicas de repressão e a Lei 6.368/76, assumindo, no mesmo tom internacional, um discurso jurídico político mais belicista, bem como estabelecendo mais distinção na compreensão entre usuário e traficante e na intervenção estatal para cada um. Ao usuário, institui-se a previsão de internação hospitalar ou assistência ambulatorial. Ao traficante, uma variação penal muito marcante em comparação com a previsão legal anterior, “que era de um a cinco anos de pena de prisão, para um parâmetro de três a quinze anos, havendo um aumento de trezentos por centro (ou de três vezes), tanto para a pena mínima, quanto para a máxima” (BOITEUX, PADUA, 2013, p. 05). A lógica do inimigo se inaugura com a Lei de Segurança Nacional, estendendo e se aperfeiçoando com o processo de democratização. Daí em diante, ocorre tratamento cada vez mais diferenciado ao traficante. A Lei 10.409/02 introduz medidas descarcerizantes para uso pessoal. Do mesmo modo, atenta às preocupações nacionais e internacionais a respeito do combate ao crime organizado – sendo aprovada após a anterior lei que regulamentava a temática (Lei 9.034/95), prevê tipificação específica para condutas de financiamento e associação ao tráfico. Porém, tal legislação teve veto em praticamente toda sua matéria penal e por um período de quatro anos esta e a lei de 1976 normatizaram a questão, até a entrada em vigor da Lei 11.343/06, vigente até os dias atuais.
3.4.5.4 A Lei 11.343/06 e o aprofundamento da ideologia da diferenciação no país: análise de seus impactos político-criminais
Esta atual lei, quando do calor de sua aprovação, gerou otimismo de parte dos intelectuais e ativistas na área, diante da declarada implementação do Sistema nacional de políticas públicas sobre drogas – art 4º I e II da Lei –, substituindo o sistema nacional
272 antidrogas e, com isso, superando, em alguma medida, o paradigma bélico para o trato dos usuários. Declara-se o fim da previsão da internação compulsória e da pena de prisão para os mesmos, ainda que a criminalização destes se perpetue, com a possibilidade de realização de Termo Circunstanciado, bem como de processamento pelo Juizado Especial Criminal, elemento que acaba por afastar as pessoas do sistema de saúde e fragilizar a suposta política inovadora. Por outro lado, a lei aprofundou a lógica repressiva punitivista para o tráfico, prevendo dezoito condutas que o contempla – abstratamente desproporcionais entre si e com possibilidades materiais ainda maiores –, elevando a pena mínima de três para cinco anos, com a previsão de aumentos de pena que podem alcançar uma pena fixada em 25 anos e uma série de excepcionalidades processuais drásticas, como a original obrigatoriedade de prisão provisória do artigo 44 que apenas em 2012, por meio do HC 104.339/SP, foi reconhecida como inconstitucional pelo STF, assim como, pela equiparação aos hediondos, a vedação de progressão de regime até 2007, quando houve a edição da Lei 11464/07, alterando as frações da progressão para os crimes hediondos, de 1/6 para 2/5 e 3/5, após o julgamento do HC 82959/SP pelo STF um ano antes, conforme melhor elucidamos em tópico específico sobre tais crimes. Nesta mesma toda, esta lei prevê excepcionalidades investigativas, atribuindo ainda mais poder às polícias, com a possibilidade do “agente infiltrado” e do “flagrante diferido”, como poderemos melhor analisar ao tratar da Lei de organizações criminosas, que aprofunda esta tendência. *** O primeiro ponto a se abordar é a percepção concreta da ausência de proporcionalidade, não somente entre as penalizações das próprias condutas tráfico/uso ao longo do tempo, mas também em comparação com outras incriminações relevantes. Luciana Boiteux e João Pádua (2013) realizaram um estudo comparativo deste tipo, partindo do pressuposto declarado pela racionalidade dogmática-penal de que a proporção conduta/pena teria relação com o nível do impacto social da conduta – diante da lesão a um determinado bem jurídico mais ou menos importante para a sociedade. Para além do questionamento de fundo, que a todo tempo o trabalho faz, sobre qual seria a capacidade de proteção e de restauração do sistema penal, aqui se está a jogar com os próprios fundamentos declarados de legitimidade, percebendo os furos reveladores da intencionalidade política de priorização da Guerra às Drogas. Os autores em questão fazem um quadro comparativo da evolução histórica das médias aritméticas entre penas mínimas e máximas de alguns crimes, quais sejam posse de
273 drogas, estupro, tráfico de drogas, homicídio e corrupção passiva. O período de análise vai de 1890 até alterações legais do ano de 2009. A primeira comparação que aqui se destaca é a de homicídio com tráfico de drogas. Ao compararmos o tipo penal de homicídio com o tráfico de drogas, nota-se que aquele não sofreu grandes alterações pontuais no período, diferentemente do outro. No tipo de homicídio, possivelmente por estar incluído no Código Penal, seus parâmetros penais pouco se alteraram (um total de três leis, contra nove no crime de tráfico). No entanto, na linha histórica, a pena média cominada para o homicídio foi reduzida a partir do Código Penal de 1940, enquanto que a pena média do crime de tráfico foi a que mais aumentou entre os delitos estudados. (BOITEUX, PÁDUA, 2013, p. 9).
Em seguida, comparam o crime de tráfico com o de estupro. Este último previsto no Código Penal desde o início e com três modificações legais ao longo da história, sendo a mais significativa a que reformula sistemicamente a seção referente aos crimes contra a dignidade sexual. O que percebem é que a pena máxima do estupro nunca ultrapassou os dez anos e sua pena mínima aumentou com o passar do tempo. Em comparação com o tráfico, o balanço pe de que há uma “pena mínima apenas um ano maior do que a mínima prevista para o tráfico de drogas, e uma pena máxima um terço menor (dez contra quinze anos), devendo ser destacado que, na linha histórica, a pena média para o crime de tráfico de drogas supera a prevista para o estupro” (BOITEUX, PÁDUA, 2013, p. 10) A lista de comparações segue. Aqui destacamos apenas que os autores também tratam da previsão do crime no artigo 36 da Lei de Drogas, tipificado como “financiamento do tráfico”, com pena mínima superior ao de homicídio simples e pena máxima idêntica. Se fôssemos raciocinar desde a noção de equivalentes entre conduta e lesão a bens jurídicos mais ou menos fundamentais, enfrentaríamos um impasse, questionado pelos autores: qual o bem jurídico tutelado neste caso? Seria a saúde pública? Se for isso, está mais do que demonstrado a impossibilidade de resguardá-lo pela via penal. Deste modo, a principal conclusão da autora é de que não há um critério ou parâmetro nas edições das normas penais. Esta é uma importante denúncia das fragilidades da busca por legitimação dogmática, mas, mais do que isso, é preciso que se desvele as razões desta estrutural desproporcionalidade, aqui no campo normativo, tendo como passo seguinte a disparidade no funcionamento do aparato concreto de criminalização, por nós já muitas vezes nomeada como criminalização secundária. A conclusão é simples e acachapante. Tanto na previsão penal abstrata como na prática punitiva demonstra-se que se incrimina e se pune mais certas condutas a outras. Não por acaso os delitos patrimoniais e o
274 tráfico – condutas que potencialmente ou desviam (primeiras) ou realizam (segunda) a circulação da mercadoria. Felipe Motta (2015, p. 81) define muito bem o “x” da questão: Antes de haver uma determinada lei criminalizando uma conduta, há um contexto de relações sociais; antes do crime contra a propriedade, são necessárias as relações de propriedade que revestem forma da troca de mercadorias. (...) A desigualdade nas construções legislativas penais é um espelho da desigualdade existente nas relações produtivas – esta proporciona o substrato material para a criação daquela, a qual, por sua vez, consiste em um importantíssimo mecanismo de perpetuação dessa realidade .
E no caso das drogas, qual seria este contexto de relações sociais que justificaria uma penalização e persecução penal excessiva e prioritária? De que modo a criminalização do tráfico de drogas garantiria a perpetuação da relação produtiva? Em momento posterior do trabalho, o autor descreve as razões de sua compreensão do viés geopolítico da política de drogas. Como dissemos acima, as condutas mais bem punidas e/ou mais filtradas pelo processo de criminalização concreto ou desviam ou realizam a circulação da mercadoria. No caso da proibição do comércio de drogas, ela garante condições ideais de circulação destas mercadorias, desde a ótica do capital. Em primeiro lugar, o autor desenvolve a noção de que a questão da produção massiva de drogas extrapola em muito os limites do Estado-Nação e de seu sistema de justiça criminal. A estrutura pública oferecida à política criminal de drogas será sempre insuficiente para o controle da produção. É por isso que, como sempre ressaltamos no trabalho, a falência desta política é apenas na aparência declarada e legitimadora de sua perpetuação. O sistema penal nativo controlará a franja deste grande negócio, permitindo a proteção e melhor desenvolvimento do núcleo mais estruturado e poderoso: os pequenos produtores e comerciantes varejistas em áreas marginalizadas são retirados ou mantidos no mercado por um frágil equilíbrio simbiótico entre eles e o sistema de justiça criminal (...). Por outro lado, os proprietários de grandes massas de capital, inseridas na produção de drogas, beneficiam-se da seletividade que recai sobre os menores, o que acelera os mecanismos de centralização e concentração de capital” (MOTTA, 2015, p. 245-246).
A proibição gera proteção e maiores possibilidades lucrativas ao negócio, seja pela ausência de incidência de impostos; seja pela superexploração da classe trabalhadora, com ausência absoluta de regulamentação e precarização de suas vidas em grau máximo; seja pelo controle oferta/demanda, evitando crises de superprodução, uma vez que “as apreensões e destruições de carregamentos de drogas geram o mesmo resultado, mas distribuído no tempo
275 (sem um momento de pico tão radical quanto uma crise” (MOTTA, 2015, p. 246), praticamente garantindo a total realização da mercadoria, “fetiche” capitalista. Ademais, ele destaca que ao se criminalizar a droga também está se fortalecendo outro setor com características globais e peso econômico semelhante, qual seja, a indústria do controle do crime, com equipamentos e treinamentos de segurança, mobilização de recursos humanos, tecnologia especial, dentre outros aspectos mobilizantes do funcionamento de todo o sistema de justiça criminal. A conclusão seria que “o capital ganha duplamente nessa conjuntura, enquanto o Estado serve-lhe de apoio necessário ao processo de valorização em meio à ‘pororoca’ do sistema de justiça criminal – no encontro das águas entre o legal e o ilegal” (MOTTA, 2015, p. 252). Para nós, pensamos ser importante destacar que esta política se traduz como o controle socioracial mais potente destes tempos. A ideia do combate ao criminoso justifica as ações estatais, inclusive quebrando a solidariedade de classe/raça. Compartilhamos, profundamente, a reflexão sensível e pertinente de Michele Alexander quanto ao efeito do estigma criminoso/perigoso/ruim que se traduz em vergonha e em silêncio na comunidade negra. A dimensão da vergonha, do assumir o rótulo que lhe é posto passa por uma responsabilização individual/familiar pelo “desvio” e “fracasso” dos seus. Passa por um golpe profundo na autoestima, um ódio de si mesmo. Gera silêncio e gera também quebra de solidariedade, necessidade de diferenciação do bom e do mau negro. Conforme sintetiza Michele Alexander (2017, p. 247), “o dano causado por esse silêncio social é mais do que interpessoal. O silêncio – impulsionado pelo estigma e pelo medo da vergonha – resulta na repressão do pensamento público, na negação coletiva da experiência vivida”. O maior golpe que poderia existir à resistência. E nos parece que muito semelhante à realidade brasileira. *** Ademais, como se não bastasse a aparência de que a Lei apresentava uma política criminal dicotômica (e, por isso, contraditória e com uma intencionalidade política) – de um lado descarcerizante e, de outro, recrudescedora do sistema penal –, a questão se torna muito mais grave ao se constatar que, entre um lado e o outro, brotam problemas muito sérios de discricionariedade para a definição de condutas, intencionalidades e enquadramentos. As condutas de “adquirir”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo” estão presentes tanto na qualificação de uso, do artigo 28 da Lei, como na qualificação de tráfico,
276 do artigo 33 da Lei, sendo a finalidade da droga – para uso ou para comércio – o fator de diferenciação. A questão está nos critérios para definição desta finalidade. Esta Lei aprofunda a diferenciação usuário/traficante, colocando critérios abertos para os enquadramentos – provisoriamente pelas autoridades policiais e o Ministério público e definitivamente pelo juiz ou pela juíza –, resultando em atos que, mais do que discricionários, podem ser permeados por arbitrariedades. Os parâmetros estão contidos no parágrafo 2º do artigo 28, contemplando natureza e quantidade da substância apreendida, local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais e conduta e antecedentes. Denota-se ampla subjetividade dos critérios, abrindo espaço para que estigmas e preconceitos prevaleçam. E serão os policiais militares, em seu papel ostensivo – com amplos poderes –, os primeiros a definir se é caso de flagrante ou não 38, seguidos pela autoridade policial civil, que define por instaurar um inquérito ou se trataria de um crime de menor potencial ofensivo, seguidos pelo promotor de justiça e o juiz, o primeiro ao sustentar a denúncia com determinada classificação penal e descrição das elementares do crime e o segundo ao relaxar ou não a prisão em flagrante e, depois, ao receber a denúncia com determinado conteúdo e, assim, seguir o processo. Ainda que a Lei preveja em seu procedimento a realização de dois laudos de constatação da natureza e quantidade da droga, um provisório, no ato do flagrante, e outro definitivo, durante a instrução, ainda há excessivo poder sobre os policiais militares, inclusive sendo, na ampla maioria dos casos, as únicas testemunhas. Elemento dos mais delicados e questionáveis enquanto validade em um processo regido por princípios democráticos, pois estavam no exercício de suas funções, envolvidos com a situação e, a depender das circunstâncias, poderiam falhar com o compromisso de dizer a verdade, pelo próprio exercício de não autoincriminação. A crítica consolidada hoje é que, se fossem ouvidos, deveria ser na condição de informantes e não como testemunhas propriamente ditas e, no mínimo, caso se mantenha como estar, que ao menos seja impossibilitada a condenação exclusivamente com prova testemunhal policial. Já se completaram doze anos da Lei de Drogas e o que se pode observar é um aumento significativo de apreensões pelos dois enquadramentos, mas com uma velocidade invertida ao cenário anterior, com mais rapidez e volume no caso do tráfico. 38 Inclusive, sendo o crime de tráfico considerado crime permanente, legitima-se que o flagrante delito ocorra cotidianamente, com invasão de domicílio sem mandado judicial.
277 Constata-se o crescimento significativo das ocorrências pelo delito de tráfico de drogas, e a estabilização inicial, e depois também o crescimento, do enquadramento do delito de porte para uso pessoal. O que chama atenção é que em 2005 e 2008 o número de casos de posse e uso eram superiores aos de tráfico. Por outro lado, a partir de 2009 ocorre uma inversão, o tráfico supera a posse/uso. Em uma interpretação combinada dos dados, o número de ocorrências por posse e uso de entorpecentes em 2012 praticamente dobrou em relação aos valores de 2005. Já as ocorrências por tráfico de drogas mais do que triplicaram no mesmo intervalo (AZEVEDO, CIFALI, 2017, p. 71-72).
O fato é que desta mais de década de aplicação desta lei, não existiu uma padronização decisória quanto à quantidade de drogas, sendo estas instrumentalizadas para lá ou para cá, sob os argumentos de ordem subjetiva previstos em lei. Com caráter exemplificativo da situação, destacamos abaixo parte do relatório da Rede de Justiça Criminal que compila dados de quatro grandes pesquisas realizadas em São Paulo e Rio de Janeiro sobre prisão provisória e drogas a respeito da prisão em flagrante de pessoas em situação de rua, sendo 11% deles por tráfico de drogas. Este dado nos coloca a questão a respeito da categoria usuário-traficante e da associação imediata que juízes e promotores fazem entre tráfico de drogas, crime organizado e periculosidade do delito. Como se verá adiante, parte considerável dos entrevistados cria esta “receita” para justificar a necessidade da prisão provisória. Quais vínculos são possíveis de se estabelecer entre um morador em situação de rua e o crime organizado? As pesquisas indicam que este perfil de apreendidos ou eram usuários ou traficavam pequenas quantidades de drogas, dessa forma contestando a assertiva por parte das autoridades públicas quanto à periculosidade do fato. (INSTITUTO SOU DA PAZ, 2013).
Segundo este mesmo relatório, ao tratar de parte dos resultados de duas das pesquisas reunidas, sobre a realidade paulista - a do NEV-USP, “Prisão Provisória e Lei de Drogas” (2011) e a do ITTC/Pastoral Carcerária “Tecer Justiça” (2012) - revela que, na primeira, 57, 3% dos apreendidos por crime de tráfico de drogas não têm antecedentes criminais e, na segunda, 65,3%. A percepção das pesquisas empíricas existentes é de que, praticamente, o tráfico pode ser enquadrado ao bel prazer do juiz, notando-se elementos classistas bem marcantes. Acima se nota que não há exigência de reincidência para esta decisão39, entretanto, se for reincidente a classificação como tráfico é praticamente automática. 39 Destacamos que a Lei de Drogas, no parágrafo 4º de seu artigo 33 prevê a modalidade de “tráfico privilegiado”, podendo-se reduzir as penas de um sexto a dois terços, quando a pessoa for primária, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. A Lei, portanto, passa a admitir que, em certas circunstâncias, haveria uma desproporção considerável entre a penalização genérica e a conduta concreta. Abriu-se um debate jurídico sobre a retirada da hediondez nos casos de tráfico privilegiado, alcançando o STF com o HC 11.8533, que, em 23 de Junho de 2016, concordou com esta tese. Derruba-se, assim, o entendimento de que, tecnicamente, não se trata de outro tipo penal, mas sim de uma causa de diminuição de pena e, em novembro do mesmo ano, o STJ revogou a súmula 512 sobre o tema.
278 Já quanto à primeira situação, a percepção acumulada pelos estudiosos é que quando se trata de crack, muito mais do que no caso da cocaína e mais ainda da maconha, a vinculação com o tráfico é também muito comum, quase imediata. E este fator está intimamente relacionado com o perfil racial e social dos usuários da droga mais barata. Situação muito semelhante à narrada por Michele Alexander (2017) sobre a realidade estadunidense, ainda que no caso deste país o mais marcante é que, além de se selecionar mais as pessoas com este perfil, a própria legislação é mais enrijecida ao crack do que à cocaína. Pessoas de todas as cores e origens sociais vendem e consomem drogas. A ideologia da diferenciação no Brasil se apresenta na percepção de que é através de decisões caso a caso que se nota que não há casuísmos, particularismo hermenêutico de um ou outro funcionário do sistema de justiça criminal, mas sim um processo mais do que concreto de criminalização de um grupo social. *** Está em andamento o julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP pelo Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, com o registro de votos de alguns dos ministros e, atualmente, com pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes. Dentre os pesquisadores e militantes na temática, há discussões de curto e médio alcance sobre a minimização da perversidade da política de drogas – a de longo alcance seria a própria descriminalização e regulamentação de outro tipo de todas as drogas. Mas, ainda dentro do marco legal posto, há defesas (IBCCRIM, 2017) da necessidade de revogação do artigo 28, não havendo mais qualquer tratamento penal ao usuário de drogas e da alteração da redação do artigo 33, de modo que só seria possível o enquadramento como tráfico de drogas se ficasse demonstrado a finalidade comercial da conduta (portanto, com intenção de lucro). Como proposta intermediária, muito se discute sobre a defesa da adoção de critérios objetivos de quantidade de droga (para cada substância) para definição binária sobre uso ou tráfico. Como pudemos antecipar acima, hoje o critério quantitativo não é um critério principal, muito menos coerente, para tal definição, seja por não existir uma linearidade decisória quanto a isso, seja pela vulgarização na variedade de critérios para mensuração do quantum de drogas (pacotes, papelotes, porções, etc.). Impactam mais outros elementos como tipo de droga, variedade de drogas reunidas, reincidência, local encontrado (se em vias
279 públicas ou em automóveis, em tal ou qual região da cidade), a versão do policial, sendo este o primeiro a vincular a droga ao sujeito e a “opinar” sobre sua destinação. Portanto, se fosse o caso da realização de um estado para auferir um critério objetivo para posse para uso e posso para comércio, mas se preservasse os demais critérios subjetivos da Lei, significaria, ao fim e ao cabo, apenas mais um elemento reforçador de enquadramentos criminalizadores. Mesmo com todas as ressalvas sobre alcançar este critério e qual poderia ser de fato seu impacto, os estudiosos defendem que só faria sentido regulamentá-lo se fosse um critério exclusivo. Para defini-lo, seria preciso definir a quantidade de droga por tempo desde um estudo etnográfico aprofundado, que respeite as particularidades do comércio de drogas local; teria que definir o padrão oficial de medida, bem como fixar se a avaliação seria pela pureza da droga – demandando tecnologia para tanto40 – ou pela substância bruta; bem como teria que ser pautada não em uma média de consumo, mas sim no padrão mais alto de consumo problemático, pois, conforme parecer da Plataforma Brasileira de Políticas sobre drogas, pode-se correr o risco de ainda mais injustiça quando de um “definição de limites irrealistas e sem embasamento qualificado, que fatalmente levaria a quantidades baixas”. Dessa forma, mesmo que, numa investigação hipotética, se descobrisse que três quartos dos usuários fizessem consumos médios mensais inferiores a 30 gramas de maconha, puxando a média e as medianas para baixo, usuários do último quartil estariam excluídos dessa classificação simplesmente por consumirem além do padrão. Caso se estabelecesse a média como padrão, aqueles flagrados com quantidades superiores poderiam apenas ser parte desse grupo, sem ter motivação de lucro ou mesmo de distribuição gratuita (FIORE, s/d, p. 5).
Portanto, ainda que com ressalvas acerca da saída de definição de critérios objetivos, eles triam que ser rigorosamente formulados, respeitando toda esta complexidade de fatores e obedeceria o seguinte raciocínio lógico: se a apreensão for inferior ao quantum estipulado, automaticamente seria considerado uso – o que denominaram como “presunção absoluta de uso pessoal” (FIORE, s/d); se a apreensão for igual ou maior ao mínimo estabelecido para tal substância, pode haver indício de tráfico, que precisará ser complementado com outros elementos probatórios que demonstrem a existência de uma iniciativa mercantil concreta. Ainda que seja um descalabro a realização de um estudo nacional sobre o uso de drogas com o fim primeiro de definir classificação entre uso e comércio e não para que se pense uma política pública de saúde série e profunda, a definição de um critério objetivo 40 Em parecer técnico para o CNPCP da Plataforma Brasileira de Políticas sobre drogas realiza-se comparativos com países como Espanha, México, Paraguai e Portugal, que definem pela substância bruta e, em contrapartida, “alguns países, como a Hungria e a Áustria, definem a quantidade máxima de THC (tetra-hidrocanabinol, o principal princípio ativo da maconha), e não de erva ou de resina apreendida” (FIORE, s/d, p. 5).
280 exclusivo poderia ser um pequeno avanço paliativo a frear o arbítrio dos operadores do sistema de justiça criminal, ainda que não desestruture em nada a lógica proibicionista. Por fim, assim como buscamos mapear nos demais tópicos do texto, neste momento é ainda mais impactante perceber o quanto a política de drogas nestes moldes não foi tocada ou ameaçada ou questionada a fundo pelo Partido dos Trabalhadores nos anos de gestão federal. No campo legislativo, Rodrigo Azevedo e Claudia Cifali descrevem abaixo o papel da bancada do PT durante a tramitação da lei: A relatoria do projeto durante a tramitação ficou a cargo de um deputado do Partido dos Trabalhadores. A incorporação de todas as emendas propostas pela bancada conservadora do Congresso foi justificada pela ideia de que era importante a distinção, do ponto de vista do tamanho da pena, entre usuário e traficante. O discurso articulado pelo relator foi de que o tráfico deveria ser firmemente combatido e o usuário tratado como alguém que precisa de ajuda, não sendo discutida, nesse momento, nem a dificuldade de diferenciar ambas as figuras nem, menos ainda, o fato de que o endurecimento da pena poderia recair apenas sobre os pequenos comerciantes de drogas ilegais do varejo do tráfico. Para piorar a situação, foi um deputado do PT, Antônio Carlos Biscaia, com carreira como promotor no Estado do Rio de Janeiro, quem propôs aumentar a pena mínima de três para cinco anos para o delito de tráfico, impedindo qualquer possibilidade de aplicação de penas alternativas. Desse modo, a aprovação da lei foi celebrada tanto pela esquerda quanto pela direita, o que demonstra o peso da perspectiva proibicionista na bancada do PT, que mesmo tendo desenvolvido experiências importantes de políticas de redução de danos no âmbito municipal em todo o país, não tinha uma posição clara com relação à importância da descriminalização das drogas. Para as bancadas conservadoras, a nova lei reforçava a criminalização do tráfico e previa para o usuário a possibilidade de ser encaminhado para “comunidades terapêuticas”, boa parte delas vinculadas a igrejas neopentecostais (AZEVEDO; CIFALI, 2017, p. 72).
Vale destacar que, em 2011, o recém nomeado Secretário Nacional de Política sobre Drogas, Pedro Abramovay, defendeu, em resposta a uma entrevista, a necessidade de não haver pena de prisão para o pequeno traficante, o que gerou uma enorme instabilidade política, ao ponto de pedir demissão em seguida. Como pudemos desenvolver, a política atual de drogas é um dos pilares de garantia econômica e política do capitalismo financeirizado e de manutenção de um lugar determinado do Brasil neste cenário. Tocá-la visando sua superação demanda uma postura firme e autônoma, o que não é viável em um regime conciliatório. Destacamos apenas que, para além dos interesses econômicos servidos, a atual política de drogas cumpre um papel estratégico de controle social, que significa uma nova versão do estado originalmente genocida brasileiro. A seguir, trataremos do seu impacto sobre as mulheres incriminadas por tráfico de drogas (isso sem destacar o impacto sobre as mulheres que têm seus familiares nas fileiras proletárias do tráfico – encarcerados ou com possibilidades concretas de sê-los -, ou que
281 perderam seus filhos por serem um destes trabalhadores ou serem confundidos como se fossem). É dramático. É urgente.
3.4.6 Reflexões criminológicas críticas e feministas do aumento do encarceramento de mulheres, especialmente por tráfico de drogas, no Brasil
Desde a reunião de três importantes correntes do pensamento - quais sejam reflexões de pesquisadoras e pesquisadores da criminologia crítica, da criminologia feminista e da teoria da consubstancialidade das relações sociais de gênero, classe e raça –, desde o fio condutor da divisão sexual e racial do trabalho, buscaremos neste item compreender os elementos determinantes do boom do encarceramento feminino por tráfico de drogas. Como tivemos oportunidade de detalhar ao final do segundo capítulo, a população carcerária brasileira já ultrapassou 700 mil pessoas. Mais do que isso, pudemos perceber o quanto a velocidade do encarceramento e a sua quantificação proporcional também são elevadas, em comparação com o resto do mundo. Em contrapartida, muitos estudos apontam como não existiu “nem aqui nem na China”, literal e figuradamente, alguma relação entre aumento do encarceramento e qualquer impacto
positivo
nos
índices
de
violência
individual,
muito
ao
contrário,
o
hiperencarceramento é máquina de reprodução de hierarquias sociais, gerador de mais violências e criador e fortalecedor de grupos organizados e mais aparatos, especialmente no que tange às redes de tráficos (drogas, armas, pessoas). Ademais, naquela oportunidade também destacamos a existência de um problema histórico ainda maior quanto aos dados da realidade do aprisionamento de mulheres, que, ainda que tenham se tornado um dos bodes expiatórios privilegiados do sistema, continuam sendo numericamente altamente minoritárias no sistema, o que faz com que as informações sobre elas, assim como políticas específicas às mesmas sejam invisibilizadas. Pode-se questionar, então, qual seria a razão para incluirmos um tópico, com significativo destaque, para uma parcela da população prisional proporcionalmente ainda tão reduzida, já que o objetivo é perceber os elementos determinantes do boom encarcerador no país. Este também foi um questionamento realizado durante a escrita deste trabalho e, para nós, mais do que elemento pertinente de análise, compreender o fenômeno do aumento do
282 encarceramento das mulheres no período analisado é uma importante tradução da conjunção de fatores determinantes da onda punitiva. É uma expressão significativa do impacto do Estado penal contemporâneo, desde o polo que mais diretamente pode sentir os efeitos dos tempos
de
barbárie
permanente:
as
mulheres
periféricas
e
superexploradas,
predominantemente negras. Como pudemos apresentar brevemente na oportunidade de Raio-X do sistema prisional no capítulo anterior, a proporção de mulheres presas subiu vertiginosamente neste período, sendo que 62% delas estavam presas por crimes de drogas em meados do ano 2016, quase o dobro da porcentagem dos homens. Neste dado foram contabilizadas as mulheres custodiadas em carceragens de delegacias ou outros órgãos destinados à custódia de pessoas, que sejam administrados por órgãos do sistema de segurança pública estadual, de maneira insuficiente, pois há uma “ausência de informações com recorte de gênero sobre essa população para a maior parte dos estados brasileiros”, o que “limita a análise do fenômeno do encarceramento feminino no Brasil e tem impacto direto sobre a posição ocupada pelo País no ranking mundial do encarceramento feminino” (INFOPEN MULHERES, 2018, p. 9). Quanto ao perfil deste aprisionamento feminino por tráfico, o relatório detalha: 3 em cada 5 mulheres que se encontram no sistema prisional respondem por crimes ligados ao tráfico. Entre as tipificações relacionadas ao tráfico de drogas, o crime de associação para o tráfico corresponde a 16% das incidências e o crime de tráfico internacional de drogas responde por 2%, sendo que o restante das incidências refere-se à tipificação de Tráfico de drogas, propriamente dita (INFOPEN MULHERES, 2018, p. 53).
Apenas por estes números já se evidencia o perfil desorganizado criminalmente da maioria das mulheres. Nas páginas que seguem teremos oportunidade de melhor entender quem são essas mulheres e quais funções ocupam no tráfico e em quais condições. Em dados mais recentes sobre a população prisional feminina consta um total de 42.355 mulheres, com um déficit de vagas na casa dos 15.326, estando distribuídas entre estabelecimentos masculinos, femininos e mistos. O Brasil é o quarto país em números absolutos de encarceramento de mulheres, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Quanto à taxa proporcional (números de mulheres presas por 100 mil mulheres), “o Brasil figura na terceira posição entre os países que mais encarceram, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Tailândia” (INFOPEN MULHERES, 2018, p. 13).
283 Assim como nos dados gerais analisados, o elemento ainda mais preocupante refere-se à velocidade do encarceramento (a variação da taxa de aprisionamento), sendo que na situação específica da mulher o número brasileiro é incomparavelmente alarmante, pois “em um período de 16 anos, entre 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento de mulheres aumentou em 455% no Brasil. No mesmo período, a Rússia diminuiu em 2%” (INFOPEN MULHERES, 2018, p. 13-14). Já em números absolutos o aumento de 2000 a 2016 foi de 656%, enquanto o masculino neste mesmo período foi de 293%. Na mesma toada dos dados gerais, 45% das presas, como uma média nacional, são provisórias, entretanto com uma variação temporal maior, pois, comparando ao relatório de dois anos antes, o aumento foi de 15%. Esta média convive com situações extremas, como no Amazonas, onde 81% das mulheres são presas provisórias. Elementos estruturais e de perfil sociodemográfico da população feminina privada de liberdade no país serão descritos em momentos oportunos em seguida. Mas, já com estes elementos apresentados podemos ter noção da dimensão do impacto social que a máquina penal tem gerado no Brasil desde o processo de redemocratização, especialmente a partir dos anos 2000. Frente a tal cenário, buscaremos analisar neste instante os fatores explicativos e caracterizadores deste fenômeno, desde a perspectiva de gênero. Para nós, a explicação não está nem desde um a priori de que houve um aumento da prática de crimes por mulheres, nem está em uma análise estrita sobre a atuação das agências do controle penal brasileiro, especialmente as polícias, Ministério Público e Judiciário. Estas análises precisam estar dialeticamente permeadas pela reflexão acerca da condição das mulheres na sociedade brasileira hoje, especialmente suas condições de trabalho (desde aquelas atividades reconhecidas como trabalho formal e informal, lícito ou ilícito até as dimensões do trabalho reprodutivo) e o reflexo disso em sua vida social de conjunto. Como pudemos discorrer nos outros capítulos da tese, a ordem social sob a qual vivemos é nitidamente racista, sexista e heteronormativa, na qual, mesmo diante de lutas e conquistas históricas fundamentais, as instituições - respaldadas por um sistema de valores engendram tais desigualdades. Desse modo, essa “relação-capital” engloba todas as instâncias de reprodução social em seu círculo autoexpansivo, sendo central a percepção de que se traduz em relações sociais de gênero, classe, raça e sexualidade, destacando-se a importância do giro epistemológico feminista e anti-racista para a compreensão estrutural da ordem social posta. Podemos perceber que a mulher foi inserida, de maneira significativa, no mundo do trabalho, Do mesmo modo, na maior parte do globo está em condições de igualdade formal
284 aos homens, muitos direitos foram por elas conquistados. Mesmo assim, permanecem elevadíssimos os índices de violência de gênero e o trabalho doméstico, bem como os mais precarizados continuam sendo majoritariamente femininos. Se complexificarmos a análise, entendendo como o racismo institucional se expressa nas diferenças salariais, estando mulheres negras na base, com menores salários, realizando majoritariamente trabalhos precarizados, sobretudo como trabalhadoras domésticas. Do mesmo modo, observando a maior quantidade de mulheres negras que morrem nos atendimentos de saúde ou que adoecem por doenças como diabetes e hipertensão em comparação com outros grupos de mulheres (DAVIS, 2011). Não mais mulheres escravizadas, mas individual e institucionalmente violentadas, oprimidas e exploradas sob mecanismos diferenciados. Isto nos reforça o entendimento das autoras consubstancialistas, anunciado no primeiro capítulo deste trabalho, que concebem as dimensões de gênero, raça e classe não apenas como marcadores de diferença, mas também como estruturantes da ordem social posta – denominadas por elas como relações sociais e não exclusivamente intersubjetivas e reforçadoras de desigualdades, como seriam as demais dimensões. Portanto, para elas, as relações sociais representam relações de produção, que “continuam a operar e a se manifestar sob suas três formas canônicas: exploração, dominação e opressão” (KERGOAT, 2010, p. 75), existindo nelas disputas materiais e ideológicas. Dessa maneira, temos que as relações sociais são duais e conflituosas, se codeterminam e se reproduzem de maneira não homogênea e não hierárquica, formando um nó, sem que haja a contradição central e as complementares, sem que haja sobreposição de uma às outras a-historicamente e a-temporalmente. Do mesmo modo, ao pensar gênero, classe e raça de maneira coexistente/imbricada, não há uma dimensão econômica e outras culturais. O trabalho social e internacional do trabalho é necessariamente racializada e sexualidade. Por isso a inseparabilidade da produção e da reprodução. Como sabemos por vivência cotidiana, a inserção da mulher no mundo do trabalho não significou sua emancipação. Isso porque, apesar de ocupar o espaço público, seu trabalho serviu como maior fonte de lucro ao capitalista, tanto pelos salários mais baixos pagos a elas, como pela possibilidade de rebaixar salários dos homens, uma vez que a fonte de renda familiar aumentou. O paradoxo, bem revelador de aspectos que denotam o caráter estruturante dessas relações sociais, é que o capitalismo atingiu altíssimo desenvolvimento de suas forças
285 produtivas nesta sua etapa de acumulação, mais do que o suficiente para liberar todas as mulheres do trabalho doméstico. Como detalha Angela Davis: Em outras palavras, as tarefas domésticas não precisam mais ser consideradas necessária e imutavelmente uma questão de caráter privado. Equipes treinadas e bem pagas de trabalhadoras e trabalhadores, indo de casa em casa, operando máquinas de limpeza de alta tecnologia, poderiam realizar de forma rápida e eficiente o que a dona de casa atual faz de modo tão árduo e primitivo (DAVIS, 2016, p. 226).
Assim, a ordem sociometabólica do capital pressupõe forma de controle discriminatória e hierárquica, tendo como sua base fundante e essencial a divisão hierárquica do trabalho, considerando que a família nuclear é central como reprodutora ideológica dos valores do sistema, reprodutora material da força de trabalho e multiplicadora de potenciais consumidores. Ocorre que esta estrutural divisão sexual e racial do trabalho adquire características ainda mais drásticas nesta atual etapa de acumulação do capital, seja pela mercantilização de todos os aspectos da vida, seja pelo desemprego crônico, que tende a afetar especialmente a condição das mulheres trabalhadoras, principalmente as imigrantes e aquelas habitantes de países de capitalismo dependentes, onde a exploração desigual sempre pesou mais. Assim, diante da incapacidade do capital em lidar com as causas de seus antagonismos, faz-se imprescindível ressaltar a sobrecarga da mulher na responsabilização pelos “desvios” e “desestruturações” familiares.
3.4.6.1 Sistema Penal: feito por homens e para homens
Com todas as variações históricas – sendo a queima das bruxas na Inquisição a principal demonstração – até o século XX e, em alguma medida, perdurando hoje, o imaginário foi e é de que a mulher teria menor tendência criminal, praticando menos crimes e, quando o pratica, haveria uma tendência de ser crimes “especificamente femininos”. Na história moderna ocidental, a partir do momento no qual a pena de prisão (racional e proporcionalmente definida, de acordo com o que aqueles que ditam as leis consideram como de maior ou menor gravidade) se consolida como pena por excelência – o que coincide com o assalariamento do trabalho para a maioria das pessoas e a medida do tempo de trabalho como medida do capital, buscou-se criar teorias, com pretensões de ciência (por gerações refutadas como conhecimento válido), que dessem conta de explicar as razões e justificativas
286 das pessoas estarem encarceradas (e, portanto, terem cometido crimes). Em um primeiro momento, o livre arbítrio era suficiente para justificar a positivação do direito penal e o funcionamento do sistema, porém, com o aguçamento das desigualdades na sociedade, eis que surgem teorias para explicar uma inerente diferença entre os sujeitos, justificando uma suposta inferioridade de uns em relação a outros. Com relação às mulheres, ainda que estas fossem secundarizadas enquanto preocupação de justificação, já que eram inexpressivas numericamente nas estatísticas criminais, algumas questões se consolidaram desde este campo, sendo símbolo a publicação do livro La donna delinquente, de Cesare Lombroso, em 1892. Ao visitar as penitenciárias femininas italianas, Lombroso identificou sinais biológicos a determinados tipos de delitos cometidos por mulheres: criminosas natas, criminosas ocasionais, ofensoras histéricas, criminosas de paixão, suicidas, mulheres criminosas lunáticas, epilépticas e moralmente insanas (Mendes, 2012:46). E afirmou que sua estrutura biopsicológica favorecia uma maior adaptação e obediência às leis, e por este motivo delinquia menos que os homens. Entretanto, apesar de sua docilidade, a mulher se mostrava potencialmente amoral, enganosa, fria, calculista, sedutora e malévola, características que, apesar de não impulsionarem ao crime, fariam - na cair na prostituição (CHERNICHARO, 2014, p. 34-35).
O lugar do controle do feminino era o privado, o doméstico. As teorizações aqui em análise serviam nitidamente como apêndice para as justificações culturais e ideológicas da naturalização de características femininas e de seu papel social. Isso se deve primordialmente ao fato de que o direito penal é uma forma de controle que se dirige às relações de trabalho produtivo (trabalho, moral do trabalho e a ordem que o garante), enquanto a esfera da vida privada, que diz respeito à reprodução, sexualidade e procriação da família, não é o objeto central do controle penal. O sistema de controle que se dirige ao comportamento da mulher no seu papel de gênero é o informal, realizado na família mediante o domínio patriarcal e, em última instância, o exercício da violência física contra as mulheres. Assim, o direito penal se dirige, sobretudo, aos homens que desempenham papéis na esfera pública da produção material, enquanto o sistema de controle informal se dirige à mulher que desempenha papéis na esfera privada de reprodução natural. Nesse sentido, do ponto de vista simbólico, o direito penal é masculino (ARGUELLO; MURARO, 2015, p. 5).
Os estudos se focavam, quando existiam, na condição das mulheres enquanto vítima, separando aquelas que poderiam receber o título de vítima e as outras que sofreriam processos de culpabilização pelo seu status de mulher questionado a partir de uma rotulação de seu comportamento, perfil (“mulher honesta” ou o seu oposto). Seguindo a história, vale a pena destacar algumas explicações teóricas que, ao longo do século XX, fugiram do grotesco da naturalização de papeis, mas que possuem certos limites.
287 Conforme Chernicharo (2014) desenvolve ao longo de sua dissertação, podemos partir de autoras, desde a década de 70, enquadradas no que ela denomina “Teoria da Emancipação Feminina”, que colocam a prática de crimes por mulheres como a ocupação de um espaço tradicionalmente ocupado por homens, em decorrência da sua maior inserção no mercado de trabalho e, consequentemente, na esfera pública como um todo, inclusive nas práticas ilícitas. Porém, faz-se importante distinguir que nada há de biologicizante nesta leitura, o que a diferencia em muito das explicações etiológicas tradicionais da Escola Positiva, que separavam características inatas de certas mulheres “anormais” e “desviantes”: É importante ressaltar que, ao se referir à ideia de “masculinização”, estas teorias afirmam que a mulher delinquente assumiria um papel masculino, diferente daquele estabelecido para mulheres, o que difere da ideia desenvolvida pelas teorias etiológicas, que afirmavam que a criminalidade feminina estava associada às mulheres masculinizadas em sua estrutura biopsicológica. Deste modo, enquanto estas teorias dizem que a mulher se masculiniza ao praticar crimes (e que isso advém de estágios de emancipação), as teorias biológicas dizem que a mulher é delinquente por ser masculinizada, algo que advém de sua biologia (CHERNICHARO, 2014, p. 55).
Neste mesmo sentido, a autora realiza ponderações quanto aos elementos constitutivos da “Teoria do tratamento diferenciado às mulheres no Sistema de Justiça Criminal”, que seria mais benevolente com elas em decorrência da cultura patriarcal. Teria ocorrido um aumento da criminalidade real ou apenas da legal ou da aparente? Teria mais relação com a atuação do sistema de justiça criminal ou com a marginalização econômica das mulheres? Em quais situações as mulheres supostamente possuiriam tratamento mais benevolente? Em momento posterior verificaremos, através da realidade brasileira atual, que tal hipótese poderia se confirmar em parte, reforçando o caráter patriarcal do sistema de justiça criminal, que pune mais ou menos (e sempre com outra qualidade, ainda mais perversa) as mulheres, a depender da característica de sua conduta. Por isso tudo, a análise dos fenômenos aqui em questão não se faz possível se não for pautada pelo estudo da seletividade penal e, ao mesmo tempo, das desigualdades de gênero na sociedade capitalista-patriarcal. Esta é a carente combinação necessária. O Direito Penal, historicamente, falsamente protegeu as mulheres, desde um enquadramento dual como “honestas” ou “desonestas”. Diante de firmes pressões históricas, houve mudanças legais fundamentais, como o fim do crime de adultério, o de sedução de menores e o fim da justificativa de “legítima defesa da honra” para atenuar a dosimetria da pena. Entretanto, ainda que os processos históricos e o alargamento do reconhecimento dos direitos humanos das mulheres – de todas as mulheres – batam na porta e provoquem mudanças, não necessariamente isso se reflete em alterações significativas nas instituições, na
288 cultura jurídica e, por consequência, nos processos judiciais, todos ainda marcadamente pautados na ideologia patriarcal. Dentre tais mudanças, aquela que, em 2009, unificou o crime de estupro e atentado violento ao pudor, foi talvez um exemplar caso de reflexo de uma mudança social e cultural significativa, por deixar de proteger a mulher mais fortemente contra o primeiro, como se fosse mais grave quando houvesse conjunção carnal, apenas pelo risco de gravidez, ou seja, por um argumento que tem tudo a ver com a honra e a moral e nada a ver com os direitos reprodutivos da mulher e a autonomia de seu corpo, suas escolhas e o respeito à sua sexualidade. Estes breves exemplos demonstram que o direito penal essencialmente não tem vocação para respeito aos direitos humanos, muito menos das mulheres, estejam elas enquadradas em qual polo for, como vítimas ou supostamente agentes de alguma conduta tipificada penalmente. Mais do que isso, em quaisquer destas situações, são inúmeras e muito prováveis as possibilidades de viverem violências institucionais, com processos duros de revitimização, seja pelo despreparo profissional, pelo não entrelaçamento dos atendimentos e políticas públicas, seja por suas versões e condutas serem questionadas. Quando se trata de mulheres processadas criminalmente ou já em situação de prisão, a violência institucional é potencialmente mais complexa. Isto por algumas razões. Em primeiro lugar, por serem minoria proporcional na realidade do sistema prisional, os estabelecimentos são precários e adaptados: Em que pese o aumento da massa carcerária, os dados obtidos junto ao Infopen apontam que somente 7% dos estabelecimentos prisionais brasileiros são voltados exclusivamente ao público feminino, enquanto que outros 17% são mistos (na ideia de que podem possuir uma ala para mulheres dentro de um estabelecimento masculino) (LIMA, MIRANDA, 2017, p. 6).
Sendo assim, o mais comum é que a arquitetura prisional seja pensada para o público masculino e depois adaptada às mulheres e, por consequência, não atendem as necessidades que são próprias das mulheres, como são “atividades que viabilizam o aleitamento no ambiente prisional, espaços para os filhos das mulheres privadas de liberdade, espaços para custódia de mulheres gestantes, equipes multidisciplinares de atenção à saúde da mulher, entre outras especificidades” (INFOPEN MULHERES, 2017, p. 23)41. 41 O mesmo relatório informa que, quanto aos espaços exclusivos para visitação social - que, portanto, não devem coincidir com o pátio do banho de sol -, apesar de previstos no modelo arquitetônico normativamente regulamentado, existem na proporção de uma por cada duas unidades exclusivas para as mulheres, três por cada dez nas unidades mistas e 34% no caso das exclusivamente masculinas. Relacionado ao espaço físico, pensando em sua ocupação, é notório pelos números elemento corriqueiramente dito sobre os laços de sociabilidade que se
289 Esta precariedade tem como grau máximo a falta de estabelecimentos e consequente impossibilidade de efetiva progressão de regime, gerando situações inconcebíveis de cumprimento adaptado de regime semi-aberto em estabelecimento para regime fechado, fruto de uma racionalidade punitivista e inconstitucional de nossos magistrados, conforme descreve Luciana Ramos (2014, p. 76) abaixo, desde a realidade do Distrito Federal até o ano de 2014: Não há no país nenhum estabelecimento de regime semiaberto para as mulheres. Desta forma, o regime geralmente é cumprido no próprio estabelecimento prisional feminino, em local diferente à carceragem das que cumprem regime fechado, com saída das presas para trabalho durante o dia e retorno à noite. O que acontece no Distrito Federal é que as mulheres com direito a cumprirem a pena no regime semiaberto não têm trabalho fora da unidade, nem lhes são ofertados trabalhos para que possam sair durante o dia e regressar à noite. É ínfimo o número de mulheres que estão no regime semiaberto trabalhando. A maioria está dentro das celas, sem qualquer atividade, o que caracteriza cumprimento da pena em regime diverso ao determinado em sentença. Essa nova categorização revela que há ausência de política penitenciária.
A situação descrita por Luciana Ramos se relaciona com o dado de que, daquelas que já receberam uma condenação, 32% foram sentenciadas em regime fechado, 16% em regime semiaberto e 7% em regime aberto. Ainda neste sentido, quanto ao tempo da pena, a situação é muito semelhante aos dados gerais (masculino e feminino), com 70% das mulheres condenadas a até, no máximo, 8 anos de prisão (ainda que só haja informações de 37% da população prisional feminina quanto a este dado). Como já dissemos, condenados a penas entre 4 e 8 anos, não reincidentes, podem cumprir em regime inicial semiaberto. E não reincidentes, com penas iguais ou inferiores a 4 anos, poderão cumprir em regime aberto. Assim, ainda que não haja informações mais precisas sobre a reincidência, destaca-se que: Embora 29% da população prisional feminina seja condenada a penas inferiores a 4 anos, apenas 7% das mulheres encarceradas no Brasil em Junho de 2016 cumpria pena em regime aberto. Da mesma forma, temos 41% da população condenada a pena entre 4 e 8 anos e o regime semiaberto contempla apenas 16% do total da população prisional feminina (INFOPEN MULHERES, 2018, p. 56).
Além desta primeira dificuldade, que poderíamos dizer ser mais estrutural, os outros entraves estão relacionados às diferenças de regras e tratamentos, como, por exemplo: i.
as travas na implementação das regras de visita íntima de cônjuge ou outro parceiro
ou parceira para as mulheres em situação de prisão, em ambiente reservado e garantindo a privacidade. preservam muito mais precariamente para as mulheres em situação de prisão, visto que o dever de cuidado, afeto e responsabilidade pelo outro são características ensinadas e reproduzidas em grau máximo para as mulheres. A média de visitação nos presídios exclusivamente masculinos é de 7,8 pessoas por semestre e nos femininos e mistos é de 5,9 pessoas.
290 Em resolução de 2011, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, observando o Plano de Política Criminal e Penitenciária vigente à época e o relatório do Grupo de Trabalho Interministerial para Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional Feminino, editado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e fundamentado no princípio da igualdade de direitos, reformulou a definição de visita íntima para assegurar o direito à visita íntima “às pessoas presas casadas entre si, em união estável ou em relação homoafetiva”, contemplando também a população carcerária LGBT (INFOPEN, MULHERES 2018, p. 26).
Ainda que com importantes mudanças como esta, a lógica imperante é do trato mais liberal de regras para as visitas íntimas ao homem, discursivamente encarado pelas administrações como melhor alívio para a tensão da privação de liberdade com precariedade e superlotação42 e, no caso das alas femininas ou unidades exclusivas, uma vedação velada – pela falta de estrutura, muitas vezes – da possibilidade da visita íntima, o que por trás conserva o ideário do sexo exclusivamente enquanto fórmula reprodutiva para a mulher, ausente de desejos próprios. Todos os obstáculos na garantia dos direitos básicos da mulher presa no que tange ao exercício da maternidade – celas adequadas para gestantes, berçário, creche, centro de referência materno-infantil. Segundo o relatório consolidado referente aos dados de 2016, com muitas variações locais, a média nacional é de 50% das mulheres estarem em unidades com celas adequadas a gestantes e lactantes. Quanto aos locais para que a mulher possa estar em contato com o bebê durante a amamentação, “apenas 14% das unidades femininas ou mistas contam com berçário e/ou centro de referência materno-infantil, que compreendem os espaços destinados a bebês com até 2 anos de idade” (INFOPEN MULHERES, 2018, p. 32). A situação fica ainda mais drástica ao verificar a existência de espaços de creche para crianças acima de 2 anos, sendo compatíveis apenas 3 % dos estabelecimentos. Os dados oficiais sobre filhos ainda são insuficientes, sendo que no último relatório, as informações recolhidas quanto a este quesito contabilizavam apenas 7% das mulheres – 2689 delas. Mesmo assim o dado foi analisado como indício formal de uma questão sensivelmente perceptível. Pelo cálculo “74% das mulheres privadas de liberdade têm filhos”, enquanto “para o mesmo período, temos que 53% dos homens que se encontram no sistema prisional declaram não ter filhos”. O relatório conclui com um diagnóstico da situação:
42 Ainda que muitas unidades não contenham estruturas propícias para tanto. Mesmo assim, as visitas íntimas não deixam jamais de ocorrer, adaptando-se o ambiente das próprias celas, muitas vezes em rodízio. Segundo os dados, existem espaços específicos para visita íntima em 41% dos estabelecimentos exclusivos para mulheres e em 34% dos espaços mistos.
291 Em que pesem as desigualdades persistentes na sociedade quanto à distribuição da responsabilidade sobre a execução do trabalho de cuidados (domésticos e com os filhos, especialmente), entre homens e mulheres, que podem influenciar a declaração sobre filhos junto aos cadastros sociodemográficos, é preciso aprofundar a análise sugerida pelos dados do Infopen, que apontam para uma importante desigualdade na distribuição de filhos entre homens e mulheres no sistema prisional e demandam, assim, a formulação de serviços e estruturas penais capazes de responder, por um lado, à possibilidade de institucionalização da criança e, por outro, aos efeitos da separação da mãe na vida das crianças e comunidades (INFOPEN MULHERES, 2018, p. 51).
Uma sociedade ainda pautada pela referência cultural prioritária da figura materna como cuidadora das crianças e adolescentes. Elemento que resulta na efetiva responsabilização material muito maior de mulheres, inclusive com a prevalência de famílias monoparentais, conduzidas por mulheres. Esta, a mesma sociedade dos discursos “pró vida”, da condenação das escolhas da mulher sobre seu próprio corpo. A mesma sociedade que responsabiliza a mulher pelos desajustes familiares. Por ironia, esta mesma sociedade não se preocupa com a separação mãe-filhos e suas consequências. Este é, sem dúvida, o ponto mais dramático desta política irracional e genocida. O perfil dos trabalhos que lhes são oferecidos, quase nunca permitindo uma qualificação, mas sim uma reprodução dos trabalhos já antes atribuídos às mesmas, ditos “femininos”, especialmente os de limpeza e culinária da unidade prisional como um todo. Ademais, para todos os presos, inclusive as mulheres, o trabalho – direito e dever na execução penal – é utilizado como “moeda de troca” no controle interno prisional. Quanto a este elemento das oportunidades de trabalho às mulheres na realidade prisional, enquanto reforçadoras do papel social feminino que foi descumprido, em alguma medida, ao serem presas, a reflexão de Danièle Kergoat (apud HIRATA, 1989) parece-nos relevante para este contexto, ao explicar que, tradicionalmente, há um discurso legitimador de que essas diferenciações de atribuições/postos ou funções de trabalho são da própria “natureza feminina” (trabalhos repetitivos ou minuciosos são mais fáceis às mulheres, por serem mais pacientes e delicadas) ou então que o desafio está na desigual qualificação da mulher, receitando soluções como estímulo na educação, concessão de trabalho, maiores oportunidades, ao que a autora rebate, dizendo que “as mulheres operárias não são operárias não-qualificadas ou ajudantes porque são mal-formadas pelo aparelho escolar, mas porque são bem formadas pelo conjunto do trabalho reprodutivo” (KERGOAT apud HIRATA, 1989, p. 94). Isso significa que são formadas formal e informalmente, de maneira consolidada, para ocuparem determinado espaço social. Estes obstáculos, especialmente os referentes ao trabalho e à proximidade com seus filhos, dificultam o lidar com os dilemas econômicos da família, o que para as mulheres, tal
292 como foram socializadas, possui outro significado, outra responsabilidade e, por consequência, um sofrimento incomparavelmente mais aflitivo que o do homem. Enfim, retornando à reflexão anterior, hoje há estudos – inclusive, muitos deles, baseados em pesquisas empíricas – sobre as mulheres apenadas por crimes não tidos como “femininos”. Há quem aponte diferenciação do rigor judicial a depender do tipo de conduta e do quanto se aproxima ou se afasta do papel social feminino. Assim, o sistema da justiça criminal é integrativo do sistema de controle social informal, sendo aquele preferencialmente masculino, e este, feminino. Por isso, quando se trata de mulheres que cometem delitos, principalmente aqueles que não se espera sejam cometidos por mulheres, estas são mais criminalizadas, ou seja, não contam com a postura “cavalheiresca” dos juízes (RAMOS, 2014, p. 45).
Assim, receberá um tratamento “mais severo” quando o delito não seja especificamente feminino ou quando ela não se adapte à imagem da mulher convencional, ou seja, a de casada, com filhos e dependente economicamente. Por exemplo, pode ser que haja menor drasticidade na penalidade quando o motivo de um furto ou roubo foi famélico e familiar (para alimentar seus filhos), uma vez que comete o ato sem se desfazer por completo do papel social que lhe é atribuído e naturalizado. Ao contrário, quando pega por tráfico ou por qualquer conduta sem conteúdo apelativo moral, tende a ter penas mais duras. Dentre tais possibilidades de “abrandamento” de pena, existe uma específica que merece nossa atenção, quando se tratam de prisões que podem ser caracterizadas como microtráfico ou tráfico interno, por terem levado drogas para outras pessoas no interior de uma unidade prisional. Percebe-se que há um abrandamento quando da aplicação da pena para mulheres que levam droga para a prisão, com penas no mínimo ou abaixo do mínimo legal. Se não tivesse o recrudescimento da Lei nº 11.343 de 2006, que obstaculiza a aplicação de outros regimes que não somente o fechado, embora os Tribunais superiores já tenham julgados contrários a isso, verifica-se um forte contingente de mulheres que poderiam estar cumprindo outras penas, fora da cadeia, estão fechadas atrás das grades, cumprindo toda a sentença presas, pela ausência de políticas de progressão de regime específicas para as mulheres presas no Distrito Federal, bem como pela legislação que não faz discriminações no âmbito da atuação das acusadas na estrutura do tráfico (RAMOS, 2014, p. 81).
Conforme Luciana Ramos analisa acima, desde a realidade do Distrito Federal, esta situação específica de menor apenamento inevitável – ainda que outra condição mais digna deveria prevalecer - é existente não porque haveria generosidade do judiciário ou por algum papel social cumprido por estas mulheres nestas condições de tráfico interno, mas sim por ser latente a desproporcionalidade da previsão legal referente às hipóteses de enquadramento de condutas como tráfico de drogas em nosso país. Esta é uma situação que vem sendo cada vez
293 mais crescente do encarceramento feminino e suas especificidades serão melhor abordadas adiante.
3.4.6.2 Quem são as mulheres em situação de prisão em nosso país? O perfil e as necessidades concretas dessas mulheres trabalhadoras e suas duplas ou triplas jornadas pela sobrevivência.
A realidade grita: a ampla maioria das mulheres em situação de prisão por tráfico (o que, como dissemos inicialmente, são a maioria da totalidade das aprisionadas hoje) deveriam ser compreendidas como trabalhadoras do tráfico e não como traficantes, com toda a carga ideológica essencializadora que este termo carrega. De acordo com as pesquisas empíricas que pudemos ter acesso e pelos dados oficiais, arrisca-se aqui traçar o perfil de que são maioria de mães solteiras, que estavam desempregadas ou em trabalhos informais. Uma importante demonstração disso é o fato de quase todas elas não receberem o benefício do auxílio-reclusão, conforme Arguelo e Muraro (2015, p. 11) relatam abaixo na pesquisa empírica que realizaram em uma unidade prisional no Paraná: 90,7% das mulheres afirmaram que não recebem auxílio reclusão e apenas 4,85% recebem. Para o recebimento do auxílio reclusão é necessário que a condenada esteja trabalhando registrada, ou seja, no mercado formal, antes de ser presa, situação que se apresenta paradoxal, pois essas mulheres em geral foram selecionadas pelo sistema de justiça criminal, não apenas porque transgrediram a norma (há muitos que transgridem e não são presos), mas essencialmente por serem portadoras de indicadores sociais negativos, eis que fazem parte dos excluídos do mundo do trabalho, do mercado de trabalho formal (regido por leis trabalhistas e direitos sociais mínimos). Assim, a condenada, além de sofrer a pena de prisão, sente que esse sofrimento se estende aos seus familiares, especialmente a seus filhos, porque, se a vida já era precária antes da prisão, como não o será durante esse período?
Fato este que complementam com outra observação: Raríssimos foram os casos em que o tráfico possibilitou aquisição de artigos de luxo, roupas e carros importados, no total de 141, apenas duas. A maioria ressaltou a dificuldade de arranjar um emprego que possibilitasse a sua subsistência (pagamento do aluguel de uma casa, alimentação e roupa), o que mostra que o tráfico era alternativa para a falta de trabalho. Mesmo entre as que responderam que não sobreviviam do tráfico, a renda que possuíam era muito aquém do necessário à sobrevivência (ARGUELLO, MURARO, 2015, p. 12).
294 Trata-se de uma atividade viável para o cumprimento de suas tarefas de mulheres trabalhadoras com pouca instrução escolar e que enfrentam, concomitantemente, outras barreiras sociais/raciais, com responsabilidades imperantes de cuidados familiares, em uma realidade de capitalismo dependente como é a brasileira. Estes desafios para a garantia de autonomia financeira da mulher trabalhadora selecionada pelos filtros da justiça criminal e que se encontra em situação de prisão também se expressa pelo perfil geracional, pois, apesar da maioria jovem (50% das mulheres presas em 2016) e das chances destas serem presas ser “2,8 vezes maior do que as chances de mulheres com 30 anos ou mais serem presas” (INFOPEN MULHERES, 2018, p. 39), uma parcela significativa e crescente apresenta entre 35 e 45 anos, fenômeno também distinto do masculino e que explica as peculiaridades das mulheres no mundo do trabalho: As mulheres encarceradas, no Brasil, hoje são jovens, 49% tem até 29 anos, e curioso, há um número significante, 21%, de mulheres entre 35 a 45 anos que estão sendo encarceradas. Fato que pode ser explicado por compreender o período de maior dificuldade para as mulheres em conseguir empregos, em razão da idade mais avançada (RAMOS, 2014, p. 68).
A partir destes elementos, tratar de um processo de trabalho que se dá desde a ilicitude e cujas expressões capturáveis são sempre parciais e permeadas por filtros políticos – as ocultações diversas na realidade prisional – faz com que as explicações sobre o boom do encarceramento feminino não possam ser calcadas nem apenas na existência de leis mais rigorosas, nem no fato das mulheres serem os alvos mais fáceis da seleção policial sobre o tráfico, muito menos na simples afirmação de que mais mulheres estão se envolvendo com o tráfico. Entretanto, como sugerido no início deste artigo, todas essas razões necessariamente devem ser permeadas pela compreensão das condições dessas mulheres no mundo do trabalho. Assim, podemos afirmar que o ingresso da mulher no tráfico, bem como sua posição hierárquica nele são expressões da divisão sexual do trabalho. Quanto a este último aspecto, no item seguinte descreveremos as posições mais frequentemente ocupadas por mulheres no processo de trabalho do tráfico de drogas e, assim, melhor o compreenderemos. Já quanto ao primeiro, é possível dizer que o tráfico possibilita a reprodução da divisão sexual do trabalho, pois garante que a mulher concilie suas funções dentro do lar, com suas tarefas domésticas e de cuidado, além de possibilitar um aparente ganho econômico superior ou mais vantajoso do que os trabalhos ditos “femininos”, que poderiam ser desempenhados por ela.
295 Assim, parece-nos importante destacar que, ao se afirmar que a maior incorporação das mulheres na indústria do tráfico e a sua maior seleção penal estão diretamente relacionadas à divisão sexual do trabalho, deve-se frisar que se está botando nesta conta também a dimensão do trabalho reprodutivo. Pensamos que o trabalho reprodutivo não deixa de ser uma extensão da mais-valia extraída no trabalho formal, uma vez que garante a reprodução da força de trabalho a baixos custos. Isso quer dizer que entendemos ser da máxima importância destacar que o trabalho doméstico e de cuidados é a outra faceta garantida com a atividade precária exercida pelas mulheres trabalhadoras do tráfico. Angela Davis (2016) realiza fundamental contribuição sobre este tema. A autora descreve como a natureza do trabalho doméstico se transformou após o processo de industrialização. Até então o trabalho doméstico, eminentemente feminino, era valorizado socialmente e englobava atividades que depois foram incorporadas pela indústria, como a própria construção e reformas das casas, a confecção de roupas, sabão, manteiga. A industrialização criou o fenômeno das “donas de casa”, com seus trabalhos invisíveis, desvalorizados, provocadores de tristeza e depressão. De outro lado, a história da mulher negra foi sempre diferente da oficial, pois há muito tempo trabalha no espaço público, quando escravizada e quando liberta, e seu serviço doméstico acabou por possuir outro peso, até porque representam grande contingente de trabalhadoras domésticas, dedicando mais tempo para o cuidado dos filhos e limpeza do ambiente da patroa do que os seus próprios (DAVIS, 2016). E aqui alcançamos um ponto muito importante. Longe das polêmicas sobre trabalho produtivo e improdutivo no capitalismo, Angela Davis (2016) descreve como, com a industrialização, houve uma separação estrutural entre a economia pública do capitalismo e a economia privada do lar, mas que esta última, em todo este período, foi imprescindível para garantia da reprodução da força de trabalho. Isso faz com que entenda o trabalho doméstico como precondição àquele que, oficialmente, é entendido verdadeiramente como trabalho. Isto possui tons ainda mais nítidos em uma realidade de capitalismo dependente, onde a classe trabalhadora é historicamente explorada com mais intensidade, com seu quinhão da produção (salário) tendente à insuficiência para a reprodução da vida. Para que o desenho desta realidade seja o mais fidedigno possível, no sentido de reunir o máximo de determinantes que compõe esta cena complexa, é imprescindível enegrecer seus traços. O primeiro relatório de mulheres do INFOPEN aponta que “duas em cada três mulheres presas no Brasil são negras, com uma taxa de 68%; ao passo que a média da
296 população negra no país não ultrapassa a casa de 51%, segundo dados do IBGE” (LIMA, MIRANDA, 2017, p. 8). Os dados mais recentes, de 2016, relativos ao alcance de informações de 72% da população prisional feminina, atestam que 62% das mulheres se autodeclaram negras. Para nós, o que mais impressiona é a percepção regional. Para exemplificar, enquanto Paraná, Rio Grande do Sul Santa Catarina, possuem, respectivamente, 33%, 30% e 38%, estados como Acre, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins apresentam, respectivamente, 97%, 94%, 90%, 89%, 90% e 90%. Isto demonstra que são as mulheres negras as que enfrentam as maiores dificuldades no mercado de trabalho e que são mais prejudicadas no acesso a serviços de saúde, educação e assistência social dignos. Há um processo de pauperização das mulheres negras e pardas, historicamente sustentado pelo regime escravocrata no período colonial. Assim, considerando que, a partir de dados do PNAD e de pesquisas recém publicadas sobre o tema, a maioria das famílias brasileiras são monoparentais, chefiadas por mulheres, na sua maioria negra, e que estão, majoritariamente, inseridas no mercado informal de trabalho, verificar-se-á que há um caminho histórico que reflete o processo de exclusão e de afirmação do lugar precarizado das mulheres negras no mercado de trabalho (RAMOS, 2014, p. 69).
Ademais, viemos, em especial nos estudos do capítulo anterior, corroborando com ideias como as de Flauzina (2006) e Piza (2016) de que nosso sistema penal nasce e se desenvolve com vocação genocida, sendo instrumento de controle e extermínio da população negra desde o período da colonização, sofisticando seus mecanismos com o passar do tempo, mas sem minimizar sua vocação. Com as mulheres esta tendência não é diferente, ainda que se expresse com nitidez apenas no último período. Se há um fenômeno de pauperização e maior desigualdade e injustiça social atrelado ao aprofundamento da realidade neoliberal, que empurra mulheres para a mais intensa conciliação do trabalho produtivo e reprodutivo, para as jornadas mais extenuantes, para os trabalhos mais precários, inclusive os ilícitos, esta realidade é ainda mais pulsante para as mulheres negras, pois o racismo estruturante do capitalismo permeia todas as suas instituições sociais e torna as vidas dessas mulheres ainda mais desafiadoras e permeadas de obstáculos sociais. Por tudo isso já se pode perceber que, em regra, não há “malandragem”, muito menos perfis ontológicos de mulheres que atuam no “mundo do crime”. As mulheres selecionadas pelo sistema de justiça criminal como traficantes são trabalhadoras e, quase sempre, chefes de
297 família, criando formas de viver com um pingo de possibilidade e, quem sabe, dignidade. Mulheres que encontram no encarceramento o esfacelamento desta mínima possibilidade. A seguir, reuniremos alguns elementos que nos permitem entender o lugar das mulheres no processo de trabalho do tráfico de drogas, bem como as graves limitações da Lei de Drogas que ameaçam a vida das mesmas.
3.4.6.3 O processo de trabalho do tráfico de drogas e as posições ocupadas predominantemente pelas mulheres – o lugar do risco e da desvalorização
De acordo com Luciana Ramos, podemos afirmar que há no Brasil, atualmente, uma média de “doze perfis de mulheres presas por tráfico de drogas: bucha, consumidora, mulaavião,
vendedora,
vapor,
cúmplice,
assistente/fogueteira,
abastecedora/distribuidora,
traficante, gerente, dona de boca e caixa/contadora” (RAMOS, 2014, p. 70). Em geral, possuem uma responsabilidade pela circulação das drogas, como as que se enquadrariam como “avião” ou “mulas”, justamente por serem passíveis de disfarçar a conduta, pela fuga do estereótipo criado do que seria a figura do “bandido”, cultivado desde a forma masculina. Tais posições, por consequência, tornam-nas mais vulneráveis à seleção policial, pela maior exposição. Em geral, tais mulheres são abordadas junto a grupos mais amplos e sem porte de armas. Os últimos estudos demonstram que o perfil vem mudando, ainda que haja uma prevalência de postos mais vulneráveis e das mulheres presas por tráfico intrapresídio. Mas, é importante que se destaque que outras posições mais “altas”, como chefe de boca ou gerente, também são ocupadas por mulheres, sendo certo que, na maioria destes casos, as bocas são herdadas por elas de algum parente, principalmente marido e filho (sendo, muitas vezes, a única renda da família). Sobre as mulheres que transportam drogas ao presídio masculino (intrapresídio) modalidade que vem sendo cada vez mais frequente entre as incriminadas – os estudos consultados ressalvam que essas mulheres não necessariamente possuem uma relação afetiva com o preso: Neste momento é importante separar duas grandes situações. A primeira se refere ao mencionado no parágrafo acima: a situação das mulheres que têm envolvimento afetivo com homens presos e por um sentimento de cuidado transportam a droga. Contudo, verificou-se que há um grupo considerável de mulheres que não guarda
298 qualquer relação com o destinatário da droga, sequer sabiam o seu nome. Esta última categoria revela um microssistema de tráfico, que cada vez mais cresce no país e que tem movimentado o mercado interno das drogas. Esse microssistema só é possível porque há, de um lado, um discurso interno nos presídios de que a droga é importante para acalmar os homens, por isso as administrações fazem vista grossa sobre o tráfico nos presídios, e de outro, a necessidade, também apontada pelas administrações, do sexo “fácil” para os internos, ou seja, não há rigor na entrada de mulheres para a visita íntima, o que possibilita a entrada desde profissionais do sexo, em algumas unidades, a mulheres recrutadas para o tráfico intrapresídio (RAMOS, 2014, p. 92).
Esta desmistificação é importante por dois aspectos. Um primeiro por, ao demonstrar os dois perfis de relação nesta modalidade de tráfico, escancarar-se a hiprocrisia das razões declaradas e reais de funcionamento do sistema penal. A pena não possui qualquer função que não seja de neutralização, ainda que nossa legislação verbalize o exato oposto, e o funcionamento do sistema prisional é regido pela imperativo da garantia da ordem interna, nem que para isso se estimule na surdina a exploração sexual e a entrada de drogas (enquanto se limita rigorosamente a visita íntima de mulheres – como se mulher não precisasse satisfazer seu desejo sexual – ou se perpetua a revista vexatória aos familiares, com um falso discurso que escamoteia o real interesse em humilhar e estender a criminalização e punição a todas essas pessoas). O outro aspecto fundamental trata-se da necessária desconstrução de argumentos de que a mulher faz tudo isso pelo fato de cultivar um amor incondicional e leal, ao que Luciana Ramos contesta com sabedoria: Não é só por amor que muitas mulheres padecem todos os dias em filas e revistas íntimas vexatórias para visitarem seus homens na prisão, mas também pela assimilação de que é papel da mulher, delas, portanto, cuidar da família. Não se pretende, com isso, negar que há influência masculina para as mulheres entrarem no tráfico, contudo convida-se a uma análise mais profunda que tenta buscar na história social das mulheres, bem como na relação com o mercado de trabalho, alguns olhares que ajudam a compreender melhor o aumento no encarceramento de mulheres por tráfico de drogas. Há uma reprodução do discurso vitimizador que é, no mínimo, equivocado, pois anula a mulher, mesmo que autora de um delito, da condição essencial de sujeito, de protagonista, pois o conceito de vítima reduz o problema a um dano individual e gera um sentimento de pena com relação àquela situação específica (RAMOS, 2014, p.107-108)
As mulheres, ao se depararem presas, sentem o abandono familiar, o inverso do acima narrado. De fato mulheres cultivam o cuidado, e o contrário não, na maior parte das vezes. Mas isso não pode ser explicado desde uma essencialização de comportamentos femininos e masculinos, mas sim desde a percepção de que o ensinamento passado de geração a geração, cultivado com afinco nas escolas, igrejas e telinhas da TV, de fato se reflete em comportamentos de responsabilidade afetiva e cuidado familiar, bem como o seu oposto, no caso dos homens. Mas não se trata de um amor romântico e heroico, mas sim de uma dura
299 missão que aprendem a carregar e que, muitas vezes, pelos entrelaçamentos financeiros e de sobrevivência, não vislumbram possibilidades de romper. Assim, dando continuidade à descrição do perfil da ocupação das mulheres no tráfico de drogas, a maioria ainda é primária e a reincidência, quando ocorre, é muito comum que seja específica (pelo mesma tipificação). A investigação realizada pelas pesquisadoras em uma unidade prisional do Paraná revela bastante sobre o mito e o real sobre a realidade dessas mulheres: Das 141 entrevistas analisadas, 79,72% delas nunca portaram arma, enquanto apenas 19,85% delas já portaram arma. Majoritariamente, elas não possuíam condenações pela prática de outros crimes, além do tráfico, e nem participavam de organizações criminosas, bem como foram presas com quantidade pequena de drogas, em geral. Entretanto, as condenações são muito rigorosas. Por um lado, o aumento de prisões femininas leva a crer que a mulher se volta ao mercado de ilicitudes como meio de subsistência, por outro lado, é plausível também que o aumento da repressão ao tráfico nos últimos anos tenha alcançado o gênero feminino, pois o art. 33 envolve tantos núcleos verbais (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar) que aumenta significativamente a possibilidade de arbitrariedade do sistema de controle penal (ARGUELLO, MURARO, 2015, p. 5).
Com isso, temos, de um lado, os rigores cegos e seletivos/punitivistas do judiciário e, de outro, alimentando-o, o sério problema da Lei de Drogas, como pudemos desenvolver acima, que não estabelece proporcionalidade entre as condutas e que atribui arbítrio ao juiz para definir, no limite, quem é o usuário e quem é o traficante. Desde a Constituição Federal e, logo em seguida, a Lei dos Crimes Hediondos (8.072/90), o crime de tráfico é equiparado ao hediondo, sendo inafiançável, sem anistia e com vedações de benefícios e institutos da execução penal, destacando-se a vedação original da liberdade provisória. A Lei de Drogas, vigente desde 2006, veio aperfeiçoar este quadro, apresentando um discurso polarizado, com o fortalecimento do discurso médico e “protetivo” no caso daqueles rotulados como “consumidores” da droga e com penas aumentadas significativamente e menores chances de substitutivos penais e de outras condições para o amplo rol de condutas que se enquadrariam como elementares do crime de tráfico de drogas. Esta dualidade em oposição revela a perversidade da política criminal brasileira guiada através desta Lei. O art. 28, parágrafo 2º estabelece que a determinação de que a droga era destinada a consumo pessoal ou para tráfico dependerá de uma interpretação do juiz desde elementos como tipo de droga, quantidade, local e, pasmem, condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais.
300 E apesar de o Brasil ter buscado na legislação um novo enfoque no tratamento das drogas, criando o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas (SISNAD) e estabelecendo algumas ações de prevenção, na prática, pouco mudou, mantendo-se a repressão ao tráfico como principal bandeira no tratamento às drogas (LIMA, MIRANDA, 2017, p. 10).
Até o início do século XX não havia qualquer legislação no mundo regulando ou proibindo o comércio das drogas. A política de Guerra às Drogas forja-se em nível internacional e visa, essencialmente, aperfeiçoar o controle sobre as classes sociais exploradas e oprimidas. Onde houver demanda, haverá oferta, este é o fracasso intrínseco da guerra às drogas e, ao mesmo tempo, seu voraz sucesso lucrativo (com a droga e a indústria do controle do crime ao seu redor), avassalador de vidas e esperanças. O Brasil, por sua localização geopolítica, assume um dos mais dolorosos papeis nesta política de barbárie, por representar um grande celeiro de venda e consumo de drogas, recrutando e arrasando uma geração jovem periférica e tendo no boom do encarceramento feminino um importante símbolo de seus efeitos nefastos. Para se ter ideia do alcance deste projeto, a pesquisa de Arguelo e Muraro (2015) revela que as próprias mulheres presas são a favor da criminalização das drogas, o que denota a adesão a um discurso moral de malefícios, instrumentalizado desde a legalidade (o que é ruim, é proibido), ainda que elas próprias sejam as mais cientes e, indubitavelmente, as mais afetadas pelos malefícios da criminalização. Por fim, podemos dizer que o momento histórico atual, de crise profunda, aguça as contradições inerentes da ordem do capital. Homens e mulheres negras, com suas devidas especificidades, bem como a comunidade LGBT, ocupam os espaços de trabalho mais precarizados, sendo a marginalização social e econômica uma constante em suas trajetórias. Para a possibilidade de acumulação e expansão, passa a ser vital que o capital promova a acentuação da exploração do trabalho, ao mesmo tempo em que há um desemprego crônico, o uso do Estado para a retirada de direitos previdenciários e trabalhistas conquistados historicamente, sendo as mulheres, pessoas negras, pessoas transexuais e travestis os mais afetados. Este cenário, concomitantemente, gera uma ainda maior desvalorização do trabalho doméstico e a naturalização desta função às mulheres. Aqueles dois princípios permanentes de Kergoat
–
da
separação
entre
trabalhos
de
homem
e
de
mulher
e
da
hierarquização/valorização de um e não do outro – são repaginados e reforçados. E o alerta é nítido e alto: quanto mais privatização e desregulamentação, mais trabalho gratuito das
301 mulheres na esfera doméstica e familiar, mais mulheres com carga horária reduzida para darem conta dos trabalhos domésticos e maior concentração nossa em trabalhos informais e terceirizados e, por consequência lógica, passando a participar ainda mais de redes ilegais (tráfico de mulheres e de drogas). É preciso que se conheça a realidade e que se articule a reflexão teórica e mais ampla com as especificidades deste tipo de opressão-exploração vivenciadas pelas mulheres em situação de prisão por tráfico.
3.4.7 A Nova Lei de Medidas Cautelares no Processo Penal (Lei 12403/2011): singelos avanços legais e nenhum material/real: como explicar?
De acordo com os dados trabalhados no segundo capítulo, faz-se necessário perceber como as prisões provisórias se apresentam como importante pilar do encarceramento massivo no Brasil, indiscriminadamente aplicadas pelos operadores do direito, ainda que com uma reforma legal, com tramitação de uma década, que poderia tencionar por uma sua diminuição do número absoluto de presas e presos provisórios no país. Isso só nos faz perceber a necessidade de, mais do que uma análise técnica da medida cautelar pessoal, estudar o seu papel político nos sistemas penais latino-americanos, especialmente no brasileiro. Neste momento, não temos a pretensão de realizar uma análise depurada da previsão legal, mas apenas relatar os elementos inéditos com a lei e levantar algumas apostas sobre a sua inefetividade.O primeiro ponto a se destacar é a alteração da própria prisão em flagrante, configurando-se como medida pré-cautelar. A partir da nova Lei, ninguém fica preso em flagrante temporalmente, o flagrante acontece e deve ser sucedido imediatamente pela sua comunicação ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa que ele indique. Em seguida, o auto da prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz em até 24 horas para que ele i. relaxe a prisão, se ela for ilegal (se não houver flagrância, se houver desrespeito à sua formalização, se for forjada; etc.); ii. conceda liberdade provisória; iii. converta o flagrante em preventiva, nos termos do inciso II do artigo 310, “quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (BRASIL, 1941).
302 Isso significa afirmar que antes desta Lei tínhamos no Brasil um sistema cautelar edificado em um simples binômio liberdade provisória – prisão preventiva. Com a alteração da legislação, o juiz terá que ou naturalmente conceder a liberdade provisória – que, apesar da manutenção do termo, não é provisória, mas sim liberdade enquanto regra – ou fazer o esforço de averiguar a compatibilidade de uma ou mais das nove medidas cautelares alternativas à prisão ao caso concreto. São elas: i. comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; ii. proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; iii. proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; iv. proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; v. recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; vi. suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; vii. internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração; viii. fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; ix. monitoração eletrônica. Distante de analisar cada uma delas, o que nos importa neste momento é perceber que a mudança nas medidas cautelares de natureza pessoal no processo penal brasileiro imprimiu um sistema muito mais complexo de alternativas, exigindo que o juiz ou juíza analise imediatamente se há a possibilidade de liberdade provisória. Entendendo que não, por algum elemento que possa ameaçar o transcurso do processo ou a sua própria realização final, que se verifique a possibilidade de todas estas medidas acima elencadas. Uma breve aproximação a elas já nos revela que, de fato, possuem capacidades mais precisas de proteger elementos ameaçados do processo do que o contundente e gravoso cerceamento da liberdade por meio de prisão. As medidas cautelares diversas da prisão não são alternativas a esta, mas sim substitutivas da mesma. Isso significaria que deveria haver fundamentação dos motivos de nenhuma delas serem pertinentes à proteção processual em causa e houver, assim, a necessidade da prisão preventiva.
303 Ocorre que este sistema multifacetado é reduzido no pragmatismo cotidiano das Varas Criminais do país devido a duas principais razões: as brechas e adulterações na redação final da Lei e a cultura conservadora e punitivista dos operadores do direito. Quanto ao primeiro aspecto, destacamos que do projeto original para a redação final dois pilares da reforma foram negligenciados, favorecendo um uso arbitrário das medidas cautelares pessoais, em especial da prisão preventiva. Como são medidas que protegeriam a qualidade e possibilidade da instrução e da aplicação de seu resultado conclusivo, elas só seriam aplicadas quando houvesse, de fato, alguma ameaça a esse caminhar processual e, além disso, apenas enquanto houvesse esta ameaça. Portanto, são medidas excepcionais, provisionais e provisórias. Sendo a prisão provisória a exceção destas exceções. Ocorre que, apesar desta lógica inerente ao regime de cautelaridade, é usual a aplicação de uma medida cautelar sob o risco de que haja tal ameaça e, mais do que isso, sem estabelecimento de um prazo ao menos para a reavaliação da necessidade de sua continuidade. Na redação final da Lei aprovada, o prazo máximo foi excluído e, como pudemos observar no “Raio-X” do sistema prisional feito ao final do capítulo anterior, o mais usual é que as prisões provisórias se estendam por praticamente todo o tempo do processo. Outro ponto drástico de recuo na redação final foi referente às hipóteses de periculum libertatis passíveis de fundamentar a decretação da prisão preventiva, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Qualquer medida cautelar pessoal só pode ser aplicada se houver fummus comissi delicti (elementos suficientes, em grau de probabilidade, de materialidade da ocorrência do crime e indício suficiente de autoria) e periculum libertatis (que é justamente o perigo de que a liberdade da pessoa indiciada ou acusada possa prejudicar o caminhar processual). Tratando especificamente da prisão preventiva, quanto a este segundo aspecto, o Código de Processo Penal, com esta alteração legal, passou a prever critérios objetivos como quantidade de pena abstrata ou condenação por outro crime doloso com sentença transitada em julgado – para além da situação específica de casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, como já pudemos desenvolver – e, cumulativamente a estes, a possibilidade de sua decretação como “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”. Estas duas últimas hipóteses englobam a conceituação de cautelaridade feita anteriormente, já os dois primeiros não possuem conteúdo em si, podendo ser preenchidos arbitrariamente pelas autoridades e, provavelmente, incorporando elementos de “periculosidade do agente” para a
304 sua fundamentação. Na maioria das vezes é a conduta pretérita ou a gravidade do ato praticado que justificam a necessidade de uma prisão provisória como garantia da ordem pública, em busca de uma proteção antecipada “da sociedade” contra o perigo da liberdade da pessoa, em nada se relacionando com a efetivação processual em si. Para além destas duas perigosas e intencionais brechas da redação final da Lei, o que de fato explica o fato da aplicação desta nova previsão legal não ter alterado em nada a realidade das prisões provisórias no país, que só aumentaram desde aí, é a formação dos nossos juristas. É o anseio punitivista que faz com que Ministério Público e magistratura atuem contra a lei e massifiquem o uso das prisões provisórias, predominantemente pautada na tal “ordem pública”, palavra mágica para a saga contra o “outro” marginal. Costuma-se afirmar, perante a realidade da aplicação destes institutos, que as prisões provisórias são aplicadas no Brasil com um fim – ilegal – de servirem como pena antecipada. Portanto, ainda que se reconheça a existência de um avanço importante com a mais detida regulamentação e a implantação de um sistema cautelar polimorfo, a percepção, após sete anos de sua ocorrência, é que as medidas cautelares diversas da prisão serviram não como substitutas desta, mas sim como extensão, como complemento do controle penal enquanto não ocorre a sentença. Conforme sugerimos em outros momentos e aqui precisamos reiterar é que, no exercício comparativo da massificação de aprisionamento de pessoas nos Estados Unidos e no Brasil, lá a negociabilidade processual penal vulgariza a aplicação da pena, fazendo com que muitos perpetuem aprisionados, enquanto cá a barganha começa a ter algum efeito na ampliação do controle penal, mas é o mau uso da prisão provisória que explica esse inchaço – em perfeita sincronia com a aplicação da Lei de Drogas. Este nos parece fenômeno semelhante ao narrado quanto à materialidade das penas alternativas à prisão ou à aplicação da transação penal ou à despenalização para o usuário de drogas. Instrumentos que, aparentemente, poderiam significar enxugamento do cárcere, reforçam a sua existência e complementam sua abrangência. Mais um elemento para nunca confiarmos no poder punitivo do Estado e em qualquer suposta benevolência sua.
3.4.8 Lei de Organizações criminosas (12.850/2013)
305 A Lei 12.850/2013 substituiu a antiga lei sobre o assunto – 9.034/1995. Aquela define organização criminosa, tipifica penalmente e prevê especificidades investigativas e processuais. Tal regulamentação gerou tamanho alarde e preocupação pelo fato de introduzir nova conceituação aberta do que se enquadraria como organização criminosa, constituindo todo um regime de excepcionalidades probatórias que afeta direitos humanos fundamentais e que atribui amplíssimos poderes ao Estado, especialmente aos órgãos policiais, além de aprofundar a lógica negocial com a previsão da delação premiada – estranha à tradição processual penal brasileira, como antecipamos ao tratar do JECRIM –, tendente a ser abusivamente utilizada, o que a história recente tem demonstrado. A nova lei das organizações criminosas foi aprovada com o apoio do governo Dilma, em nítida concessão aos órgãos do sistema de justiça criminal, em especial a Polícia Federal que, como pudemos desenvolver mais ao início do capítulo, foi muito incentivada e fortalecida nestes anos. Comecemos a descrição dos principais impactos desta lei pela própria tipificação. Desde 2013 no Brasil, com esta Lei, não há mais a previsão do crime de quadrilha ou bando. Desde então, há a possibilidade de associação criminosa prevista no artigo 288 do Código Penal – este que previa os tipos penais agora referidos –, de associação para o tráfico, prevista no artigo 35 da Lei de Drogas e o de promoção, constituição, financiamento ou integração, pessoal ou por interposta pessoa, de organização criminosa, previsto no art.1º, parágrafo 1º da Lei em estudo. As penas previstas são de reclusão, respectivamente: de 1 a 3 anos; de 3 a 10 anos; e de 3 a 8 anos. A associação prevista no Código Penal deve envolver três ou mais pessoas que se reúnam para o fim específico de cometer crimes. A associação da Lei de Drogas deve envolver duas ou mais pessoas que se reúnem para praticar os crimes previstos no caput do artigo 33, em seu primeiro parágrafo e no artigo 34, todas da mesma Lei. Já o crime de envolvimento em organização criminosa prevê algumas condicionantes legais, quais sejam: i. envolver quatro ou mais pessoas; ii. ser uma organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; iii. ter a organização o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam maiores do que quatro anos ou sejam de caráter transnacional – e, neste último caso, independentemente da natureza da infração e de sua pena máxima.
306 O argumento para a necessidade de se conceituar organização criminosa juridicamente, estabelecer uma pena específica para a sua participação e medidas específicas para sua investigação e processamento é o de que uma organização criminosa precisa ser bem delimitada para mais eficazmente ser combatida, pois sua ameaça à ordem pública se deve justamente pelo seu caráter perene e por ter um objetivo organizado, para além de associações eventuais de pessoas. Ocorre que os elementos numerados em ii e iii são extremamente abertos e preocupantes. A divisão de tarefas pode ser informal, ou seja, pode tudo ser, a informalidade permite induções. O objetivo da organização deve ser obter vantagens “de qualquer natureza”, “direta ou indiretamente”, ou seja, tudo, tudo pode ser. A ação pode ser cometida pelo próprio sujeito ou “por interposta pessoa”. Disso tudo se denota que há uma forte chance de incidência deste enquadramento penal para situações múltiplas, como um molde flexível, adaptável a diferentes formas. A limitação da gravidade da pena para quatro anos foi uma mera decisão de política criminal, que gerou questionamento como o de Nucci (2017), entendendo que não teria sido o melhor critério, por excluir, por exemplo, grupos organizados para cometer práticas de jogo de azar ou de furto. Há ainda a previsão de outro crime, com pena equiparada, qual seja o de obstrução à justiça. Este sim admitindo a tentativa, podendo a conduta ser impedir ou “embaraçar” - seja lá o que isso puder significar juridicamente e como possa ser provado - uma investigação criminal envolvendo organização criminosa. Há uma série de minúcias jurídicas sobre os parágrafos de previsão de causa de aumento de pena que não nos parece aqui pertinente de ser detalhada. Quanto aos meios de prova específicos, a Lei regula a possibilidade de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos – mais conhecida como interceptação ambiental; assim como acesso a dados cadastrais de bancos de dados, informações eleitorais e comerciais e acesso a registro de ligações telefônicas (este dependente de autorização judicial, diferentemente dos anteriores); da mesma forma, reforça a possibilidade da interceptação telefônica prevista na Lei 9296/96; do afastamento de sigilos financeiros, bancário e fiscal, com autorização judicial; e prevê a possibilidade do sigilo para aquisições de equipamentos. Quanto à atuação policial, há também regulamentação sobre a possibilidade de implementação, durante investigação, de agentes infiltrados, “como integrantes, mantendo identidades falsas, acompanhando as suas atividades e conhecendo sua estrutura, divisão de tarefas e hierarquia interna” (NUCCI, 2017, p. 93). Conforme afirma Alexandre Rosa (2016),
307 a Lei de Drogas e a de Organizações Criminosas passam a formalizar, impondo regras e limites, ao que sempre se tratou de um modus operandi subterrâneo existente na atuação policial – que ele denominou como “agentes infiltrados à brasileira”. Ademais, bastante combinada com a infiltração de agente, também se prevê a ação controlada. Considerando que a investigação de uma organização criminosa demanda a apreensão de uma série de condutas delituosas interconectadas, é possível que, sob uma autorização judicial, o flagrante possa ser postergado, ocorrendo um retardamento da intervenção policial direta, para que mais elementos possas ser descobertas desde este acompanhamento silencioso. Do mesmo modo, a ação controlada à brasileira também foi e é corriqueiramente empregada pela polícia brasileira. A lei estabelece regras, como a existência de investigação criminal prévia e o aval do juiz sobre suas condições concretas de realização, mas, ao mesmo tempo, amplia possibilidades, podendo, inclusive, aplicar-se a terceiros “que não pertencem à organização criminosa investigada, mas estão a ela ligadas” (NUCCI, 2017, p. 88). Dentre os meios de provas específicos, a Lei regula detidamente acerca da colaboração premiada como prova específica, sendo esta a situação processual quando, em havendo confissão, existir a oportunidade de, formalmente, uma das pessoas indiciada ou processada acusar, denunciar ou trazer mais elementos sobre a atuação delituosa de outrem para auferir um benefício, que passa da possibilidade de substituição de pena, redução de pena de até dois terços, até perdão judicial. A denúncia pode ser “adiada” ou prorrogada por seis meses, para que se verifique a concretude do delatado, sendo o prazo prescricional suspenso. A delação não foi ineditamente prevista nesta legislação, uma vez que já havia sido regulamentada em outras leis penais extravagantes, porém ganha novos contornos e mais detalhamentos, com regras de formalização do acordo com o Ministério Público e homologação pelo juiz – que não deve participar da negociação. E, mais do que isso, gera impactos significativos com seu uso massivo e alardeado na Operação Lava Jato. Muitas são as controvérsias sobre a delação premiada. De um lado, há quem entenda como mal necessário, inescapável, especialmente para crimes financeiros, contra a administração pública ou que envolvam organizações criminosas. Pelo modus operandi desses delitos, só seria possível a realização de uma investigação e um processamento sérios se se utilizar de meio de prova desta natureza. Há ainda quem comemore e encontre nelas mecanismo ético do delator se redimir perante o Estado e a sociedade, um verdadeiro culto à culpa inquisitorial.
308 Por outro lado, há quem lamente a sua previsão e sua utilização massiva para certas situações. Mais do que lamentar, preocupa-se com o significado de médio alcance da incorporação de institutos deste perfil negocial em uma realidade processual penal pautada na legalidade e proporcionalidade enquanto pressupostos da materialização penal. Existe uma discussão um tanto apelativa sobre o próprio fundamento ético do Estado negociar a pena com alguém que feriu suas próprias regras, O argumento contrário é que isso se justifica pela defesa e proteção do bem jurídico tutelado. O problema de fundo é o Estado, por meio do processo penal, pautar-se em uma lógica na qual direitos, garantias processuais e responsabilizações penais (ou não) são negociadas a qualquer custo. Como diz Alexandre Rosa (2016, p. 296) “onde tudo se vende por cotação flutuante conforme a ‘cara do freguês’, bons jogadores em negociação tendem a se sair melhores”. Quando o autor complementa que se estabelece o risco de se “transformar o processo penal e, um grande mercado de pena e culpa”. Elementos que pudemos antecipar enquanto críticas quando da introdução da transação penal no ordenamento jurídico pátrio, ainda que sob outras condições. A admissão de institutos pautados na lógica da barganha mitigam a noção de proporcionalidade na aplicação da pena, com limites mínimos e máximos de acordo com a gravidade abstrata da conduta, bem como de disponibilidade do objeto da ação penal, ou seja, da obrigatoriedade da atuação do órgão acusador quando existirem as condições da ação penal e elementos suficientes de autoria e materialidade do delito. No Brasil, o devido processo legal sempre existiu enquanto escudo para a proteção do princípio liberal de inocência. Isso significa que a existência de uma forma processual a ser respeitada, pautada no contraditório e na ampla defesa define o caminho a ser percorrido para que a pretensão acusatória seja confirmada ou derrubado, restando ao órgão acusador todo o ônus probatório. Quando este molde é flexibilizado, a negociação parte de uma assunção de culpa prévia – talvez até mesmo prévia à existência do processo. Trata-se de um modelo arriscado, especialmente diante das heranças autoritárias da justiça criminal no país. Os riscos de dissuasão, intimidação e arbitrariedade são grandes. Como, por exemplo, o uso de decretações de prisão provisória com o fim de extrair delação, como um meio de pressão para que a pessoa delate. É sabido que a delação vem sendo mais massivamente aplicada nos processo que envolvem crimes financeiros, de corrupção, lavagem de dinheiro e similares, sendo seus réus, muitas vezes, figuras públicas e políticas ou grande empresários. Conforme provocação de
309 Alexandre Rosa (2016, p. 294) “o processo penal virou ‘grande negócio’ para rico, porque sem pudores, brada-se que ‘delação não é para pobre’. Claro, pobre é chicote e Súmula 231 do STJ, ou seja, a pena não pode baixar do mínimo pela confissão, mas pode ser reduzida/extinta pela delação. E continuamos a sorrir?”. Assim como nos outros dois meios de prova narrados, no Brasil sempre existiu a delação à brasileira, medida por pressões – isso sem falar nas torturas propriamente ditas – para que o indiciado ou réu entregue elementos sobre as condutas de seus parceiros. A especificidade é ainda que esta colaboração informal vem com dor e sem prêmios. O que nos parece desafiante aqui é perceber o perigo de um discurso que relativiza os impactos processuais dessas mudanças recentes, desde a noção de que a ilegalidade e o arbítrio sempre reinaram ao público-alvo do sistema penal. Ocorre que estas são mudanças que anunciam tendência de uma mudança de patamar, de qualidade das aberturas autoritárias do estado, que atingiram, sempre, os mais desprivilegiados da sociedade. Destacaremos dois vieses para compreensão do significado destas mudanças. A criminalização de movimentos sociais e os impactos reais da Operação Lava Jato. Entre eles, apresentaremos breves reflexões sobre a relação da aprovação da Lei Antiterrorismo neste contexto.
3.4.9 As mudanças legais e a sofisticação do processo de criminalização dos movimentos sociais
A arma penal também esteve historicamente apontada aos movimentos populares, que rompem grilhões e ecoam gritos de desespero, desamparo, resistência e esperança desde sempre na história brasileira. Nos últimos anos, vivenciamos o agravamento das perseguições, repressões e processos concretos de criminalização aos movimentos populares. Ao mesmo tempo, assistimos atônitos o ainda maior inchaço da criminalização primária, abrindo margens para mais sofisticadas maneiras de se criminalizar as e os lutadores sociais, especialmente com o advento da Lei das organizações criminosas, a “regulamentação desregulamentada” da delação premiada e a lei que tipifica o terrorismo, leis com formas abertas da descrição das condutas ou então com diminuição de garantias processuais e ampliação da discricionariedade
310 do juiz e outras autoridades. Verdadeiras armadilhas para sufocar as lutas e que tornam o Estado brasileiro, originalmente autoritário, ainda mais musculoso. Em 17 de Julho de 2018 saiu a condenação, feita pelo juiz Flávio Itabaiana, de 23 manifestantes nos protestos de 2013 e 2014 no Rio de Janeiro, com destaque às iniciativas “Ocupa Câmara” e “Ocupa Cabral”, que contestavam os impactos sociais dos preparativos para a Copa do Mundo. Famoso caso de Eliza de Quadros Pinto Sanzi, mais conhecida midiaticamente como “Sininho” e que também ganhou repercussão pelo fato de nos autos de investigação constar Mikhail Bakunin, líder anarquista morto em 1876, dentre os suspeitos. Na decisão recente, todos condenados por associação criminosa com aumento de pena por participação de adolescentes. Os movimentos OATL (Organização Anarquista Terra e Liberdade) e o MEPR (Movimento Estudantil Popular Revolucionário) são citados como planejadores dos crimes durante as manifestações. Em 27 de março de 2017, realiza-se prisão do Padre José Amaro Lopes da Silva, em Anapu, sudoeste do Pará, o principal sucessor de Dorothy Stang, missionária brutalmente executada a mando de fazendeiros, em 2005. Acusado de uma série de crimes, como ameaça, esbulho possessório, extorsão, assédio sexual, constrangimento ilegal e, dentre eles, associação criminosa, de um homem só. Dois casos ocorridos em tempo muito próximo à entrega deste trabalho, demonstrativos do aguçamento de conflitos e dos mecanismos existentes de enquadramento de lutas sociais como crimes, de transformação de conflitos políticos em casos de polícia. Nestes casos as autoridades policiais e judiciais utilizam o enquadramento da associação criminosa prevista no Código Penal. Porém, nos últimos dois anos ocorreram duas situações emblemáticas que demonstraram como a sofisticação do processo de criminalização de movimentos sociais pode se dar, diante da utilização da Lei de Organizações Criminosas. Abril de 2016. Ocupação da fazenda de Santa Helena de Goiás, uma usina em recuperação judicial. Nesta ocasião, houve mandado de prisão a quatro integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Estado de Goiás – duas delas sendo efetivadas – através de denúncia do Ministério Público pelo crime de organização criminosa, a primeira vez que este tipo penal foi utilizado para reprimir trabalhadores do campo. Ademais, dentre as teses acusatórias, utilizou-se, de maneira manipulada, a teoria importada do domínio do fato, popularmente conhecida com o “Mensalão”, para atribuir responsabilidades criminais ao suposto líder do movimento mesmo em ações nas quais não se encontrava presente. O caso gerou indignação entre aquelas e aqueles que lutam e, mais do
311 que isso, foi compreendido como um laboratório a testar os recrudescimentos repressivos possíveis neste período histórico. Como pudemos descrever acima, para ser organização criminosa teria que se visar obter vantagem ilícita, o que, no caso em tela, seria equiparada à luta coletiva do MST pela efetivação das promessas constitucionais relativas à reforma agrária. Segundo a professora Beatriz Vargas, da UNB, no conteúdo da denúncia o Ministério Público afirma se tratar, nestes exatos termos, de um “bando”, “um ajuntamento de aproximadamente mil pessoas, que atendem ordens informais dos líderes”. O argumento continua no sentido de que a busca por vantagem ilícita se daria pela pressão do grupo para “forçar o governo a criar para eles, no local invadido, um assentamento rural, sem o preenchimento dos requisitos legais pertinentes”. Ao que ela responde: Por sua vez, a ocupação do imóvel, meio para a obtenção do fim visado, o assentamento das famílias, não se ajusta à descrição típica do crime esbulho possessório. Há farta jurisprudência no sentido de que invasão não é o mesmo que esbulho e este, para configuração do crime previsto no tipo penal aplicável (art. 161, II, do Código Penal), exige a intenção de se apropriar, ou seja, de tomar a propriedade alheia. Esse é o sentido do elemento subjetivo especial do tipo penal: “para o fim de esbulho possessório”. Se a finalidade é, como afirmam os próprios autores da denúncia, “forçar” ou pressionar o governo ou dele exigir o assentamento, logo, inexiste a necessária correspondência com a previsão contida na norma penal incriminadora. A ação de invadir ou ocupar não corresponde, no caso, à intenção de se apropriar (RAMOS, 2016).
Ou seja, trata-se do velho argumento criminalizador, com uma roupagem nova, ainda mais perigosa e daninha. Antes o apelo se dava na atribuição de crimes de dano, esbulho possessório, dentre outros, acompanhados dos crimes de formação de quadrilha ou bando – agora substituídos, no Código Penal, pelo de associação criminosa -, apelando, em algumas situações, para a Lei de Segurança Nacional, sobrevivente zumbi da ditadura empresarial militar. Agora, esta situação e a seguinte demonstram que o enquadramento pode ser ainda mais impactante e gravoso com a utilização da Lei de Organização Criminosa. Com ela, a própria organização dos movimentos é entendida como criminosa e a lei possui mecanismos que permitem estender o delito a mais de seus integrantes. Essa prática, a de denunciar por crime autônomo de natureza permanente, como é o caso da associação e da organização criminosa, no lugar do concurso de pessoas – forma eventual de execução conjunta de delito e que não constitui delito em si mesma – vem se impondo, infelizmente, como regra de conduta do órgão acusador, mesmo diante da imprestabilidade dos argumentos e dos elementos de prova que autorizam essa opção. A escolha da norma aplicável a determinado caso não pode ser expressão de preconceito ideológico ou fruto de opinião política, independentemente da demonstração dos fatos, da análise probatória (RAMOS, 2016).
312 Um dos presos políticos – parece-nos possível tal classificação - permaneceu 4 meses e meio preso provisório, o outro pouco mais de um ano. O processo continua correndo. Novembro de 2016, Quedas do Iguaçu, Paraná. Após oito meses da Operação Castra, com interceptações telefônicas de muitos integrantes do movimento e infiltração de agentes. Região de muitos assentamentos rurais, sendo a área do conflito específico uma terra pública que foi desapropriada de uma madeireira de grande poder econômico e político, a Araupel. Segundo notícia veiculada pelo próprio veículo informativo da assessoria jurídica dos acusados: Houve mandados cumpridos em Quedas do Iguaçu, no município vizinho de Rio Bonito do Iguaçu e também no Mato Grosso do Sul e na Escola Nacional Florestan Fernandes, em São Paulo. Ao todo, foram expedidos 16 mandados de prisão – 14 deles contra integrantes do MST – por 33 acusações que constam em três inquéritos diferentes. A reunião desses inquéritos se tornou possível a partir do enquadramento no crime de organização criminosa, definido pela Lei de Organizações Criminosas (12.850/2013) (TERRA DE DIREITOS, 2017).
A reunião de três inquéritos policiais e a prisão destas pessoas por pertencerem a uma organização criminosa aconteceu quando da organização de duas ocupações de terras vizinhas à madeireira. O primeiro inquérito se referia ao ato organizado na região pelos movimentos integrantes da Via Campesina no Dia Internacional da Mulher, 08 de Março, contra o viveiro de mudas de pínus e eucaliptos da madeireira. Os demais foram decorrentes de ocupações de terras. No meio deste processo complexo de incriminações, uma tragédia ocorreu, quando “os trabalhadores Vilmar Bordin e Leonir Orback, conforme a versão dos trabalhadores rurais que estavam no local, foram mortos a tiros pela Polícia Militar paranaense” (TERRA DE DIREITOS, 2017). Um caso muito complexo e grave. Do mesmo modo que na anterior, busca-se também a definição de um “chefão” a se responsabilizar pelos atos mesmo quando não estava presente. Foram dezesseis os denunciados, sete ficaram presos preventivamente por seis meses. O processo continua correndo. Ainda que estes casos merecessem muito mais atenção e detalhamento no estudo, são apresentados aqui com o intuito apenas de que se possa perceber um dos efeitos colaterais do expansionismo de emergência do sistema penal nos últimos anos.
313 3.4.10 A última gota desta enxurrada: a Lei AntiTerrorismo (13.260/2016) e interpretações sobre seus possíveis impactos na realidade político-criminal brasileira.
O Projeto de Lei original foi de autoria do poder executivo, apresentado em 18 de junho de 2015 e tramitado em regime de urgência. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei em 17 de março de 2016. Esta foi uma típica lei penal de emergência, fabricada artificialmente, fruto das pressões externas/internacionais, no momento em que o Brasil estava nos holofotes globais como promessa de potência econômica emergente e, mais do que tudo, recepcionando pessoas de todos os lugares do mundo ao ser escolhido como palco dos dois maiores eventos desportivos. Foi tão artificializada que até mesmo o discurso oficial declara seu caráter meramente preventivo. Uma lei com tipificações abertas e penalizações das mais drásticas que se pode haver no ordenamento jurídico é declarada como existente por um mero exercício de precaução: (…) a ex-presidenta Dilma Rousseff cedeu às pressões e seduções nesse sentido e enviou ao Congresso, trabalhou para aprovação e sancionou projeto de lei que tipifica o terrorismo no país, mesmo após o amplo protesto de entidades de direitos humanos e da sociedade civil, que denunciavam seu conteúdo fascista. Para aprovação da lei, o então governo não viu constrangimentos em fazer aliança com Alberto Fraga do DEM/DF na Câmara e Aloysio Nunes do PSDB/SP no Senado, já que parte da própria bancada do PT era refratária à proposta (cartilha, p.8) A edição da Lei 13.260, de 16 de março de 2016 se fez acompanhar de uma justificativa formal afeta à sua criação. Subscrita pelos então Ministros José Eduardo Martins Cardozo e Joaquim Vieira Ferreira Levy, esta justificativa lastreia-se, dentre outros, nos seguintes aspectos: (i) as organizações terroristas caracterizam-se nos últimos anos em uma das maiores ameaças para os direitos humanos e o fortalecimento da democracia; (ii) o Brasil deve estar atento aos fatos ocorridos no exterior, em que pese nunca ter sofrido nenhum ato em seu território; (iii) deve haver a proteção do indivíduo, da sociedade como um todo, bem como seus diversos segmentos, sejam eles social, religioso, ideológico, político ou de gênero (BUSATO et.al, 2018, p. 11).
Uma política na qual o anseio de segurança prevalece sobre as liberdades públicas fundamentais. Como pudemos desenvolver no item referente às mudanças na política de segurança pública logo ao início do primeiro mandato de Dilma, as escolhas governamentais aprofundadas a cada gestão fizeram com que o governo cedesse à fortíssima pressão externa, materializada pelo organismo intergovernamental GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional/ contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo), que, com o
314 apoio do G20, exigiam que o Brasil aprovasse uma lei que combatesse o financiamento do terrorismo. Não podemos nos esquecer da profunda efervescência social marcada no país nos anos de 2013 e 2015, com aumento dos protestos de rua, com mais manifestações permeadas por ações diretas com uso de tática black bloc, de greves pululando em diversos setores e, concomitantemente, com a repressão estatal direta mais. Não se sabia exatamente como seria a repercussão concreta desta Lei – ainda se está a descobrir –, porém já em maio de 2017 oito pessoas foram presas provisoriamente pela Operação Hashtag, enquadradas na Lei por suspeitas de ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico. A denúncia ocorreu poucos dias antes dos Jogos Olímpicos. O caso foi alardeado pela mídia, especialmente com a morte de um dos detidos, após espancamento dentro da cela. Internacionalmente jamais houve um consenso sobre uma definição jurídica, tendo em vista o quanto uma definição deste tipo poderia incorrer em enquadramentos de grupos políticos contestatórios à ordem vigente. No ordenamento pátrio, a Constituição Federal prevê em incisos de seus artigos 4º e 5º tanto o repúdio ao terrorismo e ao racismo como a inafiançabilidade e insuscetibilidade de graça, anistia e indulto aos crimes de tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Desde então, não havia uma regulamentação definidora do conceito de terrorismo, ainda que existisse a previsão e definição do que seriam atos de terrorismo na Lei de Segurança Nacional (7170/1983) – de nítido teor de criminalização política – e a tipificação de condutas no Código Penal que se equiparariam a muitos destes atos, tais como incêndio, explosão, uso de gás tóxico ou asfixiante, atentado contra a segurança de meio de transporte e contra a segurança de serviço de utilidade pública. Portanto, a maioria das condutas de atos de terrorismo já era prevista, com penalização menor. Apesar de todas as controvérsias e resistências, a proposta legal foi apresentada e aprovada, definindo terrorismo da seguinte maneira: Art. 2o O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. § 1o São atos de terrorismo: I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa; II – (VETADO); III - (VETADO); IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que
315 de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento; V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa: Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. § 2o O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei (BRASIL, 2016).
Portanto, o terrorismo passa a ser, no Brasil, a prática dos atos de terrorismo acima elencados com uma motivação subjetiva específica: “por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião”; e com dolo específico: “com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública”. A pena prevista é de reclusão, de 12 a 30 anos, sendo ainda possível o concurso de crimes. Para além de serem penas mínima e máxima da maior gravidade, é importante se destacar também a “desproporcionalidade das penas cominadas a condutas tão distintas, como danos patrimoniais, sabotagens e comprometimento de banco de dados, com condutas que afetem diretamente a vida e a integridade física das pessoas” (BUSATO et al., 2018, p. 40). Outros dois importantes destaques precisam ser feitos. Um é referente ao parágrafo 2º do artigo 2 da Lei, que, supostamente, ressalvaria a aplicação da lei aos movimentos sociais. Este parágrafo somado ao veto quanto à previsão original de um dos atos de terrorismo ser “incendiar, depredar e destruir meios de transporte ou bens públicos ou privados, como pontos de ônibus ou agências bancárias” foram trazidos enquanto justificativa de que a lei seria delimitada e necessária e que não alcançaria as mobilizações sociais e organizações políticas. O que define um movimento social? É possível uma definição exata que resguarde os grupos e seus integrantes? São décadas e mais décadas de autores de diferentes vertentes produzindo definições e divergindo entre si, até porque se está falando de organizações múltiplas, com diferentes métodos e propósitos, com diferenciações históricas e territoriais. Estaríamos tratando de protestos sem protestos? Nesse mesmo sentido, comungando com os autores, “que movimento ou manifestação, na história da humanidade, foi realizado sem colocar em perigo, o mínimo que fosse, a paz pública?” (BUSATO et al., 2018, p. 40).
316 Se tem algo que o estudo crítico do sistema penal nos ensina é sempre duvidar do poder do Estado. Não há razoabilidade intrínseca quando se trata de processos de criminalização. É uma infelicidade constatar isso, mas os casos recentes, descritos no item anterior, demonstram que nunca houve pudores, nem ontem nem hoje, em se enquadrar a atuação de um movimento social de luta pela terra, por exemplo, como bando, quadrilha e agora por organização criminosa. O que diferenciaria significativamente o enquadramento como organização terrorista? Aliás, um dos efeitos da Lei 13260/2016 foi alterar a Lei de Organizações Criminosas, estendendo sua aplicação também às organizações terroristas. Sim, é possível que haja interpretação em desrespeito à liberdade de manifestação, em desrespeito à ordem constitucional. É possível mau uso e torções de uma previsão legal com tamanha abertura e que concede inquestionáveis poderes de controlar, de punir e de sufocar os que atentem a ordem. O último ponto se refere a outro aspecto da abrangência da Lei, ao responsabilizar também a pessoa que integra, que contribui ou que presta auxílio, ainda que não haja ação ilícita concreta da mesma. Do mesmo modo, a Lei em seu artigo 5º pune supostos atos preparatórios que teriam um “propósito inequívoco” de consumação do delito. Os atos preparatórios se configurariam como um delito autônomo, com uma pena imposta – que, caso haja “atos de terrorismo” propriamente dito, seria somada a este. A pergunta é: qual é o delito? Não há condutas previstas para o delito, não se descreve como uma conduta poderia ser configurada como ato preparatório. Sim, pois o aparente núcleo do tipo é realizar, que não é capaz de traduzir absolutamente nada desvinculado de seu objeto. Ao ser um verbo transitivo direto, é preciso avaliar que quem realiza deve realizar algo. Este algo seriam atos preparatórios. No entanto, atos preparatórios é uma expressão que em nada pode esclarecer o conteúdo do núcleo do tipo, por ser ela própria uma expressão que pode traduzir uma multiplicidade de coisas (BUSATO et.al, 2018, p. 90).
Enfim, parece se tratar de mais um capítulo de atos preparatórios de arbítrios... Deste modo, aqui não se pretende realizar uma análise minuciosa da lei, mas sim perceber o quanto se enquadra em uma tendência desenhada ao longo do capítulo, talvez sendo considerada, inclusive, a máxima expressão dela. Vale destacar que está em tramitação o PL 5065/2016 do Deputado Edson Moreira da Silva, filiado ao PR, mais conhecido como Delegado Edson Moreira, que propõe a alteração
317 do artigo 2º, tipificando os atos de terrorismo por motivação ideológica, política, social e criminal.
3.4.11 A Operação Lava Jato enquanto expressão da tendência expansionista penal
As investigações criminais e subsequente persecução criminal referentes a ações de corrupção no âmbito da Petrobrás, reunidas como “Operação Lava Jato”, já perduram por mais de quatro anos. Neste período, destacaram-se evidências de esquemas promíscuos entre grandes empresários e políticos do país, ainda que o custo democrático tenha sido alto, com muitas discussões acerca das conduções realizadas pelos juristas atuantes na Operação, em especial o judiciário, com esgarçamentos legais e culto às excepcionalidades, pautados em um discurso moralizante e uma postura messiânica de varrer a corrupção brasileira, que justificaria qualquer exagero formal. O assunto se tornou comum entre mesas de bar e almoços familiares. Pensamos que esta popularização do debate jurídico pode ser um importante exercício de democratização da justiça, porém é notável que foi se perdendo a preocupação do impacto da Operação no sistema penal e na ordem processual penal brasileira, bem como a quem este modo de operar serve e quais são as possíveis outras saídas para o cenário de corrupção apresentado. Isso muito em decorrência do papel da mídia nesse processo, bem como do seu uso estratégico pelo judiciário nestas causas. Nesse sentido, o “efeito Lava Jato” é herdeiro do fenômeno “Mensalão”, o primeiro julgamento marcante, a fazer com que brasileiras e brasileiros soubesse nomes e rostos de cada ministro do Supremo Tribunal Federal, cultuando ou odiando um ou outro, a depender dos efeitos de suas posições e decisões. O “ponto cego” é não perceber, como afirma Nilo Batista, “os riscos sofridos pelo princípio da presunção de inocência e pelo direito a um julgamento justo sempre que a mídia se ocupa, sem qualquer limite, de um processo criminal” (BATISTA, 2015, p. 13). Entre a liberdade de imprensa e o direito a um julgamento justo existe um rio enlameado. Defendemos que o princípio liberal de inocência não é algo que atende um interesse individual, mas sim expressão de uma liberdade pública fundamental, assim como a liberdade de imprensa. Aquele se refere à própria integridade e liberdade física dos sujeitos e precisaria ser um horizonte no limite ético do exercício da informação e opinião pública.
318 Talvez a delicadeza da questão é que, quando a informação se torna um grande negócio em disputas por monopólios – como o é hoje na realidade brasileira, diante do intocável abuso das concessões públicas dos meios de comunicação – os usos de narrativas sensacionalistas, maniqueístas e teatralizadas se tornam predominantes. Nilo Batista faz interessante observação sobre uma suposta “atitude ‘pública’ que a mídia sempre procura atribuir-se”, que acaba por camuflar “qualquer motivação relacionável às afinidades políticas ou aos interesses econômicos dos controladores do jornal ou da televisão (...) assumindo um papel de guardião da moralidade e da eficiência nos serviços públicos” (BATISTA, 2015, p. 18). Uma suposta neutralidade que carrega de verdades uma percepção hegemônica dos fatos. Nos últimos anos, inclusive neste curto intervalo de tempo entre o período histórico estudado e o corrente, evidenciou-se ainda mais a fragilização do que denominamos no segundo capítulo como Nova República, exigindo-se o desmonte do Estado democrático para garantir a estabilidade e a expansão do processo de acumulação capitalista. Portanto, nota-se um reordenamento do Estado brasileiro, acompanhado de um realinhamento das forças do capital no país e a Lava Jato tornou-se marca de uma importante expressão do papel protagonista do judiciário neste processo de fechamento de regime. Como já antecipamos, pensar criticamente a condução da Operação nada tem a ver com negar a importância do seu conteúdo. O caminho foi aberto com o Mensalão, mas a Lava Jato, com ainda mais força, revela-nos a profunda imbricação entre políticos de alto escalão do país, grandes e influentes empresários e outros funcionários públicos, com práticas de corrupção que desviam quantidades muito altas de recursos públicos. Este não é um fenômeno nem de perto exclusivamente atual e é da máxima importância revelar e desestabilizar tais esquemas em um país com gestação autoritária. O que se deve questionar é se a hipertrofia do Judiciário e o seu combate antidemocrático a casos de corrupção teria capacidade de resolver um problema estrutural ou se não está criando um problema ainda maior. Sérgio Moro, desconhecido nacionalmente até 2014, não assumiu este objetivo de combate à corrupção do dia para a noite e muito menos está sozinho. Este juiz e professor vinha há tempos atuando na Vara de combate aos crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro e teorizando, sob a forte inspiração da Operação italiana Mãos Limpas, a fim de justificar sua forma de interpretação do processo penal brasileiro e a legitimidade do emprego de medidas excepcionais, diante de alegadas especificidades de crimes desta natureza, pelas dificuldades probatórias da conduta.
319 Ele integra uma articulação de operadores do direito e de outros âmbitos do serviço público disposta a fortalecer instituições de combate à corrupção desde uma ótica finalista, fortemente conduzidas por uma ideologia pragmática para funcionamento das instituições, tendente a atropelar princípios democráticos com tal missão. É o caso da ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, articulação composta por órgãos como Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Banco Central, Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o Ministérios Públicos Federal e estaduais, Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), Anape (Associação Nacional dos Procuradores de Estado), Ajufe (Associação dos Juízes Federais), entre outras, criada em 2003, sob forte estímulo do governo federal, sob a iniciativa do Ministério da Justiça, que possui um caráter mais consultivo/propositivo e que fortalece esta perspectiva de gestão e de atuação dos poderes, através do compartilhamento de experiências e da construção de metas conjuntas, bem como sugestões de projetos de lei e outros iniciativas. Leis como a de Organizações criminosas e a de Lavagem de Dinheiro, assim como o Pacote das “10 medidas anti-corrupção” apresentado pelo Ministério Público Federal foram chanceladas e estimuladas neste espaço. Podemos nos arriscar afirmar que a tentativa de aprovação das 10 medidas anticorrupção pelo Ministério Público Federal é a tentativa de eternização do padrão Lava Jato de operar. O projeto original apresentava medidas que, com a declarada boa intenção de combater a corrupção no país, instituíam a negação de direitos e garantias constitucionais, tais como a admissão da produção de provas ilícitas (o que significa a aceitação de provas que, para serem produzidas, violam direitos constitucionais como a privacidade e intimidade), a restrição das possibilidades de uso do habeas corpus (uma das poucas possibilidades de autodefesa e fundamental remédio contra qualquer coação e abuso de autoridade), o aumento das hipóteses de prisão e a diminuição das nulidades (ou seja, flexibilização da aceitação de desrespeitos formais que significam desrespeitos de garantias processuais penais). Como os episódios políticos brasileiros no último período são sempre com emoção, este projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados com seu conteúdo completamente alterado, concentrando-se em elementos relativos às prerrogativas destes próprio órgãos interessados, o que gerou fervorosa animosidade. O projeto original coletou milhares de assinaturas e foi palavra de ordem das manifestações massivas à direita no último período no país. As disputadas pelo seu sentido continuam
320 Com isso tudo, desejamos negritar que a inflação legal autoritária que analisamos até então possui o apoio de discursos e práticas articulados que visam inverter a lógica do sistema penal. Este é o momento máximo de nosso trabalho, já caminhando para o seu encerramento, de busca pelas costuras dos retalhos apresentados nestas páginas. Se delineamos a percepção de governos pautados no social liberalismo nestes 14 anos, que, esbarrando nos limites impermeáveis de uma conciliação fictícia, administrou o pauperismo e cedeu todos os anéis aos interesses do grande capital, quando alcançamos o tema da segurança pública e das políticas anti-punitivistas, pudemos notar que, apesar de existirem inovações que não foram meras perfumarias, elas ou foram engolidas pelos elementos estruturantes intocados ou foram sendo abandonadas, quanto mais se anunciava o risco de se perder os dedos. Em contrapartida, a resposta bélica e expansiva se espalha como erva daninha. Neste contexto, um ponto já anunciado e aqui, fundamentalmente, explicitado, é o do fortalecimento de instituições como Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário sem a exigência mínima de contrapartida, ao menos no que se refere ao controle cidadão e democrático destas instituições. No alto de seus privilégios, de benesses e dos hipersalários, exercem poder travestido de neutralidade, de discurso moral empolado, porém não admitem que seu exercício profissional seja controlado socialmente. A Polícia Federal até o momento não possui uma Lei orgânica e nem uma ouvidoria externa. Do mesmo modo, os Conselhos do Ministério Público e do Judiciário não possuem representações da sociedade civil organizada. A ausência de democratização destas instituições, em contraposição ao seu poderio político cada vez mais determinante, também é um balanço destes anos de hegemonia do petismo. Portanto, fez-se esta longa digressão apenas para sinalizar que não estamos lidando com um caso de incompetência técnica ao tecer críticas ao padrão processual da lava Jato. A questão é como se interpreta o processo penal brasileiro e a serviço de que projeto. Por onde se tensiona e quais projetos defende e realiza. Qual racionalidade fundamenta esta ou aquela decisão. Arriscamos afirmar que estamos em um contexto decisivo de definição de tendências mais autoritárias ou mais democráticas e as polaridades assumiram outra complexidade e qualidade. Buscando dar concretude a esta indagação, podemos brevemente afirmar que o nosso Código de Processo Penal é de 1941, permeado de elementos inquisitivos, ainda que declare ser um processo de partes, ou seja, com defesa, acusação e um terceiro imparcial, o juiz. Esta forma triangular gerou a construção de um mito de que o sistema processual penal brasileiro
321 seria misto, por apresentar uma etapa investigativa sem contraditório e, portanto, inquisitiva e uma etapa processual acusatória, por ser um processo de partes. A questão é que essa compreensão manualesca ignora elementos determinantes da transição do modelo inquisitivo puro – inaugurado pelos Tribunais do Santo Ofício e absorvido pelos tribunais leigos/laicos do período – ao modelo moderno, capazes de elucidar quais as questões de fundo na determinação de uma maior ou menor inquisitorialidade de um processo. No sistema inquisitivo “puro” não era só o fato do inquisidor concentrar todos os poderes que o caracterizava. Mais do que isso, era o império do fato imputado sobre a prova existente o que gerava um comportamento paranoico do inquisidor, de precisar apenas de um elemento que confirme a verdade previamente constituída. Por isso a legalização da tortura como instrumento eficaz de extração da prova por excelência, aquela que, como cereja no bolo, advinda do próprio culpado, confirmava a hipótese e garantia o apenamento, não importando os métodos de seu alcance. Isso soa em algo familiar com o histórico processual penal brasileiro e suas atuais tendências preponderantes, em modificações legais e na popularização de um modus operandi do ministério público e do judiciário? A passagem para a construção de um processo penal moderno é absorvida pelas ideias positivistas, pautadas na noção de que é possível reconstruir o fato pretérito, tendo a autoridade judicial a missão de buscar esta verdade material. A dogmática processual penal do século XX seguiu a programação geral das ciências modernas, adequando-se ao ideal cartesiano. Após a ruptura com o sistema confessional e o jogo de cena laico para manutenção dos princípios fundamentais do inquisitorialismo, sob renovada inspiração projetou como finalidade da nascente ciência (dogmática processual penal) a criação de mecanismos de conquista da verdade. O processo penal transformou-se, pois, no laboratório no qual a realidade histórica, através dos instrumentos da instrução probatória, se adequaria à decisão do juiz (CARVALHO, 2008, p. 80-81).
Isto geral grande dificuldade de encarar o juiz como expectador da prova produzida em contraditório pelas partes, o que significa dizer que a paranoia pode se perpetuar em moldes modernos, ainda que sob um processo composto por três partes. A questão da verdade no direito processual penal, cuja finalidade não é outra senão a maximização ou minimização dos níveis de inquisitorialidade, é nitidamente instrumental. Para além do narcisismo da dogmática penal em estabelecer condições de possibilidade de conquista da verdade, parece central focalizar os efeitos decorrentes da definição deste fim (CARVALHO, 2008, p. 81).
322 É por isso que, para autores como Salo de Carvalho, o elemento mais determinante para percepção de perfil mais ou menos autoritário do processo – e arriscamos dizer, do Estado – está no perfil da gestão das provas. Este é um importante horizonte para continuarmos a análise a seguir. O nosso Código de 1941, empoeirado, já passou por uma série de reformas que poderiam ser chamadas de remendos, por não refletirem entre si uma proposta de modelo de sistema processual penal, apresentando diferentes tendências, mais autoritárias ou mais garantidoras. Entretanto, a Constituição Federal e o Pacto San José da Costa Rica – do qual o Brasil é signatário e, portanto, possui força constitucional em nosso ordenamento – preveem uma série de princípios acusatórios ao processo penal brasileiro, pautando-o no devido processo legal e na necessidade do contraditório efetivo. Isso significa que é preciso realizar uma constitucionalização do processo penal, ou seja, os operadores do direito interpretarem seus institutos à luz da Constituição, reconhecendo, inclusive, a revogação tácita de muitos deles. Conforme ilustraremos em seguida, o que Sérgio Moro fez, em diversos momentos da Operação, foi relativizar as garantias processuais em nome da sua cruzada contra a corrupção. A Operação ficou marcada por um juiz ativo, que busca a verdade a qualquer custo. Esta postura é oposta a qualquer possibilidade de se democratizar o processo, conforme desenhado histórico acima narrado. Não há bondade no coração e intencionalidades sublimes capazes de transpor o autoritarismo de um juiz se emaranhar na produção probatória. O mais democrático é admitir que a tal “verdade histórica” é inalcançável e que o processo mais justo é aquele que se constroi atribuindo igualdade formal e material às partes para que produzam suas teses, cabendo ao órgão acusador demonstrar a consistência material de sua pretensão e à defesa ter oportunidade de se defender como queira, inclusive se silenciando. Ao juiz, ser o zelador do respeito às garantias fundamentais e saber seu momento de fala por excelência: o de decidir. Analisemos algumas situações emblemáticas no curso da Lava Jato: - A liberação para os veículos midiáticos do áudio de Dilma Rousseff e Lula, quando da iminente posse deste como Ministro da Casa Civil. O caso gerou amplíssima comoção, por um lado por não ser de sua competência esta interceptação telefônica, mas principalmente por expor uma questão de segurança nacional, diante da violabilidade das comunicações do chefe do executivo; - Oferecimento da denúncia de Lula após apresentação em Power Point de um dos Procuradores, com cobertura midiática integral, revelando, por um lado, a insuficiência de
323 elementos para a proposição de uma denúncia e, por outro, a espetacularização do processo, com forte aparato midiático; - A condução coercitiva de Lula, símbolo das centenas delas realizadas ao longo dos três anos. Neste caso, por exemplo, há ampla discussão sobre a abrangência do direito ao silêncio do acusado, que engloba a direito a não autoincriminação. Para muitos, diferentemente de Moro, estes dois princípios refletem que, mais do que ficar calado, o réu pode se recusar a comparecer ao interrogatório e, em sendo um seu direito, não poderia ser prejudicado e muito menos obrigado a comparecer, sendo levado à força; - O desrespeito à confidencialidade (ao sigilo) de medidas excepcionais que violam intimidade, tais como interceptações telefônicas, de correspondências e quebra de sigilo de dados pessoais. Os direitos à intimidade e privacidade são protegidos constitucionalmente, autorizando seu acesso apenas em processos criminais, desde que respeitados todos os limites da Lei 9296/96. A situação chega ao cúmulo de existirem telefones de advogados grampeados, desrespeitando-se o Código de Ética da OAB e sendo uma nítida criminalização da advocacia (como quando Moro e outro juiz, em 2010, em outra persecução criminal, determinaram que a comunicação de todos os presos e seus advogados fossem interceptadas na Penitenciária Federal de Catanduva). - A delação premiada como rainha das provas, sendo obtida, essencialmente, por meio de um uso abusivo de prisões provisórias. Talvez este seja o maior capítulo desta novela. Para além de todas as excepcionalidades e da negação das garantias processuais à pessoa acusada, a Operação Lava Jato atribuiu centralidade à delação, com a negociação de direitos prevalecendo sobre a própria qualidade da prova produzida. - Acontece que as delações, na Operação Lava Jato, para serem realizadas, demandaram um uso indiscriminado e, desde nossa perspectiva, ilegal, das prisões provisórias. O motivo para isso foi escandalosamente descrito por um dos procuradores ao afirmar em uma entrevista que “passarinho para cantar precisa estar preso”. As prisões provisórias tornam-se nítidos instrumentos de chantagem, soltando delatores e mantendo a prisão dos que resistem. No caso da Lava Jato, muitas prisões provisórias não cumpriram qualquer função de cautelaridade, mas sim, tal como na lógica inquisitorial, é utilizada para que o Estado detenha poder sobre o corpo da pessoa investigada ou acusada, a fim de facilitar a produção de provas. Parece-nos que o que menos importa é quem esteja no pólo passivo, mas sim o quanto se atenta as liberdades públicas fundamentais. Não é exclusivamente o polo passivo que sentirá a negação dessas garantias processuais, é toda a sociedade e, especialmente, a classe
324 trabalhadora, dentro dela o público seleto do sistema penal (os precarizados e desempregados, jovens, negros e moradores periféricos) e os movimentos sociais populares, em tempos de lutas mais acirradas e violentas. O contraponto argumentativo costuma ser que a realidade da imensa maioria das pessoas encarceradas é muito pior. Seguramente é infinitamente pior, nela as ditas “delações” são “à brasileira”, o mandato de busca a apreensão (existindo ou não) é executado com base na invasão dos domicílios, o flagrante é forjado, as prisões preventivas decretadas sem fundamentação, apenas com o enquadramento legal e a lista segue, longamente e como tanto pudemos nos aproximar ao longo destas páginas. A questão não está em dizer o que é melhor ou pior. A questão é que a operação Lava Jato possui um papel simbólico impactante, por ser a síntese de elementos que caracterizam esta estrada aberta de aprofundamento de um processo penal eficientista, de lei e ordem, elemento estratégico e perigoso em uma realidade de crise estrutural do capital, de barbárie permanente e ofensiva à classe trabalhadora e a seus instrumentos de luta. Temos a impressão, por todo o refletido, que a linearidade da presença autoritáriagenocida se mostra em cada letra, espaço e vírgula deste trabalho. Não vivenciamos rupturas. Porém, mais do que isso, os elementos coletados neste terceiro capítulo nos evidenciam o alcance de um outro patamar qualitativo punitivo. A política de segurança pública oficialmente se remilitariza, as excepcionalidades processuais dantes subterrâneas agora se legalizam, o velho dilema processual penal do inquisitivo versus acusatório ganha outros tons com a introdução de institutos de outras tradições jurídicas, que, longe de mudarem nossa matriz processual penal, visam incorporar elementos para o aprofundamento de um processo autoritário, baseada na presunção de culpabilidade, desrespeitador de garantias e centrado no poder ilimitado do juiz, o moderno inquisidor. O fato é que o padrão Lava Jato de operar processualmente, ao ser legitimado e enraizado, serve de farto recheio para a massa já pronta de Lei Antiterrorismo, Lei de Organizações Criminosas, restrições ao direito de greve chanceladas pelo STF e outras técnicas aperfeiçoadas de criminalização dos movimentos sociais e da população pobre.
3.4.12 A grande onda já nos encharcou. E agora?
325 Temos a impressão, por todo o refletido, que a linearidade da presença autoritáriagenocida se mostra em cada letra, espaço e vírgula deste trabalho. Não vivenciamos rupturas. Porém, mais do que isso, os elementos coletados neste terceiro capítulo nos evidenciam o alcance de outro patamar qualitativo punitivo. A política de segurança pública oficialmente se remilitariza, as excepcionalidades processuais dantes subterrâneas agora se legalizam, o velho dilema processual penal do inquisitivo versus acusatório ganha outros tons com a introdução de institutos de tradição jurídica diversa, que, longe de mudar nossa matriz processual penal, visa incorporar elementos para o aprofundamento de um processo autoritário, baseada na presunção de culpabilidade, desrespeitador de garantias e centrado no poder ilimitado do juiz, o moderno inquisidor. Esta tendência não nasceu em 2003, com a eleição de Lula à presidência do país, mas o estudo científico realizado aponta que ela ganhou marcas muito fortes neste período estudado, ainda que combinada, em um primeiro momento, com uma política voltada a construir outro parâmetro de segurança, porém que não se dispôs ou não teve forças para tocar nos elementos determinantes e que foi, paulatinamente, conforme a crise econômica avançava e a subalternização internacional brasileira se aguçava, sendo abandonada, enquanto avançava por todos os poros. Para nós, uma política dualista que desmoronou. O que buscamos evidenciar ao longo de todo o trabalho, mas, em especial, neste capítulo, é que o autoritarismo é estruturante do sistema penal brasileiro e se operacionaliza, desde os seus primórdios, de maneira não-oficial. O sistema penal brasileiro é constitutivamente uma instituição de extermínio justamente porque esta qualificação só se dá pela não-dito, pela razão racista que veicula ações de segregação e morte. Ocorre que, na atual etapa, elas passam a se imiscuir com o discurso oficial - não através de seu conteúdo racista propriamente dito, mas sim pelo combate incessante ao criminoso, especialmente o organizado – tornando-se, nas palavras de Salo de Carvalho, absolutamente preocupante quando as funções reais (genocidas) passam a ser defendidas como base de um novo discurso oficial (funções declaradas), pois a transferência da programação real do direito penal do terror ao nível enunciativo potencializa o incremento da violência na nova realidade que se deseja criar (CARVALHO, 2006, p. 255). É preciso desenvolvermos coerência teórica para poder encarar as características da mutação atual do autoritarismo instrínseco ao sistema penal brasileiro e, assim, construirmos um projeto capaz de atingi-lo, antes que nos afoguemos.
326 DO RIO QUE TUDO ARRASTA E DAS MARGENS QUE O COMPRIMEM: CONSIDERAÇÕES FINAIS DO TRABALHO
Na Introdução deste trabalho pudemos anunciar que o método para concebermos nosso objeto se desenvolve desde sucessivas aproximações do real, buscando captar suas determinantes (complexos do complexo). Partimos de um tema da máxima sensibilidade na realidade e que, se não houver o devido cuidado, pode ser compreendido desde a lente da inevitabilidade, como uma correnteza incontrolável ou, com outras palavras ditas anteriormente, como um fenômeno “epocal”. Buscamos compreender o fenômeno do encarceramento em massa entre os anos de 2003 e 2016 partindo o nosso olhar desde as margens deste rio em forte correnteza. Em um primeiro momento, nós recusamos uma interpretação homogênea pautada desde rupturas como Estado de Bem-Estar Social versus Estado Neoliberal, sociedade disciplinar versus sociedade do controle, Estado social máximo versus Estado penal máximo. Fizemos uma longa reflexão sobre a relação entre transformações do capitalismo e o papel do controle penal, percebendo a importância de uma reatualização da economia política da pena, especialmente desde os rincões do mundo. Antes mesmo de mergulhar no estudo sobre as especificidades do capitalismo dependente brasileiro, já pudemos perceber que a simples relação aumento do desemprego/aumento do encarceramento era insuficiente para compreender a atualização da lógica cárcere/fábrica, especialmente na etapa atual do capitalismo (pós grande indústria). Poderia surgir uma aparente perplexidade ao se observar a tendência de queda nas taxas de desemprego de 2003 a 2013 no Brasil (ao contrário do crescimento destas taxas entre os anos de 1995 a 2002) e o mais vertiginoso crescimento da população em situação de prisão. Este elemento poderia servir como reforçador da ideia de inevitabilidade acima referida. Seja à esquerda, seja à direita, com a economia melhorando ou piorando, o aumento do encarceramento teria uma tendência gradativa. Nós desconfiamos, desde o início deste projeto, deste mais trivial raciocínio. Apontamos, em um primeiro momento, que as mudanças de padrões de acumulação da ordem do capital tiveram características na organização dos Estados e nos mecanismos de controle social bem diferentes na realidade periférica. Em seguida, colocamo-nos dispostos ao estudo mais comprometido da formação social, política e econômica brasileira.
327 Estas aproximações derrubaram a tal tendência gradativa inevitável e nos revelaram outros aspectos fundamentais. Não houve ruptura da tendência neoliberal de política criminal nos 13 anos de gestão federal petista, não por uma inevitabilidade desta, mas sim porque nossa trajetória de perpetuação colonial foi mantida também nesta etapa. Para se constatar isso, tivemos que mergulhar em nossa história e, especificamente, na do sistema penal. E eis que outro ponto saltou aos nossos olhos. As ausências de escolhas políticas e econômicas que seriam capazes de determinar a ruptura para um caminho autônomo de desenvolvimento também apenas seriam superadas se houvesse um acerto de contas no que tange às relações raciais no país. Nós traçamos a história brasileira buscando perceber o que foi a transição da escravidão para o assalariamento e como, ali e adiante, a perpetuação da desigualdade racial e social só foi possível ao se forjar uma política genocida que se fantasia de democracia racial. O lado oculto da declaração igualitária foi a histórica construção de limitações sociais e objetivas a parcela da população, os não-brancos, de maneira subliminar, sendo naturalizadas ou sendo suas compreensões transferidas do aspecto racial para o social. Trata-se do nosso racismo escorregadio e adaptável, capaz de permear relações violentas subterrâneas nas instituições, que não precisam estar normatizadas. Dentre os elementos mais importantes para a fixação da segregação racial após a escravidão, o sistema punitivo cumpriu um papel basilar no controle da própria corporalidade dessa parte da população, de sua circulação livre pelo território e de seu exercício cultural e religioso autêntico. Se a segregação racial foi consolidada e viabilizada através do mito da democracia racial. Se o sistema penal foi pedra angular para o processo de controle dos corpos negros e de branqueamento populacional. Por consequência, a legitimação do sistema penal em sua missão de extermínio só foi possível com a dualidade dos discursos declarados e materializados, através da aparência jurídica formal e positivista e a essência etiológica de formação e funcionamento das instituições componentes do sistema penal (formal e informal). Esta dupla racionalidade penal – declarada e não declarada – se manteve intacta até os dias atuais. A inauguração do “sujeito suspeito” do período da República, selecionado desde o fundamento da “periculosidade”, que, por mera coincidência do universo, seriam predominantemente negros constitui, a tônica do funcionamento do sistema penal até o presente.
328 Este panorama foi amálgama de garantia da perpetuação da dimensão colonial do país, com a constituição combinada do arcaico e do moderno no Estado autocrático brasileiro, perpetuador de uma condição colonizada no ingresso do país à condição de capitalismo dependente. Pudemos observar que chances históricas foram desperdiçadas e o golpe de 1964 foi o cerrar das cortinas de construção autônoma de país e deslocamentos deste sentido que mais parece sina do desenvolvimento econômico e social do país. Restaria a dúvida sobre o quanto a vitória petista em 2013 poderia sinalizar nova abertura. A nossa caracterização foi de intensificação de um modelo social-liberal que, por elementos conjunturais, teve oportunidades de garantir políticas conciliatórias temporárias. E é justamente diante do delineamento desta caracterização que investigamos mais a fundo os impactos de um governo com este perfil na condução e intervenção na política criminal do país. Nesta seara, o binarismo criminológico de baixa intensidade foi sendo, paulatinamente, substituído por uma política criminal de emergência. Como disse Michele Alexander (2018, p.60), “o racismo é altamente adaptável” e a nova etapa histórica reatualiza o racismo escorregadio brasileiro, impulsionando ainda mais o discurso do “outro temível” a partir da Guerra às Drogas. O combate ao “criminoso” perpetua a impossibilidade de se ouvir o grito contra o racismo estrutural e institucional das instituições componentes do sistema de justiça criminal. O direito penal de emergência não traz qualquer novidade quanto à essencialização de um grupo particular de pessoas quando se trata da realidade do capitalismo dependente, porque assim sempre o foi. A diferença está na maior potência de sua danosidade quando a razão e a prática historicamente subterrâneas ganham a cena e se oficializam. Portanto, voltando ao primeiro ponto, para nós é necessário reivindicar uma economia política da pena para desvelar o real criminológico, porém ela não será pautada em um exercício mecânico de relação entre mercado de trabalho e encarceramento, mas sim entre ciclos de acumulação do capital, mecanismos de funcionamento do Estado e dinâmica das relações sociais e controle social. Distribuição de renda, aumento de salário mínimo e queda da taxa de desemprego não são enunciados de uma equação cujo resultado é uma mudança estrutural qualitativa. Elas podem ser muito bem combinadas com maior centralização de capital, encarecimento e diminuição de qualidade de vida e flexibilização e precarização das relações de trabalho. Pode haver maior empregabilidade e endurecimento penal. Não seriam estes os elementos de fundo.
329 Enquanto houver desenvolvimento conservador na era de crise estrutural do capital haverá maior apela aos braços penais. Como uma questão eminentemente de controle da classe trabalhadora. Todo o desenvolvimento prévio nos aponta a complexidade que é pensar o papel político, econômico e social das instâncias formais e informais que compõe os mecanismos de controle penal. Ao mesmo tempo, negamos a impossibilidade de reversão dos processos barbarizantes da realidade social. Nós nos negamos a acreditar que este seja o único caminho possível. Por isso admitimos a possibilidade de construção de uma política criminal “utópica”, que só se realiza enquanto parte do processo próprio de superação desta ordem social (im)posta, portanto, inserida em um projeto mais amplo de alteração radical da realidade. Por isso mesmo “utópica”, compartilhando com o entendimento de Paulo Freire (1992), de que só o popular pode ser verdadeiramente utópico, ou seja, apenas o projeto que parta da classe trabalhadora poderá ser utópico, pois só ela pode conceber algo que ultrapasse os limites estruturantes da relação-capital. Isso significa que a construção de um projeto de política criminal alternativa passaria por medidas de transição necessárias, descarcerizantes e anti-punitivistas, preparatórias para a própria superação do sistema penal capitalista. Isso sem deixar de lado o cuidado com a ilusão de avanços com quaisquer outras formas de controle dentro dessa ordem, isso porque, em muitos casos, novas medidas, aparentemente liberalizantes, integraram a ampliação do controle das prisões para a cidade. Isso significa dizer que só é possível resistir à etapa de emergência punitivista neoliberal com um projeto de ruptura do sentido dependente brasileiro.
330 REFERÊNCIAS ADORNO, Sérgio. Lei e ordem no segundo governo FHC. Revista Tempo Social Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 103-140, nov. 2003. AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO. Representatividade dos negros na política precisa
aumentar,
defendem
debatedores.
05
abr.
2018.
Disponível
em:
. Acesso em: 17 jul. 2018. ALEXANDER, Michele. A nova segregação. Racismo e encarceramento em massa. São Paulo: Boitempo, 2017. ALMEIDA, Fabrício Bonecini de. Orçamento e segurança pública: Um estudo de caso do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI). 2014. 161 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Instituto de Ciência Política, Brasília, 2014. ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal para além da (des)ilusão. Rio de Janeiro: Revan, 2012. ___. A Mudança do Paradigma Repressivo em Segurança Pública: Reflexões criminológicas críticas em torno da proposta da 1º Conferência Nacional Brasileira de Segurança Pública. Seqüência (Florianópolis), n. 67, p. 335-356, dez. 2013. Disponível em: . Acesso em: 20 set. 2017. ANGUIANO, Arturo. Redefinir a la izquierda. Viento Sur. Disponível em: . Acesso em: 12 jun. 2017. ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 2006. ARGÜELLO, Katie; MURARO, Mariel. Mulheres encarceradas por tráfico de drogas no Brasil: as diversas faces da violência contra a mulher. Seminário Internacional de Pesquisa
em
Prisão.
out.
2015.
30
p.
Disponível
em:
. Acesso em: 05 nov. 2017.
331 AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Juizados especiais criminais: uma abordagem sociológica sobre a informalização da justiça penal no Brasil. RBCS, v. 16, n. 47, p. 97-110. out. 2001. ___.; CIFALI, Ana Cláudia. Segurança pública, política criminal e punição no Brasil nos governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2014): mudanças e continuidades. In: SOZZO, Máximo (Org.). Pós-neoliberalismo e penalidade na América do Sul. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2017. ___.; NASCIMENTO, Andréa Ana do. Desafios da reforma das polícias no Brasil: Permanência autoritária e perspectivas de mudança. Civitas, Porto Alegre, v. 16, n. 4, p. 653674, out./dez. 2016. BANDEIRA, Lourdes. Três décadas de resistência feminista contra o sexismo e a violência feminina no Brasil: 1976 a 2006. Revista Sociedade e Estado, v. 24, n. 2, p. 401438, Brasília, maio/ago, 2009. BARATTA, Alessandro. Observaciones sobre las funciones de la cárcel en la producción de las relaciones sociales de desigualdad. Tradução de Juan Guillermo Sepúlveda A. Nuevo Foro Penal. n.15, p. 737-749, Bogotá: jul./set. 1982b. BATISTA, Nilo. Crítica do Mensalão. Rio de Janeiro: Revan, 2015. ___. Merci, Loïc!. In: BATISTA, Vera Malaguti (Org.). Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro: Revan, 2012. BATISTA, Vera Malaguti (Org.). Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro: Revan, 2012. ___. Difíceis ganhos fáceis: drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Revan, 2003. ___. O Alemão é muito mais complexo. Rev. Justiça e Sistema Criminal, Curitiba, v. 3, n. 5, p. 103-125, jul/dez. 2011. Disponível em: . Acesso em: 12 ago. 2018. ___. O Tribunal de Drogas e o Tigre de Papel. Revista de Estudos Criminais. Porto Alegre, v. 4, p. 108-113, 2001. BATTIBUGLI, Thaís. A Formulação de Nova Agenda para a Segurança Pública: As Iniciativas Federais e sua Influência na Política Pública de Segurança Paulista. Revista Estudos de Politica, v. 1, p. 50-73, 2012. BIRMAN, Joel. Responsabilidade moral e criminalização na formação social neoliberal. In: BATISTA, Vera Malaguti (Org.). Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro: Revan, 2012.
332 BOITEUX, Luciana; PÁDUA, João Pedro. A desproporcionalidade da lei de drogas: Os custos humanos e econômicos da atual politica no Brasil. CEDD - Coletivo de Estudos Drogas e Direito, 2013. Disponível em: . Acesso em: 23 set. 2017. BOTELHO, Maurílio Lima; BARREIRA, Marcos. A implosão do “pacto social” brasileiro. Blog Junho. Disponível em: . Acesso em: 03 ago. 2016 BRAGA, Ruy Braga. Apresentação. In: BRAGA, Ruy Braga; OLIVEIRA, Francisco de; BRASIL. Decreto n. 4.388, em 25 de setembro de 2002. Promulga o Estatuto de Roma
do
Tribunal
Penal
Internacional.
2002.
Disponível
em:
. Acesso em: 23 jan. 2018. BRASIL. Decrelo Lei n. 3689, de 3 de Outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio
de
Janeiro,
1941.
Disponível
em:
. Acesso em: 20 jan. 2018. BRASIL. Lei n. 9.099/95, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Brasília, 1995. BRASIL.
Lei
13.260,
de
16
de
Março
de
2016.
.
Disponível
em:
. Acesso em: 12 jun. 2018. BRASIL. Ministério da Defesa. Portaria Normativa n. 3461. Dispõe sobre a publicação
“Garantia
da
Lei
e
da
Ordem”.
20
dez.
2013.
Disponível
em:
. Acesso em: 10 ago. 2018. BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Rio de Janeiro, 1940. BUSATO, Paulo César (Org.). Lei Antiterror anotada: Lei 13.260 de 16 de março de 2016. Indaiatuba/SP: Editora Foco, 2018. CAMPO, Fábio Antonio de. Imperialismo e herança mercantil na industrialização brasileira. In: FILHO, Paulo Alves de Lima; NOVAES, Henrique Tahan; MACEDO, Rogério Fernandes (Org.). Movimentos sociais e crises contemporâneas à luz dos clássicos do materialismo crítico. Uberlândia: Navegando Publicações, 2017.
333 CARDOSO, Bruno de Vasconcelo. Megaeventos esportivos e modernização tecnológica: planos e discursos sobre o legado em segurança pública. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 19, n. 40, p. 119-148, jul./dez. 2013. Disponível em: . Acesso em: 15 mar. 2017. CARVALHO, Salo de. Antimanual de Criminologia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. ___. Política de Guerra às Drogas na América Latina entre o direito penal do inimigo e o estado de exceção permanente. Revista Crítica Jurídica, n. 25, p. 253-267, jan/dez. 2006. CASTELO, Rodrigo. O canto da sereia: social-liberalismo, novo desenvolvimentismo e supremacia burguesa no capitalismo dependente brasileiro. Revista em Pauta. Revista da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 1. sem. – n. 31, v. 11, p. 119-138, 2013a. ___. O novo desenvolvimentismo e a decadência ideológica do pensamento econômico brasileiro. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 112, p. 613-636, out./dez. 2012. ___. O social liberalismo: auge e crise da supremacia burguesa na era neoliberal. São Paulo: Expressão Popular, 2013b. ___. Subdesenvolvimento, capitalismo dependente e revolução: Florestan Fernandes e a crítica da economia política desenvolvimentista. Disponível em: . Acesso em: 27 jun. 2017. CASTRO, Lola Aniyar. Criminologia da Libertação. Rio de Janeiro: Revan, 2005. CASTRO, Lola Aniyar. Criminologia da Reação Social. Tradução de Ester Kosovski. Rio de Janeiro: Forense, 1983. CERQUEIRA, Daniel; COELHO, Danilo Santa Cruz. Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados de saúde. Nota Técnica, IPEA, n. 11, Brasília, mar. 2014. CHARLEAUX, João Paulo. Qual o balanço da missão no Haiti. Nexo Jornal. 25 abr. 2017. Disponível em: . Acesso em: 09 jul. 2018. CHERNICHARO, Luciana Peluzio. Sobre mulheres e prisões: seletividade de gênero e crime de tráfico de drogas no Brasil, 2014. 160 f. Dissertação (Mestrado em Direito) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. CHESNAIS, François. Mundialização: o capital financeiro no comando. Revista Outubro, n.05. São Paulo: Instituto de Estudos Socialistas, 2001.
334 CISNE, Mirla. Feminismo e consciência de classe no Brasil. São Paulo: Cortez, 2014. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Novo diagnóstico de pessoas presas no Brasil.
Brasília/DF,
jun.
2014.
Disponível
em:
.
Acessado em: 10 jun. 2017. CRUZ, Elaine Patrícia. Crimes de Maio causaram 564 mortes em 2006; entenda o caso.
Agência
Brasil.
12
maio.
2016.
Disponível
em:
. Acesso em: 13 ago. 2018. DAVIS, Angela. A democracia da abolição: para além do império das prisões e da tortura. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009. DAVIS, Angela. As Mulheres Negras na Construção de uma Nova Utopia. 1997. Geledés, São Paulo: jul. 2011. Disponível em: . Acesso em: 20 nov. 2017. ___. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016. ___.; DENT, Gina. A prisão como fronteira: uma conversa sobre gênero, globalização e punição. Revista Estudos Feministas, Florianópolis v. 11, n. 2, p. 523-531, jul/dez. 2003. Disponível
em:
026X2003000200011>. Acesso em: 10 out. 2017. DEPARTAMENTO Penitenciário
Federal
PENITENCIÁRIO 2016,
2ª
NACIONAL. edição.
Anuário
2017.
do
Disponível
Sistema em:
. Acesso em: 05 maio. 2017. DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN MULHERES, 2ª edição. Brasília, 2017. 79 p. Disponível
em:
. Acesso em: 12 jan. 2018. DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN, junho 2014. Brasília, 2014. 148 p. Disponível em:
feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018.
335 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN, Atualização, junho 2016. Brasília, 2016. 65 p. Disponível
em:
nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2018. DEVULSKY, Alessandra. Estado, racismo e materialismo. In: SEREZA, Haroldo Ceravolo (Org.). Revista Margem Esquerda - Dossiê marxismo e questão racial, n.27. São Paulo: Boitempo, 2016. DUARTE, Evandro Piza. Editorial: direito penal, criminologia e racismo. Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 135. ano 25. p. 17-48. São Paulo: Ed. RT, set. 2017. ___. Paradigmas em Criminologia e Relações Raciais. Cadernos do CEAS: Revista crítica de humanidades, Salvador, n. 238, p. 500-526, 2016. DUSSEL, Enrique. 1492: O encobrimento do outro. A origem do mito da modernidade. São Paulo: Vozes, 1993. ESTADÃO. Brasil tem 1 denúncia de violência contra mulher a cada 7 minutos. 7 mar. 2017. Disponível em: <>. Acesso em: 10 jun. 2017. FARIA, Arthur Augusto Groke. Críticas à política criminal de drogas no Brasil: Análise Da Lei 11.343/06, seus dispositivos e sua aplicação nas Varas Criminais de Jataí-GO. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Direito) - Universidade Federal de Goiás, Jataí, 2018. FERNANDES, Florestan. Mudanças sociais no Brasil. São Paulo: Global, 2008. ___. O que é Revolução. Clássicos sobre a Revolução Brasileira. São Paulo: Expressão Popular, 2007. ___. O negro no mundo dos brancos. São Paulo: Global, 2007a. FIORE, Maurício. Posicionamento da PBPD sobre a adoção de critérios objetivos para
diferenciar
uso
e
tráfico
de
drogas.
Disponível
em:
. Acesso em: 04 jan. 2018. FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Apresentação. In: ALEXANDER, Michele. A nova segregação. Racismo e encarceramento em massa. São Paulo: Boitempo, 2017. ___. Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado Brasileiro. 2006. 145 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de Brasília, Brasília, 2006. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação: Cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Editora Unesp, 2000.
336 FREIRE, Paulo Pedagogia da Esperança: um encontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. FREITAS, Felipe da Silva. Novas perguntas para criminologia brasileira: Poder, racismo e direito no centro da roda. Cadernos do CEAS: Revista crítica de humanidades. Salvador, v. 1, n. 238, p. 488-499, 2016. FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 8 ed. São Paulo: Editora Nacional, 1968. GELEDES. Fundação cultural celebra 27 anos de cultura afro-brasileira lançando o Diálogo Palmares. 25 ago. 2018. Disponível em:
Rede
Brasil
Atual.
23
jul.
2013.
Disponível
em
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Tradução de Berilo Vargas. 2 ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. HARVEY, David. O Neoliberalismo: história e implicações. Tradução de Adail Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Loyola, 2008. HIRATA, Helena. Divisão capitalista do trabalho. Tempo Social, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 73-103, USP. 1989. ___. Gênero, classe e raça: interseccionalidade e consubstancialidade das relações sociais. Tempo Social, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 61-73, jun. 2014. IANNI, Octavio et al. O negro e o socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005. ___. Pensamento social no Brasil. Bauru: EDUSC, 2004. IBCCRIM. 16 medidas legislativas contra o encarceramento em massa. Disponível em: . Acesso em: 03 jan. 2018. ILANUD. Relatório final de pesquisa a lei de crimes hediondos como instrumento de política criminal. São Paulo, jul. 2005.
337 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. PNAD Contínua 2016: 51% da população com 25 anos ou mais do Brasil possuíam apenas o ensino fundamental completo. Agência IBGE notícias. 21 dez. 2017. Disponível em: . Acesso em: 24 jul. 2018. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. População chega a 205,5 milhões, com menos brancos e mais pardos e pretos. Agência IBGE notícias. 24 nov. 2017. Disponível em: <>. Acesso em: 24 jul. 2018. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sistema nacional de estatística de segurança pública e justiça criminal – SINESPJC. Disponível em: . Acesso em: 11 ago. 2018. INSTITUTO SOU DA PAZ. Rede Justiça Criminal. Sumário Executivo das Pesquisas sobre Prisão Provisória. Fascículo 3: Drogas e Prisão Provisória. ago. 2013. 19 p. Disponível
em:
. Acesso em: 24 abr. 2017. INSTITUTO SOU DA PAZ. Relatório da Pesquisa Prisões em flagrante na cidade de
São
Paulo.
São
Paulo,
jun.
de
2012.
Disponível
.
em: Acesso
em: 16 maio. 2017. ITURRALDE, Manuel. O governo neoliberal da insegurança social na América Latina: semelhanças e diferenças com o Norte Global. In: BATISTA, Vera Malaguti (Org.). Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro: Revan, 2012. JESUS, Maria Gorete Marques de et al. Prisão Provisória e Lei de Drogas – Um estudo sobre os flagrantes de tráfico de drogas na cidade de São Paulo. São Paulo: Núcleo de Estudos
da
Violência,
2011.
Disponível
em:
. Acesso em: 13 abr. 2017. JUNIOR, Armando Boito. As bases políticas do neodesenvolvimentismo. Trabalho apresentado na edição de 2012 do Fórum Econômico da FGV / São Paulo. Disponível em:
338 %20-%20Boito%20-%20Bases%20Pol%20Neodesenv%20-%20PAPER.pdf>. Acesso em: 17 out. 2017. JUNIOR, Aury Lopes. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2018. KERGOAT, Danièle. Dinâmica e consubstancialidade das relações sociais. Revista Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, n. 86, p. 93-103, mar. 2010. LEFEBVRE, Henri. Marxismo. Tradução de William Lagos. Porto Alegre: L&PM, 2009. LIMA, Fernanda da Silva; MIRANDA, Carlos Diego Apoitia. O encarceramento feminino e a política nacional de drogas: a seletividade e a mulher negra presa. In: XIII Seminário Nacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea e III Mostra Nacional de Trabalhos Científicos, 2017, Santa Cruz do Sul. Anais, v. 1. p. 1-20. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2017. LOMBROSO, Cesare. O homem delinquente. Trad. Sebastião José Roque. São Paulo: Ícone, 2007. LYRA FILHO, Roberto. Criminologia dialética. Rio de Janeiro: Borsoi, 1972. BENITEZ Martins, Carla. O (des)controle social do capital: contribuições para uma análise dialética da criminalização da juventude popular brasileira. 2011. 471 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. MARTINS, Helena. Número de assassinatos de travestis e transexuais é o maior em 10
anos
no
Brasil.
Agência
Brasil.
25
jan.
2018.
Disponível
em:
. Acesso em: 23 jun. 2018. MARX, Karl. “Prefácio da 2ª edição de O capital”. In: O Capital: crítica da economia política. Tradução de Reginaldo Sant’Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, vol. I, 2006. ___. Contribuição à crítica da economia política. Tradução de Florestan Fernandes. São Paulo: Expressão Popular, 2008. ___. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2011. ___. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Martin Claret, 2001. MELLO, Eduardo Granzotto. A formação do subsistema penal federal no período dos governos Lula e Dilma (2003-2014). 2015. Dissertação (Mestrado em Direito) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.
339 MELLO, Marília Montenegro Pessoa de; MEDEIROS, Carolina Salazar l’Armée Queiroga de. O que vale a pena? O impacto da lei maria da penha no encarceramento de “agressores” e seus efeitos colaterais sobre a mulher vítima de violência doméstica e familiar. In: CONPEDI; UFPB (Org.). Criminologias E Política Criminal I: Xxiii Congresso Nacional do Conpedi. 1ed. v. 1, p. 447-469. João Pessoa: CONPEDI, 2014. MELOSSI, Dario. Discussão à guisa de prefácio. Cárcere, pós-fordismo e ciclo de produção da ‘canalha’. In: GIORGI, Alessandro De. A miséria governada através do sistema penal. Rio de Janeiro: Revan/Instituto Carioca de Criminologia, 2006. MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e fábrica: as origens do sistema penitenciário (século XVI-XIX). Rio de Janeiro: Revan/Instituto Carioca de Criminologia, 2006. MENEGAT, Marildo. Estudo sobre ruínas. Rio de Janeiro: Revan/Instituto Carioca de Criminologia, 2012. ___. O sol por testemunha. In: BATISTA, Vera Malaguti (Org.). Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro: Revan, 2012. MÉSZÁROS, István. A montanha que devemos conquistar: reflexões acerca do Estado. Tradução de Maria Izabel Lagoa. 1.ed. São Paulo: Boitempo, 2015. ___. A teoria da alienação em Marx. Tradução Isa Tavares. São Paulo: Boitempo, 2006. ___. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. Tradução Paulo Cezar Castanheiras e Sérgio Lessa. São Paulo: Boitempo, 2002. MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI. Flavia. Feminismo e política: uma introdução. São Paulo: Boitempo, 2014. MINISTÉRIO DA CULTURA. Estatuto da Igualdade Racial completa sete anos. Disponível
em:
content/estatuto-da-igualdade-racial-completa-sete-anos/10883>. Acesso em: 13 jun. 2018. MONTENEGRO, Marília. Lei Maria da Penha: uma análise criminológico-crítica. Rio de Janeiro: Revan, 2015. MOTTA, Felipe Heringer Roxo da. Quando o crime compensa: relações entre o sistema de justiça criminal e o processo de acumulação do capital na economia dependente brasileira. 2015. 274 f. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015. MOURA, Clóvis. Dialética Radical do Brasil Negro. São Paulo: Editora Anita, 1994. ___. História do Negro Brasileiro. São Paulo: Editora Atica, 1992.
340 NASCIMENTO, Abdias do; NASCIMENTO, Elisa Larkin. Dança da decepção. Uma leitura das relações raciais no Brasil. In: WRIGHT, Lynn Walker et al (Org.). Beyond racism: Embracing na interdependente future. v. 4. Atlanta: Southern Education Foundation, 2000. ___. O genocídio do negro brasileiro: processos de um racismo mascarado. Editora Perspectiva S/A, 2016. NASCIMENTO, Elisa Larkin. Posfácio. In: NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processos de um racismo mascarado. Editora Perspectiva S/A, 2016. NEDER, Gizlene et al (Coord.). Os estudos sobre a escravidão e as relações entre a História e o Direito. Tempo, vol. 3, n. 6, dez. 1998. ___. Nota introdutória à edição brasileira. In: RUSCHE, Georg. KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social. Tradução de Gizlene Neder. Rio de Janeiro: Revan, 2004. ___.; FILHO, Gisálio Cerqueira. “Punir os pobres: óbvio ululante! Ou não? Sociologia Crítica da ‘Onda Punitiva”. In: BATISTA, Vera Malaguti (Org.). Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro: Revan, 2012. NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Rio de Janeiro: Forense, 2017. OLIVEIRA, Dennis de. Dilemas da luta contra o racismo no Brasil. Revista Margem Esquerda, n. 27. São Paulo: Boitempo, 2016. OLMO, Rosa del. A face oculta da droga. Tradução: Teresa Ottoni. Rio de Janeiro: Revan, 1990. PACHUKANIS, Evgeny Bronislavovich. Teoria geral do direito e marxismo. São Paulo: Acadêmica, 1988. PASINATO, Wânia. Delegacias de Defesa da Mulher e Juizados Especiais Criminais: mulheres, violência e acesso à justiça. Revista Plural, 12, p. 79-102. 2005. PAULANI, Leda Maria. A crise do regime de acumulação com dominância da valorização financeira e a situação do Brasil. Estudos Avançados, v. 23, n. 66, p. 25-39, São Paulo, 2009. PAULANI, Leda Maria. Capitalismo financeiro, estado de emergência econômico e hegemonia às avessas no Brasil. In: BRAGA, Ruy Braga; OLIVEIRA, Francisco de; RIZEK, Cibele (org). Hegemonia às avessas: economia, política e cultura na era da servidão financeira. São Paulo: Boitempo, 2010. ___.O Brasil na crise de acumulação financeirizada. In: Publicação em Anais do IV Encuentro Internacional Economía Política y Derechos Humanos. Universidad Popular
341 Madres de Plaza de Mayo – CEMOP (Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas), 2010. PAVARINI, Massimo. Control y dominación: teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2002. PELLEGRINI, Marcelo. Violência: Brasil mata 82 jovens por dia. Carta Capital. 2014. Disponível em: . Acesso em: 13 jun. 2017. PINHEIRO, Fabiana de Assis. Juizado Especial Criminal: do discurso jurídico penal à operacionalidade do sistema penal. Sistema Penal e Violência, Porto Alegre, v. 2, n.2, p. 90103, jul./dez. 2010. ___. Juizado Especial Criminal: do discurso jurídico penal à operacionalidade do sistema penal. In: Sistema Penal e Violência, Porto Alegre, v. 2, n. 2, p. 90-103. jul/dez. 2010. PLATAFORMA BRASILEIRA DE POLÍTICA DE DROGAS. Posicionamento do PBPD sobre a adoção de critérios objetivos para diferenciar uso e tráfico de drogas. Edição: Coordenação Científica da PBPD (Maurício Fiore). 2016. 7 p. Disponível em: . Acesso em: 18 abr. 2017. PRADO, Eleutério. Desmedida do valor: crítica da pós-grande indústria. São Paulo: Xamã, 2005. QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder y clasificación social. Journal of worldsystems research, p. 342-386, v. 2, summer/fall. 2000. ___. Dom Quixote e os moinhos da América Latina. Estudos Avançados. Revista do IEA/USP, Dossiê América Latina, v. 19 (55). 2005. RAMOS, Beatriz Vargas. O “mau uso” da norma penal: O processo e as prisões de integrantes do MST reabrem discussão sobre questões de grande interesse público, pela importância que possuem para o sistema de justiça criminal e para os movimentos sociais. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 26 ago. 2016. Disponível em: . Acesso em: 25 jan. 2018. RAMOS, Luciana de Souza. Por amor ou pela dor? Um olhar feminista sobre o encarceramento de mulheres por tráfico de drogas. 2012. 126 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de Brasília, Brasília, 2012.
342 REDE JUSTIÇA CRIMINAL. Agenda prioritária para 2016. Disponível em: . Acesso em: 10 jun. 2017. ___.
Disponível
em:
. Acesso em: 10 jun. 2017. ___. O silêncio eloquente sobre as mulheres no Infopen. 2016. Disponível em: . Acesso em: 10 jun. 2017. Revista Estudos de Política, Campina Grande, v. 1, n. 2, p. 50-73. 2012. Disponível em: . Acesso em: 17 mar. 2017. RIBEIRO, Darcy. Os Brasileiros: 1.Teoria do Brasil. 4 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1978. RIZEK, Cibele (org). Hegemonia às avessas: economia, política e cultura na era da servidão financeira. São Paulo: Boitempo, 2010. RODRIGUES, Alexandre Bem; MADEIRA, Lígia Mori. Novas bases para as políticas públicas de segurança no Brasil a partir das práticas do governo federal no período 20032011. Rev. Administração Pública. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, v. 17, p. 3-21, jan./fev. 2015. Disponível em: . Acesso em: 15 mar. 2017. ROMÃO, Luiza. Sangria. SP: Doburro, 2017. ROORDA, João Guilherme Leal. Criminologia, Direito Penal e História: possibilidades de entrecruzamentos à luz do controle social da vadiagem no início do século XX. Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal – UFRGS, p 21-34, v. 4, n. 1. 2016. ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos. Florianópolis: Empório do Direito, 2016. RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social. Tradução de Gizlene Neder. Rio de Janeiro: Revan, 2004. SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Expressão Popular: Fundação Perseu Abramo, 2015. SAMPAIO JÚNIOR, Plinio de Arruda. Crônica de uma crise anunciada: crítica à economia política de Lula e Dilma. São Paulo: SG-Amarante Editorial, 2017.
343 SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia Radical. Rio de Janeiro: Forense, 1981. ___. Prefácio à edição brasileira. In: MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e fábrica: as origens do sistema penitenciário (séculos XVI – XIX). Rio de Janeiro: Revan, 2006. SCHWARCZ, Lilia Moritz. Usos e abusos da mestiçagem e da raça no Brasil: uma teoria das teorias raciais em finais do século XIX. Afro-Ásia, p. 77-101, v. 18. 1996. ___. Raça sempre deu o que falar. In: FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. São Paulo: Global, 2007. SERRETTI, André Predrolli. Favelas pacificadas, operações garantia da lei e da ordem e a repressão de movimentos sociais: os perigos do legado do mundial da FIFA de 2014 à cultura de segurança pública brasileira. Revista Transgressões: Ciências criminais em debate,
v.
2,
n.
2,
p.
61-74,
dez.
2014.
Disponível
em:
. Acesso em: 07 ago. 2018. SINGER, André. Raízes sociais e ideológicas do lulismo. Revista Novos Estudos, n. 85, p. 83-102, nov. 2009. TERRA DE DIREITOS. Crime ou conflito? Usada contra o MST no Paraná, Lei de Organizações Criminosas permite juntar acusações e imputá-las a supostos líderes; prisões preventivas de sete militantes foram revogadas depois de mais de seis meses de cadeia. 08 jun. 2017. Disponível em:
344
ANEXO 1 MEMORIAL
Carla Benitez Martins Nas próximas páginas buscaremos resgatar os principais acontecimentos profissionais e acadêmicos que nos fizeram ingressar no Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás, bem como descreveremos as principais atividades desenvolvidas desde o nosso ingresso no Programa. *** Sem qualquer intenção sentimentalista ou autobiográfica, gostaríamos apenas de pontuar que o interesse pela temática da violência é bem antigo, desde o ensino médio, quando se tinha o desejo de ser jornalista e a responsabilidade pela seção “Cotidiano” no fanzine da escola, onde se concentravam as análises e notícias sobre violência. E talvez esta sensibilidade para o tema advenha da própria vivência na infância e, principalmente, adolescência por dentro da corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na qual meu pai é integrante, hoje oficial da reserva. Nestes anos todos pude experienciar o que é, subjetivamente falando, a militarização desses profissionais e de suas famílias. Apenas anos depois, com o distanciamento e a criticidade necessários, pude perceber a profundidade e sutileza da ode à ordem, à disciplina, à meritocracia, à hierarquia e submissão, aos símbolos, medalhas, a outros militares já mortos e tidos como “mártires”, a hinos, etc. *** Em 2004, ingressei no curso de Direito da Universidade Estadual Paulista, na cidade de Franca. Trata-se, dentre os campi da Universidade – espalhada pelo estado de São Paulo –, de um dos seus menores, com apenas quatro cursos: Direito, Serviço Social, História e Relações Internacionais.
345 As peculiaridades do próprio campus e a vida social e política de seus estudantes proporcionou-nos uma formação jurídica diferente. Desde o início de minha formação acadêmica, o atrelamento entre formação político-militante e jurídica foi inevitável e algumas experiências durante a graduação determinaram significativamente meus rumos profissionais. Em Franca, a vivência de movimento estudantil, ao menos à época, era um pouco diferente daquelas de outros centros universitários. Por lá, tínhamos uma década de consolidação de grupos de extensão baseados em educação popular, quais sejam: NEDA (Núcleo de Estudos de Direito Alternativo), GAPAF (Grupo de Alfabetização Paulo Freire) e NATRA (Núcleo Agrário Terra e Raiz). Fui integrante do NEDA em todos os anos da minha graduação e foi por meio deste grupo – e não pelas disciplinas curriculares da graduação – que tive acesso aos estudos sobre Teoria Crítica do Direito e que pude iniciar uma formação teórica minimamente orientada e aprofundada. Neste grupo, realizamos por anos uma experiência extensionista de organização popular no bairro sem nome, o “Prolongamento” do Jardim Santa Bárbara e lá pudemos confrontar, negar e recriar nossa concepção de direito. Outras experiências acompanharam esta jornada, como as tradicionais disputas de gestões de Centro Acadêmico, a construção da REPED (Rede Popular dos Estudantes de Direito), além da participação e organização do Curso Realidade Brasileira, sediado na Universidade, e que reunia estudantes e membros de movimentos sociais da região para estudar, por dois anos, os clássicos do pensamento social brasileiro. Entre os anos de 2006 e 2007 fui estagiária do Centro Jurídico Social (CJS) da Universidade, importante centro de atendimento psicosociojurídico à comunidade, composto por profissionais da área de psicologia, direito e serviço social e de estudantes das duas últimas áreas. Neste período, fui a estudante responsável pelo Projeto Cadeia, junto com uma parceira do serviço social. O projeto tinha atuação na Cadeia Feminina de Batatais, cidade vizinha a Franca, onde desenvolvíamos atendimentos e oficinas às mulheres em situação de prisão. Desde a minha avaliação, esta foi uma intervenção de “baixo” impacto social, mas de ímpar importância para minha formação humana e profissional. Ainda sobre a experiência estudantil, destacamos a realização de intercâmbio na Universidad Nacional de Córdoba, na Argentina. Trata-se de uma universidade histórica no país e que, assim como em todas as outras universidades públicas argentinas, possui uma intensidade de alunos e atividades bem distinta das brasileiras, isso pela própria caracterização de ingresso muito mais amplo ao ensino superior público argentino. Curiosamente, a minha primeira aproximação mais contundente com os estudos criminológicos e de infância e
346 juventude (inclusive estudos específicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro) se deram neste país. Ao retornar ao Brasil, sendo bolsista FAPESP, aprofundei os estudos sobre processos de criminalização na adolescência. Tive oportunidade de concretizar tal pesquisa no Trabalho de Conclusão de Curso, no qual realizei uma pesquisa de campo no programa de aplicação de medidas de semiliberdade da cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Naquela ocasião, entrevistei mais de quinze adolescentes que cumpriam a medida, além dos profissionais e idealizadores do programa e de membros do judiciário e Ministério Público. Por três meses realizei pesquisa com observação participativa e considero uma experiência de extrema relevância para minha formação profissional, uma vez que não há qualquer preparação, formação ou estímulo para pesquisa empírica no ensino jurídico. A experiência em questão foi baseada em busca autônoma e espontânea de materiais que fundamentassem a minha atuação, bem como por meio de diálogo com profissionais de outras áreas do conhecimento. Para ser ainda mais precisa, o ensino jurídico, especialmente em Escolas tradicionais, é maçante, tecnicista, superficial, anti-teórico, conservador, alienante e não possui para a pesquisa um olhar atento e de importância, tornando-a protocolar e desestimulante. *** O meu ingresso no mestrado do Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina ocorreu em 2009, concomitantemente à conclusão da graduação. O motivo da minha e de tantas outras idas de colegas a Florianópolis foi justamente a expectativa, diante das leituras que fazíamos na graduação, de que ali estivessem boa parte das principais representações nacionais de renovação crítica do direito. Qual não foi nossa surpresa ao perceber que alguns se acomodaram às torres de marfim da universidade ou à bolha de privilégios que é o Judiciário brasileiro e que outros se tornaram empresários ricos do mercado educacional. Porém, ali um grupo de estudantes, de uma mesma geração, identificaram-se na necessidade de tomar para si a continuidade da renovação crítica da teoria do Direito e, mais do que isso, de uma prática coerente e consistente, seja na assessoria jurídica popular, seja na docência e nas lutas pela Universidade pública, de qualidade e socialmente referenciada e por um ensino jurídico crítico, seja em outros espaços de atuação institucionais e junto aos movimentos sociais populares.
347 A experiência da representação discente no Colegiado do Programa da Pós Graduação foi um desses momentos de identificação e diálogo entre estes estudantes, dentre os quais me incluo. Nesta jornada por Florianópolis, penso ser fundamental o destaque do contato e proximidade com a Professora Vera Regina Pereira de Andrade, uma das mais importantes representantes históricas da criminologia crítica brasileira, com quem tive a oportunidade de cursar disciplinas, realizar o estágio de docência na disciplina de Criminologia – constatando a necessidade de se insurgir contra o lugar de subalternidade da criminologia no ensino das ciências criminais no Brasil e, dentro disso, de uma invisibilidade ainda maior da criminologia crítica – e tê-la como importante interlocutora e membra de minha banca de defesa da dissertação, juntamente com meu orientador – também importante interlocutor e inspiração para a professora de Direito Processual Penal que depois me tornei – e o por mim muito respeitado Professor Juarez Cirino dos Santos, quem introduziu a ideia da Criminologia radical no Brasil, um dos mais importantes autores na área desde o campo do marxismo. Foi durante o mestrado meu principal momento de imersão teórica, seja com os autores do campo marxista mais amplo, seja com os estudos criminológicos críticos. A dissertação “O (des)controle social do capital: contribuições para uma análise dialética da criminalização da juventude popular brasileira” foi resultado dessa importante etapa de amadurecimento intelectual. Na dissertação busquei realizar uma análise criminológica crítica-dialética a fim de captar os papeis da Justiça Juvenil e sua relação com o processo de criminalização da juventude popular brasileira. Intencionou-se, primeiramente, aprofundar as reflexões acerca da categoria “controle social”, qualificando-a enquanto controle social do capital, buscando compreender as reconfigurações produtivas do capital e, especialmente, os fatores que induzem ao entendimento de que se alcançou um patamar de crise estrutural do sistema. Diante disso, buscou-se analisar a fase neoliberal e suas nuances mais evidentes de deslocamentos do controle social do capital. Isso tudo com o fim de se investigar o recrudescimento do controle sociopenal nessa etapa histórica, considerando-o um dos sintomas desse quadro mais geral de crise e tentativas insuficientes de expansão e hegemonia do capital. Por fim, com este acúmulo, buscou-se captar as diferentes formas de controle social de crianças e jovens pobres na história brasileira, relacionando as instituições jurídicas e as opções legislativas em cada período, bem como as concepções infanto-juvenis que tais organismos expressam e o movimento da sociedade para suas superações positivas. Por fim, analisou-se o discurso moralizante e repressivo na prática da Justiça Juvenil, com enfoque na
348 análise da natureza jurídica das medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, se eminentemente pedagógicas ou com fortes resquícios tutelares, concluindo pela última hipótese e apontando para a importância do debate do que seria um direito infracional, que superasse de fato a lógica punitivista. Ademais, em Florianópolis também pude participar da construção da Brigada Mitico, a primeira brigada urbana do MST no país. Uma experiência riquíssima e dentro da qual articulamos o Coletivo Juristas Populares, um coletivo mais amplo de todas e todos aqueles que atuavam com a advocacia popular na cidade, no sentido de se constituir uma rede de intervenções e formulações conjuntas e mais fortalecidas. *** Bastante naquele espírito do diálogo entre os estudantes da UFSC, insatisfeitos com a parada no tempo ou mesmo o retrocesso – para não dizer traição – de alguns dos nossos referenciais teóricos da crítica do direito e, muito mais do que isso, com a latente preocupação de articular experiências dos núcleos de assessorias jurídicas populares espalhadas pelo país e de outras atuações em grupos de estudos e articulações na pesquisa e extensão junto a movimentos sociais populares, é que se empenhou, com participação de pesquisadoresmilitantes dos quatro cantos do país, na fundação de um instituto de pesquisa contra hegemônico, o IPDMS, Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais. Tive o privilégio de participar de todas as etapas de constituição desta importante iniciativa. O Instituto se organiza regionalmente e por eixos temáticos, sendo eles: Assessoria jurídica popular, educação jurídica e educação popular; Direito e marxismo; Teorias críticas, América Latina e epistemologias do sul; Povos e comunidades tradicionais, questão agrária e conflitos sócio-ambientais; Gênero e sexualidade; Direito e Cidade; Infância e Juventude; Criminologia crítica e movimentos sociais; Trabalho; Memória e Verdade; Questão racial; Observatório do sistema de justiça, de políticas públicas e do legislativo e Observatório da mídia, direitos e políticas de comunicação. Por alguns anos coordenei o Grupo de Trabalho em Criminologia Crítica e atualmente componho a Secretaria Nacional do Instituto, juntamente com mais quatro pessoas: Luiz Otávio Ribas, Ana Lia Almeida, Mara Carvalho e Moisés Soares.
349 O Instituto também organiza a Revista InSURgência 43, na qual participo como parecerista em sua última edição e estoive como uma das coordenadoras do Dossiê “Crítica do controle socio-penal na América Latina e a construção de alternativas e resistências” da segunda edição da Revista de 2017. *** Em junho de 2011 defendi a dissertação e concluí o mestrado. Em Agosto deste mesmo ano tive minha primeira experiência profissional como docente no Centro Universitário Módulo, em Caraguatatuba. Como são as experiências profissionais em universidades particulares, plenas de contradições, tirei dali uma infinidade de aprendizados. Como professora horista, completava de trinta a quarenta horas em sala de aula, lecionando especialmente Direito Processual Penal, mas também uma série das disciplinas ditas “propedêuticas”, tais como Sociologia e Antropologia jurídica, Teoria Geral do Estado e outras. Por um lado, por ainda ser uma instituição de pequeno porte, ainda que estivesse em processo de fusão com um dos grandes conglomerados do mercado da educação, tínhamos relativa autonomia em sala de aula, porém sem qualquer voz para pensar o perfil do curso, a realização de outras atividades, especialmente se exigissem gastos financeiros. Pude perceber a lógica empresarial impregnada mesmo em uma instituição de ensino pequena de uma cidade pacata. Na relação pedagógica, uma enxurrada de desafios, desde o difícil processo de convencimento das e dos estudantes que o estudo do direito pode ir muito além da captação manualesca e alienante do complexo que é o fenômeno jurídico, até as próprias dificuldades de base formativa e de tempo para dedicação (maioria de estudantes trabalhadores). Ali descobri o que é ser professora, com suas agruras, olheiras e alegrias. No ensino jurídico – como um reflexo das deficiências com o ensino teórico denso e do descaso com a pesquisa – também não há qualquer preocupação com a formação na docência. Aprendi na dor e nas falhas. Há alguns anos optei por ser pesquisadora e docente e isso me gerou e ainda gera uma série de necessárias explicações dos motivos desta escolha. Isso porque falar na escolha da docência como exercício profissional por excelência soa com estranheza entre juristas.
43 Para acessá-la: http://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia
350 Existem muitos desembargadores que dão aula, advogados que dão aula, importantes procuradores que ministram uma ou outra disciplina por hobby, e assim vai. Esta ressalva não pretende rejeitar a importância da prática nestes outros exercícios profissionais e a importância de seu compartilhamento no ensino, mas sim criticar veementemente a negligência com a formação pedagógica e com a importância de dedicações, se não exclusivas, ao menos centrais, de profissionais que se reivindiquem como professores em direito. *** Lecionei no Centro Universitário Módulo, em Caraguatatuba, de agosto de 2011 a setembro de 2012. Em março de 2012 fui aprovada no concurso público para professora efetiva, em regime de dedicação exclusiva, no curso de direito da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Fui nomeada em outubro de 2012, quando tomei posse, logo após uma histórica greve da educação federal. Ser professora em um curso recém-criado, fruto do REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), no interior do país, significa uma necessidade de dedicação e entrega para além da média. O curso por alguns anos teve deficiências de estrutura e de recursos humanos que praticamente inviabilizavam o seu funcionamento. Foi preciso muita dedicação, produção de documentos, negociação com órgãos superiores, para que o curso pudesse funcionar. Isso significou uma sobrecarga de tarefas administrativas nos primeiros anos em Jataí. Mas costumo dizer que nossa atuação na Universidade tem mais suportes que o tripé ensino-pesquisa-extensão, pois somos coletivamente responsáveis pela definição do perfil do curso, de cada um dos seus passos e definições e isso demanda um comprometimento com a administração da coisa púbica. Ademais, outro pilar que considero fundamental é a luta por uma Universidade pública, gratuita, de qualidade, verdadeiramente universal e que produza conhecimentos socialmente referenciados. Isso significa travar batalhas nos espaços e órgãos da Universidade e, principalmente, construir e fortalecer a atuação sindical, o que no campo dos professores e, especialmente na realidade goiana, é desafiante, seja pelas acomodações e estranhamentos da classe – que muitas vezes não se enxerga como trabalhadora ou não assume para si a responsabilidade pela luta por não retrocessos e contra o sucateamento da Universidade – seja pela existência de um combativo sindicato nacional (ANDES /SN) que tem sua atuação
351 prejudicada na Universidade Federal de Goiás pela atuação da Federação Proifes. O que poderia gerar um caloroso debate sobre modelos de atuação sindical e suas incidências concretas na realidade acaba por ser amortecedor de mobilizações, uma vez que se tem apelado pelo esvaziamento de espaços legítimos de debates, com a realização de Assembleias com votos por procuração e a adoção de consultas virtuais para temas de cunho político (e que, consequentemente, demandariam diálogo, contraponto e defesa de ideias). Da minha experiência docente em Jataí, destaco a construção, junto à Professora Helga Maria Martins de Paula, do projeto de extensão, que depois se fortalece e se compreende como Coletivo Libertárias. Arrisco-me a dizer que esta foi a primeira experiência extensionista na Regional não calcada em uma concepção assistencialista, mas sim de educação popular, ou seja, uma práxis dialógica com setores oprimidos e explorados que visa o fortalecimento da auto-organização e negação das correntes que os oprimem. O grupo teve uma atuação importante em mobilizações internas à Universidade, com campanhas sobre o estupro e sobre o assédio de professores a alunas e técnicas administrativas, além da organização de debates, cine-debates e oficinas. Na cidade, o grupo organizou duas edições da Marcha das Vadias, pautando o debate da violência contra a mulher no município com o segundo maior índice de violência doméstica do estado. No último período, o grupo organizou atividades junto às mulheres em situação de prisão, ainda que com percalços, pois a imposição de limitações e mesmo interrupções de projetos como este por parte da administração penitenciária acaba se tornando mecanismo de controle e imposição de punições para suposta garantia da ordem do ingovernável. *** Após dois anos de intensa vida universitária em Jataí, buscou-se retomar a centralidade na importância de aprofundar minhas imersões teóricas e buscar meios de dar continuidade ao meu processo de qualificação. Assim, durante o ano de 2014 realizei disciplinas como aluna especial na pós-graduação em Direito na UNB e me preparei para seleção do doutorado naquela Universidade e no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFG, no qual fui aprovada e iniciei meus estudos de doutoramento no início de 2015. A escolha pelo Programa passou, por um lado, pela viabilidade de qualificação, diante das distâncias geográficas e, por outro, pela percepção da oportunidade de um grande crescimento intelectual/profissional ao poder tomar contato mais diretamente com os estudos sociológicos.
352 Penso que, tal como afirmado no primeiro capítulo desta tese, existe ainda um vácuo, no Brasil, entre os estudos que se autodenominam como criminológicos críticos e os que se entendem como da área da sociologia da violência. Penso que a principal diferenciação está nas áreas específicas de atuação destes pesquisadores – dentro de uma academia segmentada e pouquíssimo interdisciplinar – do que propriamente nos seus objetos e conteúdos teóricos. No Brasil, temos importantes teóricos no campo da criminologia crítica, a maioria que assim se denominam ainda com a formação, ao menos a primária, na área jurídica. Estes pesquisadores e militantes buscam se reunir e articular suas pesquisas, seja em Encontros dos grupos de pesquisa em criminologia crítica espalhados pelas universidades do país, seja em espaços como o do IPDMS que descrevi acima. Nestas oportunidades, muito se discute sobre as características deste campo do saber, sobre o papel da criminologia no ensino jurídico, sobre os desafios de se romper com o senso comum criminológico que pauta a atuação punitivista da maioria dos profissionais do Sistema de Justiça Criminal e sobre quais deveriam ser – e se esta deve ser uma preocupação – as características de uma criminologia crítica brasileira. Neste mesmo sentido, também muito se debate acerca dos desafios de se fazer pesquisa empírica e pesquisa militante na área. Para mim, entendo que o maior contato entre os profissionais-militantes de ambas as áreas nos proporcionaria um salto amplo de qualidade teórica e de intervenção na realidade, diante da contribuição das e dos sociólogas(os), com suas bagagens teórica e metodológica. Bom, tudo isso para também dizer que não considero minha pesquisa ligada exclusivamente a um ou ao outro campo do saber e poder desenvolvê-la em um Programa de Pós-graduação em sociologia foi um importante desafio pessoal. No Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFG pude realizar diversas atividades de aperfeiçoamento acadêmico desde 2015, cursando disciplinas como Pensamento Social Brasileiro (Prof. Manuel Filho); Teoria Sociológica II (Prof. Dijaci Oliveira); Teoria Sociológica I (Prof. Flávio Sofiati); Métodos e Técnicas de Pesquisa (Prof. Ricardo Barbosa); Movimentos Sociais, Poder Político e Transformação Social (Prof. Nildo Viana), participando de eventos acadêmicos, compondo mesas redondas, desenvolvendo e apresentando trabalhos científicos. Por fim, destaco que estive afastada das atividades profissionais em Jataí, em licença para qualificação, de 12 de Abril de 2016 até 30 de Junho de 2018. Passei a residir em São Paulo em grande parte deste período, por motivações pessoais/familiares, mas também buscando aproveitar as oportunidades de aprimoramento intelectual que os importantes centros de estudos das universidades de São Paulo proporcionam.